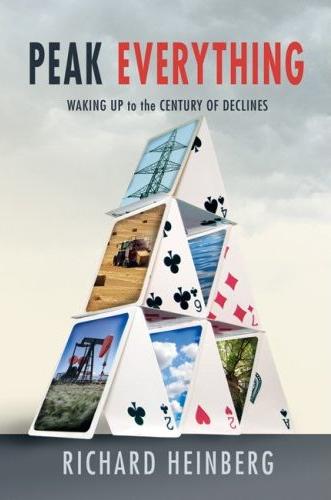O Pico de (quase) tudo
por Richard Heinberg
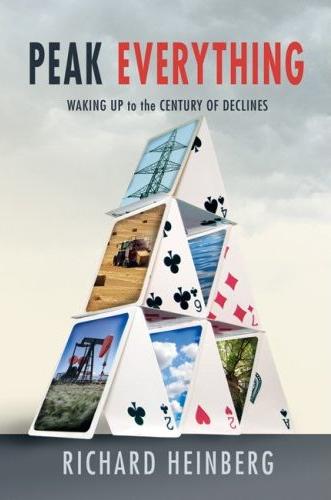 A expressão Pico do Petróleo entrou recentemente no léxico
global. Refere-se ao exacto momento em que o mundo atingirá o mais alto
valor possível da extracção de petróleo; daí
para a frente, por razões que se prendem principalmente com a geologia,
a quantidade de petróleo disponível para a sociedade, numa base
diária ou anual, começará a diminuir. Muitos dos analistas
bem informados concordam em que isso irá acontecer durante as
próximas duas ou três décadas; mas um número cada
vez maior acha que isso já está a acontecer agora – que a
produção convencional do petróleo atingiu o pico em
2005-2006 e que o fluxo de todos os hidrocarbonetos para o mercado,
considerados no seu conjunto, começará a diminuir por volta de
2010.
[1]
As consequências, quando começarem a acumular-se, deverão
ser graves: o mundo está totalmente dependente do petróleo para
os transportes, a agricultura, os plásticos e os produtos
químicos; portanto vai ser necessário um lento processo de
adaptação. Segundo um estudo recente patrocinado pelo governo
americano, se o pico ocorrer dentro em breve, é improvável que
apareçam substitutos com a rapidez e em quantidade suficientes para
evitar o que designa por impactos sociais, políticos e económicos
"sem precedentes".
[2]
A expressão Pico do Petróleo entrou recentemente no léxico
global. Refere-se ao exacto momento em que o mundo atingirá o mais alto
valor possível da extracção de petróleo; daí
para a frente, por razões que se prendem principalmente com a geologia,
a quantidade de petróleo disponível para a sociedade, numa base
diária ou anual, começará a diminuir. Muitos dos analistas
bem informados concordam em que isso irá acontecer durante as
próximas duas ou três décadas; mas um número cada
vez maior acha que isso já está a acontecer agora – que a
produção convencional do petróleo atingiu o pico em
2005-2006 e que o fluxo de todos os hidrocarbonetos para o mercado,
considerados no seu conjunto, começará a diminuir por volta de
2010.
[1]
As consequências, quando começarem a acumular-se, deverão
ser graves: o mundo está totalmente dependente do petróleo para
os transportes, a agricultura, os plásticos e os produtos
químicos; portanto vai ser necessário um lento processo de
adaptação. Segundo um estudo recente patrocinado pelo governo
americano, se o pico ocorrer dentro em breve, é improvável que
apareçam substitutos com a rapidez e em quantidade suficientes para
evitar o que designa por impactos sociais, políticos e económicos
"sem precedentes".
[2]
Este livro não é uma introdução ao tema do Pico do
Petróleo; há diversas obras que cumprem essa missão
(incluindo o meu livro
The Party's Over: Oil, War And The Fate Of Industrial Societies
 .
[3]
Em vez disso aborda o contexto social e histórico em que se situa este
acontecimento, e explora a forma como podemos organizar as nossas ideias e a
nossa acção em diversas áreas críticas de modo a
navegar melhor neste tempo tempestuoso.
.
[3]
Em vez disso aborda o contexto social e histórico em que se situa este
acontecimento, e explora a forma como podemos organizar as nossas ideias e a
nossa acção em diversas áreas críticas de modo a
navegar melhor neste tempo tempestuoso.
É necessário algum tempo e perspectiva para apreciar o nosso
contexto socio-histórico. Quando se confrontam pela primeira vez com o
Pico do Petróleo, a maior parte das pessoas tende a considerá-lo
como um mero problema isolado para o qual só há uma
solução – seja de natureza amiga-do-ambiente (mais energias
renováveis) ou o inverso (mais carvão). Mas uma reflexão e
estudo aprofundados tendem a esvaziar a viabilidade de tais
"soluções"; para já, quando se observa como
tão rapidamente o homem se tornou profundamente dependente da energia
barata e concentrada do petróleo e de outros combustíveis
fósseis, é difícil não deixar de concluir que
caímos na ratoeira do Dilema Ecológico Universal,
constituído pelos elementos interligados da pressão popular, do
esgotamento dos recursos e da destruição do habitat – e a
uma escala sem precedentes na história.
O petróleo não é o único recurso importante que
está em vias de se esgotar. Os leitores já familiarizados com a
literatura do Pico do Petróleo sabem que já foram atingidos os
picos da produção regional do gás natural e que, a curto
prazo, as consequências económicas das falhas de gás
deverão ser bem piores para os europeus e norte-americanos do que as do
petróleo. E embora se refira frequentemente que o carvão é
um combustível fóssil abundante, com reservas suficientes para
fornecer o mundo aos ritmos de utilização actuais durante mais
duzentos anos, um estudo recente que actualiza as reservas globais e as
previsões de produção chega à conclusão de
que a produção global do carvão atingirá o pico e
decairá dentro de dez a vinte anos.
[4]
Como os combustíveis fósseis representam cerca de 85 por cento
da energia total mundial, os picos destes combustíveis garantem que, na
prática, o fornecimento mundial de energia começará a
reduzir-se dentro de poucos anos, independentemente dos esforços que se
estão a fazer para arranjar outras fontes de energia.
E o problema não se limita ao gás natural e ao carvão. Se
levantarmos os olhos do estreito caminho das actividades diárias de
sobrevivência e começarmos a perscrutar o horizonte, aparece-nos
uma assustadora série de picos. No decurso do presente século
iremos assistir ao fim do crescimento e ao começo do declínio em
todos estes parâmetros:
População
Produção de cereal (total e per capita)
Produção de urânio
Estabilidade do clima
Disponibilidade de água potável per capita
Terra arável para a produção agrícola
Pescas
Extracção anual de alguns metais e minerais (incluindo o cobre, a
platina, a prata, o ouro e o zinco)
O objectivo deste livro não é percorrer sistematicamente todos
estes cenários de pico-declínio um por um, apresentando provas e
assinalando as suas consequências – embora isso seja um
exercício valioso. Alguns desses picos são mais especulativos do
que outros: as pescas já estão em declínio, portanto este
é pouco discutível; mas para projectar os picos da
extracção e declínio de alguns metais é
necessária uma extrapolação dos actuais ritmos crescentes
de utilização para daqui a muitas décadas.
[5]
O problema do abastecimento de urânio para daqui a cinquenta anos
está bem confirmado pelos estudos, mas o público não lhes
prestou suficiente atenção.
[6]
Apesar disso, a imagem geral é evidente; é um dos exemplos
mutuamente interactivos do consumo excessivo e da escassez que se avizinha.
Então, o nosso ponto de partida é a tomada de consciência
de que estamos a viver no fim do período de maior abundância
material da história do homem – uma abundância baseada em
recursos temporários de energia barata que tornou possível tudo o
resto. Agora que os mais importantes desses recursos estão a chegar
à sua fase inevitável do ocaso, estamos no início de um
período de contracção geral da sociedade.
Esta tomada de consciência é reforçada quando
começamos a perceber que não é por acaso que estão
a ocorrer tantos picos ao mesmo tempo. Estão todos relacionados de forma
causal através da realidade histórica de que, nos últimos
200 anos, a energia abundante e barata dos combustíveis fósseis
tornou possível invenções tecnológicas, aumentos no
total e per capita da extracção de recursos e do consumo
(incluindo a produção de alimentos) e o crescimento da
população. Estamos encurralados num clássico
círculo vicioso que se reforça a si mesmo:
-->Extracção de combustíveis fósseis
---->mais energia disponível
------>aumento da extracção de outros recursos e da
produção de alimentos e de outros bens
-------->aumento da população
---------->aumento da procura de energia
------------>maior extracção de combustíveis
fósseis (e por aí adiante)
Na natureza ocorrem por vezes círculos viciosos que se reforçam a
si mesmos (as explosões de população são sempre
prova de um qualquer círculo vicioso que se reforça a si
próprio), mas estes raramente continuam durante muito tempo. Normalmente
levam a confrontos de populações e a mortes. O que é um
facto é que o crescimento da população e o consumo
não podem continuar infinitamente num planeta finito.
Dado que a disponibilidade crescente de energia barata possibilitou um
crescimento histórico sem precedentes nos valores de
extracção de outros recursos, então a coincidência
do Pico do Petróleo com o pico e o declínio de muitos outros
recursos é completamente previsível.
Além disso, quando a disponibilidade dos recursos energéticos
atingir o seu pico, isso também afectará diversos
parâmetros do bem-estar social:
Níveis de consumo per capita
Crescimento económico
Mobilidade fácil, barata e rápida
Mudanças tecnológicas e invenções
Estabilidade política
Todos eles estão claramente relacionados com a disponibilidade de
energia e de outros recursos críticos. Quando concordamos que a energia,
a água potável, e os alimentos passarão a estar menos
disponíveis nas próximas décadas, não podemos
deixar de concluir que, enquanto que o século XX assistiu à maior
e mais rápida expansão da quantidade, espaço e
complexidade das sociedades humanas na história, o século XXI
assistirá à sua contracção e
simplificação. Assim, a única questão real é
se as sociedades se irão contrair e simplificar de forma inteligente ou
de uma forma descontrolada e caótica.
Boas notícias? Más notícias?
Nada disto é fácil de encarar. Nem estas
informações são fáceis de discutir com gente de
cerimónia: sugerir que já estamos dentro ou perto do
pico dos níveis de população e do consumo para todo o
sempre da história humana e de que a partir de agora é sempre a
decrescer, certamente que não ganha votos, nem nos arranja um emprego
melhor, nem
sequer constitui uma conversa agradável para o jantar. A maior parte das
pessoas desliga ou muda de assunto quando a conversa se encaminha para isso; os
publicitários e as agências noticiosas registam e agem em
conformidade.
Resultado: um padrão social geral de negação.
Onde é que podemos encontrar alguma luz no meio de toda esta
obscuridade? Bom, podemos argumentar que neste século também
irão atingir o seu pico algumas coisas que não são
tão boas:
Desigualdade económica
Destruição ambiental
Emissão de gases com efeito de estufa
[NR]
Desigualdade económica, como? O grande filósofo social já
falecido, Ivan Illich, argumentava no seu livro de 1974 'Energy and Equality'
que numa sociedade a desigualdade aumenta com o fluxo da energia.
"Só um tecto no uso da energia", escreveu, "pode conduzir
a relações sociais que sejam caracterizadas por um alto
nível de justiça".
[7]
Os caçadores e os recolectores, que sobreviviam com fluxos de energia
mínima, também viviam em sociedades praticamente isentas de
desigualdade económica. Embora algumas sociedades nómadas
estivessem em melhores condições que outras porque viviam em
ecossistemas mais abundantes, os membros de um grupo tendiam a partilhar de
forma igual tudo o que estivesse disponível. Tinham uma economia de
dádiva – em oposição às economias de troca, de
mercado e de dinheiro que nos são mais familiares. Com a agricultura e a
divisão do trabalho a tempo inteiro apareceram valores mais altos do
fluxo de energia assim como uma disparidade económica cada vez maior
entre reis, seus vassalos e camponeses. No século XX, com valores de
fluxo de energia per capita que atingiram os maiores valores da
história, alguns seres humanos também desfrutaram uma
abundância material sem precedentes, tão grande que pensaram que a
pobreza podia ser eliminada de uma vez por todas, bastando para isso que
houvesse vontade política. Com efeito, nos meados do século
parecia que estavam a ser feitos progressos nessa direcção. No
entanto, considerando o século no seu conjunto, a desigualdade acabou
por aumentar. O índice Gini, inventado em 1912 como medida da
desigualdade económica nas sociedades, subiu substancialmente nos
últimos trinta anos em muitos países (incluindo os Estados
Unidos, a Grã-Bretanha, a Índia e a China), e em todo o mundo no
seu conjunto.
[8]
Nas últimas décadas anteriores ao século XX, o rendimento
médio no país mais rico do mundo era cerca de dez vezes maior do
que o dos países pobres; agora é mais de quarenta e cinco vezes
maior. Segundo um estudo publicado em Dezembro de 2006 ("The World
Distribution of Household Wealth"), um por cento das pessoas mais ricas
controla hoje 40 por cento da riqueza mundial, enquanto que dois por cento dos
mais ricos controlam toda uma metade.
[9]
Se se mantiver esta correlação entre os valores do fluxo de
energia, parece provável que, quando a energia disponível
diminuir durante o século XXI, possamos assistir a uma regressão
a níveis mais baixos de desigualdade. Não quero dizer que no
final do século estejamos todos a viver num paraíso socialista
igualitário, mas simplesmente que os níveis de desigualdade que
temos hoje se tornaram insuportáveis.
Do mesmo modo, parece provável que os níveis de
destruição ambiental provocada pelo homem atingirão um
pico e começarão a decair nas próximas décadas.
À medida que a energia disponível diminuir, a nossa capacidade
para alterar o ambiente também diminuirá. No entanto, se
não fizermos uma tentativa deliberada para controlar o nosso impacto
sobre a biosfera, o pico será muito alto e teremos provocado muitos
prejuízos até lá chegar. Em alternativa, podemos
esforçarmo-nos de forma deliberada e inteligente para minimizar os
impactos ambientais e, nesse caso, o pico será atingido a um
nível mais baixo. Especialmente na primeira hipótese, este pico
situar-se-á provavelmente depois dos outros já referidos,
já que muitos dos danos ambientais envolvem círculos viciosos que
se reforçam a si mesmos, e o mesmo acontecerá com os impactos
retardados e acumulados que continuarão a repercutir-se durante
décadas depois de os níveis de população e de
consumo terem começado a diminuir. Um exemplo básico: as
emissões de gases com efeito de estufa
[NR]
sem dúvida que
atingirão o pico este século – seja em resultado de
reduções voluntárias no consumo do combustível
fóssil, do esgotamento da base de recursos, ou de um colapso social. No
entanto, o clima global pode não estabilizar senão muitas
décadas depois, até que se esgotem os diversos círculos
viciosos auto-reforçantes (tais como a fusão da calota do
pólo norte, que produzirá água negra que por sua vez
absorverá mais calor, exacerbando assim o efeito de aquecimento e a
fusão da tundra e do permafrost
[NT]
, que libertarão o metano
armazenado que, por sua vez, provocará provavelmente um grande aumento
do aquecimento), círculos viciosos esses que foram postos em marcha. Na
verdade, o clima pode levar séculos até regressar a uma fase de
relativo equilíbrio.
Bem, se o objectivo dos parágrafos anteriores era contrabalançar
os picos de más notícias com outros mais alegres, parece que
até agora essa tentativa está longe de ser bem sucedida. De
certeza que é possível fazer melhor. Será que há
algumas coisas boas que ainda estão muito longe dos seus picos
históricos? Lembro-me de alguns.
Comunidade
Autonomia pessoal
Satisfação pelo trabalho honesto bem executado
Solidariedade entre gerações
Cooperação
Tempos livrem
Felicidade
Engenho
Talento artístico
Beleza da envolvente construída
Claro que alguns destes itens são difíceis de quantificar. Mas
há alguns que se podem medir e as tentativas para o fazer revelam por
vezes resultados surpreendentes. Vamos considerar dois deles que foram objecto
de estudo quantitativo.
Os tempos livres são provavelmente o elemento desta lista que se presta
mais facilmente a ser medido. As sociedades com mais tempos livres foram sem
dúvida as dos recolectores-caçadores, que trabalhavam cerca de
1000 horas por ano, embora essas sociedades raras vezes, ou nenhuma, tenham
pensado em separar "tempo de trabalho" de "tempo livre",
já que todas as actividades eram de certa forma consideradas
agradáveis. Para os empregados americanos, as horas de trabalho
atingiram o pico no princípio do período industrial, por volta de
1850, com cerca de 3500 horas por ano.
[10]
Muito superior às 1620 horas trabalhadas anualmente pelo camponês
medieval típico. Mas as duas situações não
são comparáveis directamente: um dia de trabalho medieval
típico arrastava-se de estrelas a estrelas, (dezasseis horas no
verão, oito no Inverno), mas o trabalho era intermitente, com pausas
para o desjejum, uma merenda a meio da manhã, o almoço, uma
tradicional sesta à tarde, uma merenda a meio da tarde e o jantar;
além disso, havia dezenas de feriados e de dias santos espalhados por
todo o ano. Hoje o trabalhador americano médio passa cerca de 2000 horas
a trabalhar, um número um pouco mais alto do que acontecia há
alguns anos (em 1985 andava mais perto das 1850 horas). No entanto, uma
perspectiva histórica alongada sugere que a intensidade do tempo do
trabalho humano parece atingir o seu pico na fase inicial da
industrialização, e que uma simplificação da
economia moderna poderá resultar num retorno às normas
pré-industriais, mais antigas.
Nos últimos anos floresceu a área da investigação
da felicidade, com a publicação de montes de estudos e de
diversos livros dedicados à análise estatística do que
é que dá às pessoas uma sensação de
satisfação geral nas suas vidas. Estudos internacionais de
depoimentos sobre níveis de felicidade mostram que, depois de
satisfeitas as necessidades básicas de sobrevivência, há
pouca correlação entre a felicidade e os valores per capita do
consumo de combustíveis fósseis. Segundo alguns
inquéritos, as pessoas no México, que utilizam um quinto dos
combustíveis fósseis utilizados pelos cidadãos
norte-americanos, são igualmente felizes.
A possibilidade de continuar a gozar dos actuais (ou elevados) níveis de
felicidade e de reduzir horas de trabalho pode parecer uma fraca
compensação à luz de todos os enormes desafios sociais e
económicos implícitos nos picos atrás descritos. Mas vale
a pena lembrar que a lista acima refere coisas que são muito importantes
para a maior parte das pessoas em termos da sua experiência vivida, real.
O sentido de comunidade e a experiência da solidariedade entre
gerações não têm preço, literalmente, ou seja
não há dinheiro que possa comprá-los; além disso, a
vida sem eles é de facto gélida – principalmente durante
épocas de tensão social. E há muitas razões para
pensar que estes dois factores decaíram significativamente durante as
últimas décadas de urbanização acelerada e de
crescimento económico.
Em contraste com estes índices de bem-estar pessoal e social, o Produto
Interno Bruto (PIB) per capita é facilmente mensurável e mostra
uma tendência mundial fortemente ascendente nos últimos dois
séculos. Mas toma em consideração apenas um conjunto
limitado de dados – o valor de mercado de todos os bens e serviços
acabados produzidos num país durante um certo período de tempo. O
crescimento do PIB diz-nos que nos devíamos sentir melhor com nós
próprios e com o nosso mundo – mas não tem em
consideração uma ampla gama de outros factores, incluindo os
danos para o ambiente, as guerras, as taxas de crime e de prisão, e as
tendências na educação. Por causa disso, muitos economistas
e organizações não governamentais têm criticado a
confiança governamental no PIB, e têm proposto como alternativa a
utilização de um Indicador Genuíno de Progresso (IGP), que
tenha em consideração esses factores. Enquanto que uma
comparação histórica do PIB nos Estados Unidos mostra um
crescimento geral progressivo até ao presente (o PIB correlaciona-se
estreitamente com o consumo de energia), os cálculos do IGP mostram um
pico por volta de 1980 seguido por um lento declínio.
[11]
Se nós, enquanto sociedade, nos quisermos ajustar sem problemas a
valores de fluxo de energia mais baixos – e a menos viagens e transportes
– com uma rotura social mínima, temos que começar a dar mais
atenção aos bens da vida aparentemente intangíveis e menos
atenção ao PIB e aos aparentes benefícios do
desperdício do uso de energia.
Não há nenhum paliativo. O tratamento dos problemas
económicos, sociais e políticos decorrentes dos diversos picos
que se aproximam exigirá um esforço colectivo enorme. Se
quisermos ser bem sucedidos, esse esforço tem que ser coordenado,
presumivelmente pelo governo, e as pessoas recrutadas para esse esforço
têm que ser educadas e motivadas numa quantidade e a uma velocidade nunca
vistas desde a II Guerra Mundial. Parte dessa motivação tem que
surgir de uma visão positiva de um futuro que valha esse empenho.
Será necessário que as pessoas sintam que haverá uma
possível recompensa para o que equivalerá a muitos anos de pesado
sacrifício. A realidade é que nos estamos a aproximar de uma
época de contracção económica e que terão
agora que ser refreados os apetites consumistas que foram acicatados durante
décadas por anúncios incessantes prometendo "mais, mais
depressa e maior". As pessoas não vão aceitar de boa
vontade a nova mensagem de "menos, mais devagar e mais pequeno", a
não ser que tenham novas metas a atingir. Têm que sentir que os
seus esforços vão conduzir a um mundo melhor e a melhorias
tangíveis na vida para si próprias e para as suas
famílias. As indispensáveis campanhas maciças de
educação pública terão que ser credíveis, e
serão pois muito mais bem sucedidas se derem às pessoas um
sentido de investimento e de envolvimento na formulação dessas
metas. Há uma palavra muito usada e abusada que descreve o procedimento
necessário – democracia.
Uma outra forma de mitigar o nosso horror paralisante perante a visão do
futuro da nossa sociedade como um mundo de declínio em tantos aspectos,
é perguntar: declínio até onde? Estamos perante uma total
desintegração de tudo o que consideramos precioso, ou apenas
perante um retorno a níveis mais baixos de população, de
complexidade e de consumo? Claro que a resposta ainda não é
conhecida neste momento. Podemos estar mesmo à beira do pior colapso da
história. Basta uma única referência a este respeito: o
Millennium Ecosystem Assessment, uma análise de quatro anos dos
ecossistemas mundiais publicada em 2006, em que participaram 1300 cientistas,
chegou à conclusão de que, dos 24 ecossistemas identificados como
essenciais para a vida humana, 15 estão "a ser empurrados para
além dos seus limites sustentáveis" para uma
situação de colapso que pode ser "abrupto e potencialmente
irreversível".
[12]
Os sinais não são benéficos.
Apesar disso, o declínio da população, da complexidade e
do consumo pode, pelo menos teoricamente, dar lugar a uma sociedade
estável com características que muita gente considerará
serem bastante desejáveis. O regresso ao padrão normal da
existência humana, baseado na vida do campo, em famílias
alargadas, e na produção para consumo local – principalmente
se for apoiada por alguns dos adereços do final do período
industrial, como as comunicações globais – pode proporcionar
às gerações futuras o tipo de existência com que
muita gente urbana sonha com saudade.
Portanto a mensagem geral deste livro não é necessariamente
lúgubre – mas é a da inevitável mudança e do
necessário empenhamento deliberado no processo de mudança a uma
dimensão e rapidez para além de qualquer outro na história
do homem. Indispensável: Temos que nos concentrar e utilizar os
intangíveis que não estão a atingir o pico (como o engenho
e a cooperação) para tratar dos problemas que derivam do uso
exagerado das substâncias que existem.
A nossa única grande tarefa: A transição energética
Conforme já vimos, bastaram alguns vectores chave para levar muitos
outros a provocar os problemas globais que enfrentamos hoje, e esses vectores
chave (incluindo o crescimento da população e o aumento dos
valores de consumo) gravitam em torno da utilização sempre
florescente dos combustíveis fósseis. Portanto, surge por si
só uma conclusão de uma franqueza impressionante. A nossa tarefa
central de sobrevivência para as décadas futuras, enquanto
indivíduos e enquanto espécie, tem que ser a de fazer a
transição para a fase da não utilização de
combustíveis fósseis – e fazê-lo de forma tão
pacífica, tão justa e tão inteligente quanto
possível.
À primeira vista, isto pode parecer uma absurda
simplificação grosseira da situação humana. Afinal
de contas, o mundo está cheio de crises que exigem a nossa
atenção – desde as guerras à poluição,
à subnutrição, às minas terrestres, aos abusos
contra os direitos humanos e ao aumento das taxas do cancro. Um
monomaníaco que se concentra apenas nos combustíveis
fósseis não estará a pôr de lado tantas coisas
importantes?
Em defesa das minhas afirmações, apresento dois pontos:
Primeiro, há alguns problemas mais críticos que outros. Um
paciente pode ter simultaneamente uma rotura de um vaso sanguíneo no
cérebro e uma perna partida. Um médico não vai ignorar o
segundo problema mas, como o primeiro ameaça a vida de imediato,
dá precedência ao seu tratamento. Globalmente, há dois
problemas cujas consequências possíveis excedem largamente as dos
outros: a mudança climática e o esgotamento dos recursos
energéticos. Se nada fizermos para reduzir drasticamente e em pouco
tempo as emissões de gases com efeitos de estufa
[NR]
, há fortes
probabilidades de pormos em marcha os dois círculos viciosos
anteriormente referidos – a fusão da calota do pólo norte e
a fusão da tundra e do permafrost
[NT]
que libertarão o metano
armazenado. Se isso acontecer, gerar-se-á um aquecimento global
calculado, não em mais um ou dois graus, mas possivelmente em seis ou
mais graus durante o resto do século. E isto, por seu turno,
tornará inabitável a maior parte do mundo e tornará
impraticável a agricultura em muitos locais, ou mesmo na sua maioria, e
pode resultar na extinção de milhares ou milhões de outras
espécies para além da morte de centenas ou milhares de
milhões de seres humanos.
O declínio pós pico quanto à disponibilidade do
petróleo, do gás natural e do carvão – se se mantiver
a nossa dependência destes combustíveis – pode dar origem ao
colapso económico, à fome e à guerra geral pelos recursos
sobrantes. Embora seja certamente possível imaginar estratégias
de sobrevivência para a fase de transição para a falta dos
combustíveis fósseis, que envolvam esforços proactivos no
desenvolvimento de fontes alternativas de energia a uma escala maciça e
para criar políticas que imponham a racionalização do uso
da energia, também numa escala maciça, o mundo está
actualmente tão confiante nos hidrocarbonetos como o está na
água, na luz do sol, e no solo. Sem petróleo para transportes e
para a agricultura; sem gás para aquecimento, produtos químicos e
fertilizantes, e sem carvão para gerar energia, a economia global
chispará até parar. Embora ninguém preveja que estes
combustíveis vão desaparecer de um momento para o outro, podemos
evitar o pior cenário da desintegração económica
global – com toda a tragédia humana que isso implica –
reduzindo proactivamente a nossa dependência do petróleo, do
gás e do carvão antes do seu esgotamento e escassez. Por outras
palavras, tudo o que é necessário para que o pior cenário
se materialize é que os dirigentes mundiais continuem com a
política actual.
Estes dois problemas são potencialmente letais; são
doenças de alta prioridade. Se os resolvermos, seremos depois capazes de
dedicar a nossa atenção a outros dilemas humanos, muitos dos
quais estão presentes há milénios – guerra,
doença, injustiça, e por aí fora. Se não
resolvermos estes dois problemas, então dentro de algumas décadas
a nossa espécie poderá não estar em posição
de fazer qualquer progresso seja em que frente for; na verdade, provavelmente
estará envolvida numa luta pela sua própria sobrevivência.
Estaremos literal e metaforicamente a queimar a mobília como
combustível e a lutar por causa de migalhas.
A minha segunda razão para insistir que a transição dos
combustíveis fósseis deve ter precedência sobre outras
preocupações também pode ser enquadrada numa
metáfora médica: Frequentemente uma única causa pode
provocar uma constelação de sintomas aparentemente muito
diferentes. Um paciente pode apresentar sintomas de perda de
audição, dores de estômago, dores de cabeça e
irritabilidade. Um médico incompetente pode tratar cada um destes
sintomas em separado sem tentar correlacioná-los. Mas se a causa for
envenenamento por chumbo (que pode provocar todos estes sinais e mais ainda),
um tratamento sintomático não servirá para nada.
Desmontemos a metáfora. Não só as duas grandes crises
acima referidas estão estreitamente relacionadas (o pico do
petróleo e a mudança do clima surgem da nossa dependência
dos combustíveis fósseis), mas – conforme já
assinalei – muitas das nossas outras crises modernas, ou mesmo a sua
maioria,
também gravitam em torno dos combustíveis fósseis.
Até os problemas antigos e permanentes como a desigualdade
económica foram exacerbados pelos altos valores de fluxo
energético.
Passa-se o mesmo com a poluição. Nós, seres humanos,
andamos a poluir o nosso ambiente de diversas maneiras há muito tempo;
actividades como a mineração do chumbo e do estanho provocaram
uma devastação localizada que permanecerá durante
séculos. No entanto, o problema da poluição química
que está espalhada um pouco por todo o ambiente é relativamente
novo e tem vindo a piorar durante as últimas décadas. Acontece
que os poluentes mais perigosos são os derivados dos combustíveis
fósseis (pesticidas, plásticos e outros químicos que
imitam hormonas) ou subprodutos da queima do carvão ou do
petróleo (óxidos de nitrogénio e de outros que contribuem
para a chuva ácida).
A guerra pode parecer à primeira vista como um problema totalmente
independente da nossa moderna avidez por fontes de energia fóssil. Mas,
segundo o analista de segurança Michael Klare sublinhou no seu livro
Blood and Oil
,
[13]
a maior parte das guerras recentes rebentou por causa da
competição para o controlo do petróleo; à medida
que o petróleo se tornar mais escasso no ambiente pós pico, mais
provável será haver outras guerras e conflitos civis por causa do
ouro negro. Além disso, o uso de combustíveis fósseis no
prosseguimento da guerra tornou muito mais mortais as mutilações
autorizadas-pelo-estado. A maioria dos explosivos modernos é feita a
partir de combustíveis fósseis e até a bomba
atómica – que depende mais da fissão ou fusão nuclear
do que dos hidrocarbonetos para o seu terrível poder – depende de
combustível para os sistemas de envio.
Podíamos continuar. Em resumo: Utilizámos a energia abundante e
barata dos combustíveis fósseis de forma previsível para
aumentar o nosso poder sobre a natureza e uns sobre os outros. Esta
acção provocou um rol de problemas ambientais e sociais. Tentamos
resolvê-los um a um, mas os nossos esforços serão muito
mais eficazes se forem direccionados para a sua raiz comum – ou seja, se
acabarmos com a nossa dependência dos combustíveis fósseis.
E voltamos à minha tese: Decerto que há muitos problemas que
merecem atenção, mas o problema da nossa dependência dos
combustíveis fósseis é fulcral para a sobrevivência
humana e portanto, enquanto essa dependência continuar em qualquer
dimensão significativa, temos que fazer da sua redução a
peça central de todos os nossos esforços colectivos – sejam
esforços para nos alimentarmos, para resolvermos conflitos ou para
mantermos uma economia a funcionar.
Mas podemos formulá-lo de uma outra forma, mais encorajadora: Se
concentrarmos todos os nossos esforços colectivos na tarefa central da
transição energética, podemos vir a contribuir para a
solução de um amplo leque de problemas que seriam muito mais
difíceis de resolver se confrontados cada um por si só
isoladamente. Através de uma redução coordenada e
voluntária do consumo de combustíveis fósseis, podemos
assistir a uma evolução substancial na redução de
muitas formas de poluição ambiental. A
descentralização da actividade económica, que é
fatal acontecer quando os combustíveis para transportes se tornarem mais
escassos, pode conduzir a mais empregos locais e a ocupações mais
gratificantes, e a economias locais mais sólidas. Uma
contracção controlada no comércio global do
petróleo pode levar a uma redução das tensões
políticas internacionais. Uma conversão planeada da agricultura
para métodos com combustíveis não fósseis pode
significar um declínio na devastação ambiental provocada
pela agricultura e em oportunidades económicas para milhões de
novos agricultores. Entretanto, todos estes esforços em conjunto podem
aumentar a justiça, o envolvimento comunitário, a solidariedade
entre gerações e outros bens intangíveis listados
anteriormente.
Decerto que é um futuro para que vale a pena trabalhar.
O despertar (para uma triste realidade)
O subtítulo deste livro,
Acordar para o século dos declínios
(Waking Up to the Century of Declines)
reflecte a
minha sensação de que mesmo aqueles que têm andado a pensar
no esgotamento dos recursos há muitos anos ainda estão a
despertar para as suas totais consequências. E se é verdade que
estamos todos em várias fases do acordar para este problema,
também é verdade que estamos a acordar do êxtase cultural
de negação em que todos estamos mergulhados.
[14]
Este despertar é multi-dimensional. Não se trata apenas de ficar
convencido, intelectual e desapaixonadamente, da realidade e da gravidade da
alteração climática, do pico do petróleo, ou de
qualquer outro problema específico. Pelo contrário, obriga a uma
catarse emocional, cultural e política. A metáfora bíblica
das escamas que caem dos olhos é tão adequada como a
concepção da cultura pop de tomar a pílula vermelha e de
ver o mundo através do Matrix: em ambos os casos, o despertar implica
chegar à convicção de que o verdadeiro tecido da vida
moderna é um tecido de ilusões – na verdade, de milhares de
ilusões.
Para que esse tecido se mantenha coeso, é necessária uma
ilusão mestra, que é a noção de que, não
se sabe bem como, o que hoje vemos à nossa volta é normal. Claro
que, num certo sentido, é normal: a experiência da vida
diária de milhões de pessoas é normal por
definição. A realidade dos automóveis, da televisão
e da fast-food é assumida tranquilamente como garantida; se a vida
sempre foi assim desde há décadas, porque é que não
há-de continuar indefinidamente, com grandes mudanças de
desenvolvimento? Mas como esta vida "normal" numa típica
cidade moderna é profundamente diferente da vida das anteriores
gerações dos seres humanos! E o facto de estar alicerçada
nos caboucos dos combustíveis fósseis baratos significa que as
gerações futuras terão que viver e irão viver de
forma diferente.
Mais uma vez, o despertar que descrevo é uma reavaliação
progressiva, visceral e intelectual, de todas as facetas da vida –
alimentação, trabalho, lazeres, viagens, política,
economia e muito mais ainda. A experiência é tão abrangente
que desafia uma descrição linear. E no entanto temos que tentar
descrevê-la e exprimi-la; temos que transformar a nossa experiência
multi-dimensional numa narrativa, porque é assim que nós humanos
funcionamos e partilhamos as nossas experiências do mundo.
A grande transição do século XXI exigirá enormes
ajustamentos por parte de todos os indivíduos, famílias e
comunidades, e para que esses ajustamentos sejam feitos com êxito,
é preciso um planeamento racional. Terão que ser exploradas
implicações e estratégias em quase todas as áreas
de interesse humano – agricultura, transportes, guerra global e paz,
saúde pública, gestão de recursos, e por aí fora.
Serão necessários livros, estudos de investigação,
documentários televisivos, outra qualquer forma imaginável de
meios de informação de transferência para canalizar as
informações necessárias em cada uma destas áreas.
Além disso, são necessárias mais coisas para além
dos materiais explicativos; precisamos de organizações de
cidadãos que possam transformar a política em
acção, e de artistas que criem expressões culturais que
possam ajudar a incendiar a imaginação colectiva. No meio deste
turbilhão de análise, ajustamento, criatividade e
transformação, talvez haja necessidade e espaço para um
livro que tenta simplesmente captar o espírito geral do tempo para que
nos dirigimos, que relacione os diversos aparecimentos de mudança
cultural com a ciência do aquecimento global e do pico do petróleo
duma forma extraordinariamente surpreendente e divertida e que comece a abordar
a dimensão psicológica da nossa transição global do
crescimento industrial para a contracção e a sustentabilidade.
Não podemos evitar a maior parte dos picos que enfrentamos, mas
há muitas coisas que podemos fazer para navegar por entre eles de modo a
reforçar o equilíbrio mental humano, a sua segurança e
felicidade. Façamos essas coisas. Trabalhemos para construir um mundo
futuro onde, a partir desse ponto de vantagem, daqui a décadas, possamos
olhar para trás para estas premonições e
considerá-las como demasiado sombrias.
Notas
[1]
No OPEC Bulletin, Nov-Dec, 2006: "De modo geral, parece que a maioria
concorda que o pico da produção do petróleo não
está muito afastado de nós. Pode ocorrer a qualquer momento na
próxima década, o que significa que já não
há muito tempo para uma economia mundial alimentada sobretudo pelo
petróleo". Entretanto, Claude Mandil, director executivo da
International Energy Agency, falando no IEA World Energy Outlook 2006,
actualizou isto: "O WEO-2006 revela que o futuro energético que
enfrentamos hoje, baseado em projecções das tendências
actuais, é sujo, inseguro e caro".
www.energybulletin.net/22042.html
[2]
Robert Hirsch and al.,
Peaking of World Oil Production: Impacts, Mitigation, And Risk Management
(2005),
www.projectcensored.org/newsflash/the_hirsch_report.pdf
[3]
Ver também: Kenneth S. Deffeyes,
"Beyond Oil: The View from Hubbert's Peak"
; (Hill and Wang, 2005), e Roger D. Blanchard, "The
Future of Global Oil Production: Facts, Figures, Trends and Projections, da
Region (McFarland, 2005).
[4]
Energy Watch Group, "Coal: Resources and Future Production,"
www.energywatchgroup.org/files/Coalreport.pdf. Ver também Richard
Heinberg, "Burning the Furniture,"
globalpublicmedia.com/richard_heinbergs_museletter_179_burning_the_furniture
[5]
http://kontentkonsult.com/blog/2006/01/peak_metals.html
[6]
Energy Watch Group, "Uranium Resources and Nuclear Energy," Dec.,
2006
www.energiekrise.de/news/docs/specials2006/REO-Uranium_5-12-2006.pdf
[7]
Ivan Illich, Energy and Equity (Calder & Boyars, 1974), p. 17.
[8]
Ver
http://en.wikipedia.org/wiki/Gini_coefficient
[9]
www.wider.unu.edu/
[10]
Os dados para este parágrafo foram retirados de "The Overworked
American: The Unexpected Decline of Leisure" de Juliet B. Schor (Basic
Books, 1993); ver também
www.swiss.ai.mit.edu/~rauch/worktime/hours_workweek.html
[11]
GPI,
www.socialfunds.com/news/article.cgi/117.html
[12]
Ver
www.maweb.org/en/index.aspx
,
http://article.wn.com/view/2007/01/04/Global_warming_is_here_now_what/
[13]
Michael Klare,
Blood And Oil: The Dangers And Consequences of America's Growing Dependency on Imported Petroleum
(Metropolitan Books, 2004).
[14]
Agradeço à minha amiga Chellis Glendinning o seu livro intitulado
"Waking Up in the Nuclear Age" (1987), que me inspirou de diversas
maneiras.
[NT]
Permafrost é o solo (incluindo rocha, matéria orgânica
e a água no solo) que permanece a temperaturas inferiores a 0º C
por períodos superiores a 2 anos.
[NR]
Trata-se de um falso problema. Ver
Aquecimento global: uma impostura científica
, do Prof. Marcel Leroux.
Este artigo é uma versão modificada da
Introdução do livro "Peak Everything: Waking Up to the
Century of Declines".
Textos do mesmo autor em português:
Cinco axiomas da sustentabilidade
Como evitar guerras petrolíferas, terrorismo e colapso económico
Uma carta do futuro
O começo do fim da civilização industrial
Utensílios com vida própria
Protocolo do esgotamento petrolífero
O original encontra-se em
http://www.richardheinberg.com/museletter/185
. Tradução de Margarida Ferreira.
Este artigo encontra-se em
http://resistir.info/
.
|