Teses ao XIV Congresso do Partido Comunista Brasileiro (PCB)
O Capitalismo Hoje
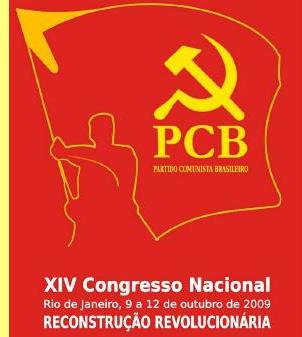 I – Introdução: as origens agrárias do
capitalismo
I – Introdução: as origens agrárias do
capitalismo
1. Ao contrário do que sempre pregaram os economistas e filósofos
liberais, o capitalismo não se caracteriza como um conjunto de
práticas e hábitos resultantes de uma determinada "natureza
humana", de uma "inclinação natural" dos homens a
comerciar, permutar e trocar. Segundo o modelo liberal e mercantil de
explicação do surgimento do capitalismo, este teria nascido e se
criado na cidade: qualquer cidade, com suas práticas de
intercâmbio e comércio, era, por natureza, capitalista em
potencial. Nas sociedades anteriores ao pleno desenvolvimento do capitalismo,
obstáculos externos à lógica de funcionamento da economia
teriam impedido que qualquer civilização urbana desse origem ao
capitalismo. A religião errada, o tipo errado de Estado, grilhões
ideológicos, políticos ou culturais teriam servido como
obstáculos à afirmação plena da "natureza
humana" ao comércio e à troca.
2. A expansão mais ou menos natural do comércio, na Baixa Idade
Média européia, teria desencadeado, então, o
desenvolvimento do capitalismo até sua plena maturidade. A
expansão comercial a partir do século XII teria se espalhado como
uma epidemia benéfica por todo o continente europeu. O amadurecimento
das classes capitalistas, até então sufocadas pelo fechamento das
rotas comerciais e pelos obstáculos ligados à religião,
à cultura, à ideologia e à política, tornava-se
possível pelo renascimento do comércio e pela expansão
inevitável dos mercados. O sistema teria se firmado à medida que
os impulsos capitalistas, já presentes nos interstícios do
feudalismo, se libertavam dos grilhões do sistema feudal. A
fórmula crescimento das cidades + liberação da classe
burguesa era suficiente para explicar a ascensão do capitalismo moderno.
A afirmação do capitalismo confundia-se com a mera
expansão mercantil, historicamente verificável no período
de transição do feudalismo para o capitalismo.
3. Marx rompeu com a tese liberal do surgimento do capitalismo, ao insistir na
especificidade do capitalismo e de suas leis de movimento, considerando que os
imperativos específicos do capitalismo – sua fúria
competitiva de acumulação por meio do aumento da produtividade do
trabalho – eram muito diferentes da lógica ancestral da busca do
lucro comercial, e não era possível identificar
manifestações do capitalismo ao longo de toda a história
humana.
4. A diferença básica entre as sociedades pré-capitalistas
e capitalistas tem a ver com as relações particulares de
propriedade entre produtores e apropriadores, seja na agricultura ou na
indústria: nas sociedades anteriores ao capitalismo, os produtores
diretos (camponeses) permaneciam de posse dos meios de produção,
particularmente a terra, e o trabalho excedente era expropriado através
da coerção direta (meios extra-econômicos), exercida por
grandes proprietários ou pelos Estados, que empregavam sua força
superior – o poder militar, jurídico e político.
5. Somente no capitalismo o modo de apropriação passa a se basear
na desapropriação dos produtores diretos legalmente livres, cujo
trabalho excedente é apropriado por meios puramente econômicos:
desprovidos de propriedade, os produtores diretos são obrigados a vender
a força de trabalho para sobreviver, e os capitalistas podem
apropriar-se do trabalho excedente dos trabalhadores sem uma
coação direta.
6. Capital e trabalho são profundamente dependentes do mercado para
obter as condições mais elementares de sua
reprodução: os trabalhadores precisam dele para vender a
força de trabalho e adquirir os meios de sua subsistência; os
capitalistas, para comprar a força de trabalho e os meios de
produção, bem como para realizar seus lucros. O mercado passa a
ser determinante e regulador principal da reprodução social,
penetrando inclusive na produção da necessidade mais
básica da vida: o alimento. Criam-se os imperativos da
competição, da acumulação e da
maximização do lucro.
7. O mercado passa a funcionar de maneira totalmente diversa da era
mercantilista. Antes do capitalismo, o princípio dominante do
comércio era comprar barato e vender caro, e o comércio
internacional era basicamente um comércio de transporte. Não
havia um mercado único e unificado, em que as pessoas auferissem lucros
não por comprarem barato e venderem caro, mas por produzirem por um
custo mais eficiente, em concorrência direta com outras pessoas no mesmo
mercado. A vantagem comercial era conseguida por meios extra-econômicos,
dirigidos principalmente pelos Estados Absolutistas, através das
guerras, das práticas mercantilistas e da imposição de
monopólios de comércio e de produção. A
produção industrial dedicava-se centralmente à
confecção de artigos de luxo voltada a atender as necessidades de
consumo da aristocracia, estabelecendo um mercado restrito de produtos por
encomenda. No mercado capitalista, ao contrário da realidade anterior,
os lucros são auferidos com base na
competição
por
produção eficiente
(com redução sistemática de custos) em um
mercado unificado
(mercado de massa e desconhecido, voltado principalmente a atender a demanda
por produtos baratos e de necessidade permanente e cotidiana).
8. Na verdade, o capitalismo não nasceu na cidade, mas no campo, num
lugar específico (Inglaterra) e numa época definida
(século XVI). A história singular da Inglaterra após a
crise geral do feudalismo na Europa permitiu a formação de um
campesinato livre e de uma parte significativa da classe proprietária
(conhecida como "gentry"), que, diferentemente da aristocracia
francesa, por exemplo, não vivia às custas das rendas providas
pelo Estado Absolutista, mas sim da exploração da terra com
vistas à obtenção do lucro. A competição
entre os proprietários e arrendatários de terras voltados
à produção de mercadorias promoveu uma
concentração incomum da terra nas mãos de
latifundiários. O desenvolvimento do comércio foi
condição necessária, mas não suficiente, para o
surgimento do capitalismo: o crescimento do mercado obrigou grandes
proprietários e arrendatários a investir nos melhoramentos (no
inglês,
improvement,
ou seja, melhorias na produção para a obtenção de
lucros monetários) para vencer a crescente competição
entre os proprietários e arrendatários. Os imperativos do mercado
estimulam o aumento da produtividade, processo este que acaba criando uma
agricultura altamente produtiva e rentável.
9. As forças competitivas foram fatores fundamentais na
expropriação violenta dos produtores diretos (camponeses),
conforme descreveu Marx, com riqueza de detalhes, em "A Assim chamada
acumulação primitiva" (Livro I, volume 2 de
O Capital
). Os cercamentos das terras comunais e dos campos abertos ingleses
representaram, de fato, a extinção, com ou sem a
demarcação física das terras, dos costumes em comum e dos
direitos consuetudinários dos trabalhadores e pequenos
proprietários, visando a criação extensiva de ovelhas ou o
cultivo de terras aráveis com maior produtividade. Assim também
nascia uma nova concepção de propriedade privada: a propriedade,
no capitalismo agrário nascente, passava a ser, além de privada,
absoluta e exclusiva, ao excluir grandes contingentes de indivíduos e
comunidades do acesso à terra e aos meios de
produção.
10. Segundo a nova ética do trabalho e a teoria da propriedade burguesa,
que teve no filósofo John Locke um de seus mais destacados formuladores,
a terra existe para se tornar produtiva e lucrativa: a propriedade privada,
criada pelo trabalho do homem, suplanta a posse comum. "É o
trabalho, de fato, que instaura a diferença de valor em tudo quanto
existe" (
Segundo Tratado de Governo,
II, 40). Dentro desta lógica, o valor é dado não pelo
trabalho do homem em si, mas pela produtividade da propriedade e sua
aplicação ao lucro comercial. O uso do termo produtor
(empreendedor) é próprio do capitalismo (nas sociedades
pré-capitalistas, as classes dominantes jamais se veriam como
produtoras), pois indica que a propriedade passou a ser usada ativamente e
não para consumo extensivo, mas para investimento (produtividade) com
vistas à obtenção de lucros crescentes.
II – O capitalismo industrial
11. O capitalismo industrial desenvolve-se, nos séculos XVIII e XIX
(através da chamada Revolução Industrial), como
consequência das modificações introduzidas pelo capitalismo
agrário. As pressões competitivas e as novas leis do movimento
(dependência do mercado, acumulação do capital,
maximização dos lucros) dependiam da existência de
arrendatários produtores dependentes do mercado (segundo Marx, a
verdadeira via revolucionária para o capitalismo). A
transformação radical operada no comércio e na
indústria inglesas, portanto, foi mais resultado do que causa da
transição para o capitalismo. O processo de
acumulação primitiva do capital, no qual é fator
determinante a formação do trabalhador assalariado, totalmente
expropriado e apartado dos meios de produção, criara, entre os
séculos XVI e XVIII na Inglaterra, um mercado unificado nacional, cada
vez mais único, integrado e competitivo, ao desenvolver um crescente
mercado consumidor formado por não proprietários, dependentes da
compra do alimento e da vestimenta (mercado de massa). A necessidade de
aumentar a produção de bens de consumo correntes e não de
bens suntuários para mercado restrito convertia em capital industrial a
riqueza acumulada durante a acumulação primitiva. Como
consequência de tudo isto, a economia inglesa transformara-se no centro
dinâmico de um sistema de comércio internacional, com
expansão, para o exterior, dos imperativos da produção
competitiva e do aumento do consumo.
12. O capitalismo consolidava-se, ao longo do século XIX, como modo de
produção dominante em escala mundial. Nos
Manuscritos de 1861-1863,
situados entre os
Grundrisse
e
O Capital,
Marx desenvolveu os conceitos de subsunção formal e
subsunção real para designar as relações de
dominação e subordinação do trabalho frente ao
capital. O conceito de subsunção formal designa a
subordinação do trabalho frente ao capital do período
pré-industrial (capital mercantil), particularmente a
produção de base artesanal e/ou manufatureira. O trabalhador
está subsumido ao capital na medida em que não possui meios de
produção e é obrigado a se tornar um trabalhador
assalariado. No entanto, esta subsunção é apenas formal,
pois, nesse momento, a produção é feita sem a
introdução de máquinas e o trabalhador ainda pode exercer
um grande controle sobre o ritmo e o modo de produzir, pois detém o
conhecimento (o
saber-fazer
) do processo de trabalho. Com isso, o aumento da exploração do
trabalho, em geral, se dá pelo aumento da jornada de trabalho (mais
valia absoluta).
13. Quando as relações pessoais de dominação
próprias do feudalismo são substituídas por
relações mercantis de dominação, o capital funda um
novo padrão de acumulação, ou melhor, funda um novo tipo
de exploração e dominação do trabalho, alterando a
forma de coerção, o método pelo qual o sobretrabalho (o
excedente da produção) é extorquido. Nos modos de
produção anteriores, o sobretrabalho era obtido diretamente pela
violência (trabalho forçado direto, trabalho compulsório).
Com a emergência do capital, o trabalho continua compulsório para
a maioria da população, mas esse caráter
obrigatório passa a ser mediado pela troca de mercadorias. O processo de
trabalho estabelece relações reificadas de
produção, pois, no processo material de produção
capitalista, as relações de produção entre as
pessoas são coisificadas, isto é, tomam a aparência de
coisas, de mercadorias.
14. O capital promove radicalmente a socialização do trabalho,
tornando social o trabalhador isolado, pois o caráter social dos
produtos do trabalho (que se tornaram mercadorias) é agora definido pelo
seu valor de troca, ao qual o valor de uso ficou subordinado. A força
produtiva que o trabalhador desenvolve como trabalhador social é a
força produtiva do capital. No entanto, não é o trabalho
social que é pago pelo capitalista, mas o trabalho individual, quando
este, sozinho, não representaria modificação alguma na
produção. O aumento da força produtiva surge da
combinação de diversos trabalhos, sendo intrínseco
à cooperação. O capitalista se beneficia desse aumento sem
nada pagar por ele, já que a remuneração do trabalho
não leva em conta a força produtiva social criada pela
cooperação, mas apenas o trabalhador individual, isolado. Todo
esse processo que transforma as forças produtivas do trabalho social em
forças produtivas do capital acontece independentemente de qualquer
inovação tecnológica ou transformação nos
meios de trabalho.
15. Esse é o modo como o capital subsume o trabalho e faz a
própria combinação do trabalho parecer algo externo
às condições de produção, como um fator
casual. Isso chega à sua radicalização máxima com a
introdução da máquina a partir da Revolução
Industrial, mas já está presente essencialmente desde a
cooperação simples (artesanato). O objetivo, então,
não é mais a produção de um bem particular (valor
de uso), mas a valorização do valor: o processo de trabalho
converte-se no instrumento do processo de valorização, do
processo de autovalorização do capital, da criação
da mais valia. O valor de uso cede ao valor de troca, e a
produção se justifica como um fim em si mesmo. A
produção pela valorização/acumulação
torna-se o único sentido que organiza o trabalho e o define enquanto
social.
16. A consolidação do capitalismo ocorre quando se dá a
generalização da lei do valor para todos os produtos do trabalho
humano, num processo de mercantilização do trabalho objetivado,
estendido aos próprios agentes produtivos, também transformados
em mercadorias. O conceito de subsunção real designa, pois, a
relação de dominação e subordinação
do trabalho frente ao capital do período industrial. Nesse momento, o
trabalhador passa por um processo de expropriação do seu
saber-fazer e cristalização desse conhecimento em um processo
mecânico e objetivo (as máquinas-ferramentas). O trabalhador passa
a não mais ter o domínio completo sobre o ritmo da
produção e, principalmente, sobre o modo de produzir – e
isso passa a ser ditado pela máquina, a qual subsume realmente o
trabalhador. Com a incorporação do trabalhador a uma
máquina simples, o capital separa braços e mentes, tornando o
conhecimento aplicado no processo de trabalho como algo externo aos
próprios agentes produtivos. Foi preciso, então, criar um
segmento de trabalhadores técnico-científicos, separado da classe
trabalhadora tradicional, vinculado a um trabalho unicamente intelectual (sem
nenhuma relação direta com algum trabalho manual
específico), responsável unicamente pela gestão e
organização do trabalho.
17. A divisão entre concepção e execução
abriu a possibilidade de o trabalho intelectual tornar-se produtivo e de a
ciência interferir diretamente no processo de produção,
pois, com a consolidação do processo de formação do
trabalhador coletivo, não é produtivo apenas o trabalho manual,
mas qualquer tipo de trabalho que, de algum modo, participe do processo de
valorização do capital. Mas a subsunção real nunca
se dá de forma absoluta e tampouco se dá de forma passiva (a
relação é sempre contraditória, conflituosa), bem
como o trabalho manual, mesmo o mais mecânico possível, jamais
é completamente desprovido de subjetividade. O capitalismo cria essa
forma específica de subordinação e de divisão do
trabalho, mas ambas se dão de maneira constantemente conflituosa.
18. A própria mercadoria é vista por Marx, no Livro I de
O Capital,
como uma contradição, que, ao mesmo tempo, se apresenta como um
objeto útil, um valor de uso, e como um objeto útil para outrem,
a saber, um valor de troca. O valor de um produto final seria determinado pelo
tempo socialmente necessário gasto em sua produção, isto
é, por todos os tempos de trabalho que progressivamente se foram
acumulando nele, desde o momento em que começou a ser trabalhado
até sua chegada ao consumo. Na produção capitalista, pois,
importa o trabalho abstrato, aquele de que a sociedade como um todo precisa
para produzir os objetos de que todos necessitam. Com o uso da maquinaria, o
trabalho torna-se objetivamente abstrato. Isto porque somente por meio da troca
de mercadorias o trabalho individual que as produziu se torna social: as
mercadorias só têm um caráter objetivo como valores na
medida em que são todas expressões de uma substância social
idêntica: o trabalho humano. O caráter objetivo da mercadoria (o
valor) é, portanto, puramente social. O trabalho abstrato é,
então, a propriedade adquirida pelo trabalho humano quando dirigido para
a produção de mercadorias.
19. A força de trabalho, na condição de valor de troca,
também tem seu valor determinado pelo tempo socialmente
necessário para a sua reprodução. Vendendo os produtos, o
capitalista recebe, de um lado, uma quantia igual à que investiu
anteriormente; de outro, uma mais valia, um excedente que provém do
resultado do trabalho concreto gerido pelo trabalhador. Daí a
definição do capital como a propriedade que garante ao
capitalista explorar trabalho alheio. O capital não é uma coisa,
mas uma relação social de exploração. No
capitalismo desenvolvido, a tecnologia apresenta-se como um método de
extração de mais valia relativa, pois a introdução
das máquinas e o uso da ciência para o desenvolvimento de novas
tecnologias e sistemas de organização da produção
propiciam o aumento progressivo e vertiginoso da produtividade sem a
necessidade de obtenção de maior produção por meios
meramente coercitivos ou com a extensão da jornada de trabalho.
20. Trata-se, na verdade, de reduzir o tempo de trabalho de que necessita o
trabalhador para reprodução de sua capacidade de trabalho, em
outras palavras, para a reprodução dos salários. Trata-se
da diminuição da parte da jornada em que ele trabalha para si
mesmo, a parte retribuída de seu tempo de trabalho. A maquinaria e as
técnicas de gerenciamento a serviço do capital, ao provocarem a
desvalorização da força de trabalho, têm como
finalidade primordial a diminuição da quantidade de trabalho
necessário para a produção de mercadorias, principalmente
da mercadoria mais importante do capitalismo: a força de trabalho.
Até porque o desenvolvimento das forças produtivas, nesses
moldes, embute a aplicação de novas formas de
dominação dos agentes produtivos, na intenção de
capturar a subjetividade operária para o processo hegemônico do
capital. Marx já afirmava na
Miséria da Filosofia:
"a partir de 1825, quase todas as invenções foram o
resultado de conflitos entre operários e patrões, que tratavam, a
todo custo, de depreciar a especialidade dos operários. Depois de cada
greve, ainda que fosse de pouca importância, surgia uma nova
máquina".
II – Capitalismo monopolista e imperialismo
21. O período compreendido entre meados da década de 1840 e 1873
(ano que assinalou o início da Grande Depressão na Europa) ficou
conhecido como a era de ouro do capitalismo de livre concorrência. Foram
anos que se caracterizaram pela rápida expansão econômica
em toda a Europa. Os modernos bens de capital ou bens de
produção, indispensáveis para levar adiante o processo de
industrialização, eram, em sua grande maioria, importados da
Inglaterra, cujas exportações cresceram, entre as décadas
de 1840 e 1860, como nunca visto antes em sua história. Entre 1830 e
1850, a Inglaterra viveu a fase do
boom
ferroviário, quando foram construídos cerca de dez mil
quilômetros de estradas de ferro, provocando aumento vertiginoso na
produção de ferro, aço e carvão.
22. As novas condições da economia inglesa permitiram o
notável aumento da exportação de capital britânico,
representando uma parte do fluxo de lucros e poupanças em busca de
investimentos e, graças à transformação do mercado
de capital na era das estradas de ferro (as bolsas de valores de Manchester,
Liverpool e Glasgow foram todas elas produtos da "mania
ferroviária" da década de 1840), o capital dispôs-se a
procurar inversões não somente nos tradicionais bens
imóveis e nos títulos de governo, mas também em
ações industriais. Com as estradas de ferro, a
Grã-Bretanha entrou num período de plena
industrialização. Sua economia já não se
equilibrava mais precariamente no estreito patamar dos setores pioneiros,
principalmente os têxteis. Alicerçava-se firmemente na
produção de bens de capital, o que facilitava o advento da
tecnologia e da organização modernas para uma grande variedade de
atividades. Somente ao final do século, tanto os Estados Unidos como a
Alemanha ultrapassariam a Grã-Bretanha na produção da
mercadoria crucial para a industrialização: o aço. A
partir de então, os ingleses passariam a integrar um grupo de grandes
potências industriais, mas deixariam de ter a liderança da
industrialização.
23. Mas justamente quando o capitalismo de livre concorrência parecia
atravessar a sua fase de maior esplendor, as forças que levariam
à concentração de capital, como previra Marx,
começaram a produzir os seus efeitos. Os aperfeiçoamentos
tecnológicos foram de tal monta que somente as fábricas de grande
porte puderam tirar proveito dos novos e mais eficientes métodos de
produção. A concorrência tornou-se tão agressiva e
destrutiva que, em pouco tempo, as empresas menores foram eliminadas. Os
concorrentes mais poderosos, em vias de se destruírem uns aos outros,
freqüentemente optavam por se associar, formando cartéis, trustes
ou fundindo-se para assegurar a sua sobrevivência. A sociedade
anônima por ações ou corporação converteu-se
num recurso eficaz que possibilitava a uma única
organização financeira assumir controle sobre vultosas
quantidades de capital. Desenvolveu-se, na Europa e nos Estados Unidos, um
vasto e bem organizado mercado de capitais, que centralizava, para as grandes
corporações, as pequenas poupanças em capital de milhares
de indivíduos e de pequenos empresários.
24. Em fins do século XIX, no mundo dominado pelas gigantescas
corporações que produziam em massa artigos destinados aos
mercados nacionais ou mundiais, a concorrência de preços teve
consequências tão devastadoras que as próprias
corporações acabaram renunciando a ela. Configurou-se uma
tendência inexorável à formação de um poder
monopolista exercido por algumas poucas corporações.
Várias grandes empresas se associaram voluntariamente, formando
cartéis ou
pools,
por exemplo, preservando, ao mesmo tempo, uma relativa autonomia de
ação. Outras formas de associação utilizavam uma
empresa financeira – um truste ou uma companhia (
holding
) para controlar as ações com direito a voto das
corporações participantes. Havia ainda a alternativa da
fusão ou amálgama de várias empresas, formando uma
única corporação unificada.
25. Uma característica central da economia mundial na chamada "Era
dos Impérios", entre 1875 e 1914, foi o alargamento de sua base
geográfica, tendo as relações capitalistas se expandido
para novas áreas do globo, na Europa, América do Norte e
Japão, deixando para trás o tempo do domínio absoluto da
Inglaterra como potência industrial e inaugurando a época do
imperialismo, marcada pela rivalidade entre os Estados capitalistas. Neste
período, firmaram-se no cenário internacional do capitalismo,
como novas grandes potências a ameaçar e a efetivamente provocar
danos ao poderio imperialista inglês, os Estados Unidos, após a
Guerra de Secessão, a Alemanha, findas as lutas pela
unificação, e o Japão, após a chamada
Revolução Meiji, processos históricos estes
responsáveis pela conquista da hegemonia dos grandes grupos
econômicos capitalistas em seus respectivos Estados, levando tais
países a adotarem internamente uma política econômica
homogênea em todo o território nacional, que garantia a
expansão das relações capitalistas já na fase
monopolista da produção.
26. A grande transformação ocorreu na forma de
organização da empresa capitalista, em consequência do
processo de concentração de capital, provocando o retraimento do
mercado de livre concorrência e dando origem a diferentes tipos de
concentração e integração de empresas. Este
processo de concentração fora resultado mesmo do funcionamento do
sistema capitalista, pois a concorrência desenfreada entre as empresas,
associada às crises sucessivas e à pressão por melhores
salários e condições de trabalho exercida pelo crescente
movimento operário, levava à absorção ou
eliminação das indústrias pelas suas concorrentes mais
fortes ou hábeis, acarretando no processo de monopolização
e oligopolização do capital. A concentração do
capital era sinônimo de uma acumulação capitalista operada
com um número cada vez menor de detentores de capital, resultando, ao
mesmo tempo, na diminuição do número de empresas e no
aumento do tamanho médio das suas plantas.
27. Tal processo de concentração de capitais ocorreu tanto nas
empresas industriais quanto nos bancos, provocando a substituição
da grande quantidade de pequenas casas bancárias por um pequeno
número de grandes bancos, forçando, ainda, que o capital
industrial buscasse a associação com o capital bancário,
pela necessidade de créditos e visando a formação das
sociedades anônimas por ações. Forjou-se, assim, o capital
financeiro, que passava a influir diretamente na vida das empresas, comprando e
vendendo ações, promovendo fusões e
associações entre os grupos empresariais e influenciando, junto
aos Estados, nas diretrizes das políticas econômicas
adotadas.
28. Outra característica fundamental deste processo histórico foi
a maior participação dos Estados, hegemonizados por grupos
empresariais, grandes proprietários de terras e banqueiros, na vida
econômica das nações capitalistas desenvolvidas,
abandonando-se, gradativamente, a tradicional política de
laissez-faire
predominante na fase concorrencial do capitalismo, logo após a
Revolução Industrial inglesa. Em sua nova fase de
desenvolvimento, o capitalismo exigia que os Estados adotassem medidas para
facilitar sua expansão, através de políticas
protecionistas e de investimento na indústria pesada e bélica,
com vistas a favorecer a exportação de produtos e capitais,
além de garantir a presença dos grandes conglomerados em
várias áreas do globo, em meio à acirrada disputa
imperialista que se estabeleceu entre as potências industriais.
29. A revolução tecnológica, promovendo grandes
mudanças na velocidade e no ordenamento da produção, foi
responsável por permitir, com a utilização de novas
técnicas e novas fontes de energia, o desenvolvimento da
indústria pesada e de bens de consumo duráveis. Tais
mudanças vieram acompanhadas de uma tentativa sistemática de se
racionalizar a produção e, conseqüentemente, aumentar a
produtividade, para o que as empresas passavam a adotar métodos
científicos na organização do trabalho dentro da
fábrica, como o taylorismo
e o fordismo. Estes métodos visavam, acima de tudo, o maior controle dos
patrões sobre a mão de obra operária, tendo se
constituído em novas formas de dominação burguesa sobre o
operariado dentro da fábrica, ao interferir diretamente no tempo de
trabalho e na forma de organização da produção.
Buscava-se, assim, quebrar a resistência dos trabalhadores à
exploração do capital, minando a solidariedade entre eles,
através da imposição de um ritmo feérico de
trabalho e da competitividade como norma entre os próprios
operários. As mudanças introduzidas por Taylor e Ford,
simbolizadas, respectivamente, no cronômetro e na esteira rolante,
não foram meras inovações tecnológicas, mas
verdadeiras revoluções de ordem administrativa e gerencial, pois
colocou a ciência da administração a serviço
não apenas do aumento da produção e da produtividade, mas,
fundamentalmente, do poder dos capitalistas, constituindo o despotismo de
fábrica.
30. Todo este conjunto de novas situações, em que se destacam a
forte concentração de capitais, a crescente capacidade produtiva
das empresas, devido às inovações tecnológicas, o
acirramento da luta de classes, com o fortalecimento do movimento
operário na segunda metade de século XIX, provocaram a
necessidade imperiosa de conquista de territórios que representassem
novos mercados consumidores dos produtos industrializados, ao mesmo tempo em
que se caracterizavam como fornecedores de matérias-primas e mão
de obra barata ou semi-escrava. Para Lênin, configurava-se um novo
patamar histórico, uma mudança qualitativa no capitalismo
até então existente. O imperialismo não envolvia apenas a
partilha do mundo, mas uma nova articulação entre ciência e
processo produtivo, o aumento das exportações de capitais, uma
nova correlação de forças entre a classe trabalhadora dos
países imperialistas e as respectivas burguesias, novas
relações entre capital financeiro e Estado. A
concentração ampliada de capitais alterava qualitativamente as
relações sociais, impondo novas e mais perversas formas
econômicas, sociais, políticas e ideológicas – de
caráter mundial. A tendência à monopolização
expressava que, para manter-se como forma de acumulação ampliada,
o capital precisava efetuar significativas e efetivas
transformações no conjunto da vida social, implicando em novos
desafios para a luta de classes.
As crises econômicas capitalistas
31. O processo de aprofundamento e alargamento das relações
capitalistas no mundo veio acompanhado de outro, igualmente drástico,
para as populações: o das sucessivas crises de
superprodução, que passavam, a contar da década de 1870, a
fazer parte da realidade econômica dos países capitalistas
desenvolvidos, cujas consequências atuariam no sentido de contribuir,
sensivelmente, para a promoção de alterações
profundas na estrutura das sociedades burguesas. A partir da
consolidação do capitalismo na sua fase imperialista, percebem-se
as crises econômicas como muito mais prolongadas, ao contrário do
que se podia sentir nas crises anteriores à transição para
o capitalismo monopolista, as quais teriam se caracterizado por serem
explosivas e menos duradouras, causadas, principalmente, por más
colheitas e ausência de produtos no mercado, provocando fome,
miséria e revoltas sociais de vulto, a canalizar o descontentamento
imediato das massas.
32. De fato, somente com a passagem para o capitalismo monopolista, a Europa
continental passaria a sentir a plena expansão das
relações capitalistas no campo, transformando a antiga estrutura
baseada no atendimento às necessidades de consumo dos produtores em uma
economia voltada, essencialmente, à produção de
mercadorias. Neste momento, o caráter das crises também se
transforma. Hilferding, cujos estudos ajudaram Lênin a desenvolver suas
análises sobre o imperialismo, dizia que, na produção
mercantil pré-capitalista, as perturbações na economia
eram decorrentes de catástrofes naturais ou históricas, como
queda da colheita, secas, epidemias, guerras. Isto porque tal
produção era dirigida a atender às necessidades
próprias dos produtores, ligando produção e consumo como
meio e fim, ao passo que somente o capitalismo plenamente consolidado passa a
generalizar a produção de mercadorias, fazendo com que todos os
produtos tomem a forma de mercadorias e tornando o produtor dependente do
mercado, ao fazer da venda da mercadoria condição prévia
para a retomada da produção.
33. A dependência do produtor em relação ao mercado, a
anarquia na produção e a separação do produtor do
consumo (o produto deixa de ser propriedade do produtor e, consequentemente,
sua produção não tem mais como objetivo central o seu
consumo) são características da produção
capitalista, ou seja, da produção cujo objetivo é a
realização e multiplicação do lucro. A
possibilidade de crise no capitalismo nasce da produção
desordenada e do fato pelo qual a extensão do consumo,
pressuposição necessária da acumulação
capitalista, entra em contradição com outra
condição, a da realização do lucro, já que a
ampliação do consumo de massas exigiria aumento de
salários, o que provocaria redução da taxa de mais valia.
Tal contradição insanável faz com que o capital busque
compensá-la através da expansão do campo externo da
produção, isto é, da ampliação constante do
mercado. Quanto mais a força produtiva se desenvolve, tanto mais entra
em antagonismo com a estreita base da qual dependem as relações
de consumo. Portanto, a crise periódica é inerente ao
capitalismo, pois somente pode ser resultante das condições
específicas criadas pelo próprio sistema.
34. Segundo a teoria exposta originalmente por Marx no Livro III de
O Capital,
quanto mais se desenvolve o capitalismo, mais decresce a taxa média de
lucro do capital. Esta ideia fundamenta-se no fato de que o processo de
acumulação capitalista leva, necessariamente, ao aumento da
composição orgânica do capital, a qual é apontada
como sendo a relação existente entre o capital constante (o valor
da quantidade de trabalho social utilizado na produção dos meios
de produção, matérias-primas e ferramentas de trabalho, ou
seja, o "trabalho morto" representado, basicamente, pelas
máquinas e pelos insumos necessários à
produção) e o capital variável (valor invertido na
reprodução da força de trabalho, o "trabalho
vivo" dos operários). O processo de acumulação
resulta na tendência à substituição do
"trabalho vivo", a única fonte de valor, por "trabalho
morto", que não incorpora às mercadorias nova quantidade de
valor, mas apenas transmite às mesmas a quantidade de valor já
incorporada nos meios de produção. Como a taxa de lucro depende
da taxa de mais valia, cujo valor se reduz com a redução do
"trabalho vivo", as taxas de lucro, a longo prazo, tendem a
decrescer.
35. Tal situação é decorrente da própria
concorrência inerente ao sistema capitalista, a qual obriga os
capitalistas a buscar superar seus rivais através do investimento em
meios de produção tecnologicamente mais avançados, para
reduzir os custos da produção, além de tentar economizar
ao máximo na parcela relativa ao capital variável, em
função do acirramento dos conflitos provocados pela luta de
classes e pelo fortalecimento do movimento operário. A queda da taxa de
lucro, portanto, é resultado, em última instância, da
tendência à substituição do "trabalho
vivo" por "trabalho morto", fazendo reduzir a fonte de mais
valia, o que acaba por originar uma superacumulação de capital e
de mercadorias, ao mesmo tempo em que promove uma restrição na
capacidade de consumo da sociedade, por causa do desemprego que
desencadeia.
36. Com o desenvolvimento pleno do capitalismo, cresce a interdependência
internacional dos processos econômicos nacionais, situação
que se reflete no caráter das crises, fazendo da crise capitalista um
fenômeno mundial. Ao mesmo tempo, porém, enquanto as firmas
menores sofrem a falência e a bancarrota em massa, o processo de
concentração do capital faz aumentar a capacidade de
resistência da grande empresa. Enquanto a produção
artesanal e voltada para consumo próprio é praticamente
aniquilada com o progresso do capitalismo, a grande empresa, cuja
produção passa a atingir amplos mercados e se diversifica, pode
prosseguir durante a crise, mesmo tendo sido forçada a reduzir parte da
produção. A resistência às crises é
também aumentada pela forma de organização da sociedade
anônima, que, decorrente da crescente influência dos bancos junto
às indústrias, é responsável pela maior facilidade
na captação de capitais e no acúmulo de reservas na
época de "prosperidade", além de proporcionar um
controle maior na gerência do capital.
37. Do quadro exposto não convém inferir que as empresas
resultantes de processos de concentração, fusão ou
cartelização sejam capazes de debelar os efeitos da crise, mas,
sim, que possam encará-los de maneira menos traumática, pois o
peso maior da crise será sentido pelas indústrias não
cartelizadas. No que tange à luta de classes, a
concentração de capital faz crescer o poder do empresariado no
enfrentamento à organização crescente dos trabalhadores. A
grande indústria também é capaz de oferecer maior
resistência às greves operárias do que, antes, permitia a
estrutura das pequenas e médias empresas, isoladas entre si e competindo
umas com as outras.
38. Na fase imperialista, o poder industrial separa-se da fábrica e
centraliza-se num truste, num monopólio, num banco, ou na burocracia de
Estado, sendo ultrapassada a fase liberal na qual o proprietário era, ao
mesmo tempo, empreendedor, gerenciando uma propriedade individual ou familiar.
A concorrência clássica da época da "mão
invisível do mercado" foi substituída pela
concorrência entre oligopólios, empresas múltiplas
comandadas por gerências que trocaram a gestão empirista e
intuitiva do capitalismo liberal pelo planejamento estratégico. Ao
contrário do que parte da esquerda imaginou, a
planificação gerencial das empresas não significou um
passo na direção do socialismo, pois a competição
não deixou de existir, apenas tendo se transferido para novos patamares,
assim como o planejamento oligopolista não alterou a estrutura da
sociedade, mas contribuiu para o processo de renovação e
ampliação da hegemonia burguesa.
III – O capitalismo contemporâneo
39. As tendências verificadas na passagem para o imperialismo
aprofundaram-se durante a primeira metade do século XX, sendo
responsáveis pela eclosão de duas guerras mundiais, entremeadas
pela grande crise econômica de 1929 e a ascensão do nazi-fascismo.
Uma nova ordem econômica mundial foi erigida, no mundo capitalista,
após a Segunda Grande Guerra, muito em função do
surgimento de um poderoso bloco socialista capitaneado pela União
Soviética. A Conferência de Bretton Woods, realizada nos EUA
em 1944, estabelecia as bases da economia capitalista contemporânea, com
a definição das regras do sistema monetário e financeiro
internacional capitalista ao fim do conflito, visando impedir o excesso de
moeda circulante e a inflação (conforme a ortodoxia liberal, o
excesso de dinheiro circulando no mercado e altos salários dos
trabalhadores eram apontados como principais causadores da
inflação e das crises econômicas).
40. A conjuntura do pós-guerra apontava para o poderio
inquestionável dos Estados Unidos, que saíam da guerra como a
grande potência econômica, financeira, política e militar,
liderando o bloco capitalista e iniciando a Guerra Fria contra a União
Soviética e o bloco socialista. Duas nações poderosas,
Alemanha e Japão, estavam derrotadas; França e Inglaterra
debilitadas pela guerra. O dólar foi definido como moeda padrão
internacional (os EUA detinham 80% das reservas de ouro do planeta, e o Tesouro
norte-americano garantia a conversibilidade do metal em troca de
dólares). Foi o momento da criação do BIRD (Banco
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento, o Banco
Mundial), do FMI (Fundo Monetário Internacional), que receberam dos EUA
um capital de U$ 10 bilhões e do GATT (atual Organização
Mundial do Comércio). Estas instituições foram criadas com
o objetivo de administrar um sistema no qual o desenvolvimento econômico
mundial passava a depender em larga medida da aceitação das
condições impostas pelos Estados Unidos.
41. O Plano Marshall encabeçou a ajuda estadunidense aos países
capitalistas destruídos pela guerra. Foram destinados U$ 13
bilhões à Europa, com desvalorizações
maciças das outras moedas em relação ao dólar e
politizando as relações econômicas dos EUA com os demais
países, em função do endurecimento com o Leste europeu.
À medida que crescia a participação dos EUA na defesa do
chamado "mundo livre" (capitalista), os gastos militares desse
país passaram a representar o maior movimento de capitais para o
exterior.
42. A nova conjuntura internacional enterrava definitivamente a antiga ordem
imperial baseada na colonização direta. O "novo
imperialismo" implicou que cada vez mais regiões do globo se
tornassem dependentes do mercado, fato que permitiria à nova
potência imperial capitalista (EUA) penetrar muito além do alcance
da conquista militar e do domínio político direto. O capitalismo,
que sempre foi capaz de gerar novas e crescentes necessidades de
expansão permanente, demonstrava também ser capaz de produzir
outra forma de dominação, diferente de qualquer uma que tenha
existido no passado: a dominação não mais exclusivamente
dependente do controle político e militar direto, mas realizada
através de imperativos econômicos e da subordinação
ao mercado, manipulado em benefício do capital imperialista.
43. Novos métodos de sujeição foram desenvolvidos,
permitindo às principais potências capitalistas e aos Estados
Unidos, em particular, direcionarem os Estados a agirem em benefício do
grande capital, sem a necessidade de a todo momento exercer o domínio
militar direto. Ilustração significativa desta mudança foi
a emergência da Alemanha e do Japão após a guerra, com a
ajuda de seus antigos adversários, como os maiores competidores
econômicos dos EUA, numa relação contraditória de
concorrência e cooperação.
44. Nos anos seguintes à guerra, os Estados Unidos e as principais
economias capitalistas viveram um longo
boom
econômico. Em tais condições, havia interesse real no
desenvolvimento das economias nacionais, tendo em vista que isso significava a
expansão dos mercados consumidores. Tal situação favoreceu
a emergência do
Welfare State
(Estado de Bem Estar Social), caracterizado pela aplicação de um
conjunto de medidas e leis de proteção aos trabalhadores adotadas
pelos Estados europeus a partir de 1945. Em países como Inglaterra,
França, Suécia, Alemanha e outros, o Estado passou a ser
responsável pela previdência social, pela assistência
médica universal, estabelecendo, ainda, seguros sociais que garantiam o
amparo à velhice, à invalidez, à maternidade e aos
desempregados. Além disso, o Estado passava a controlar os setores
estratégicos da economia (energia, comunicações,
transportes, serviços públicos, etc).
45. A emergência do
Welfare State
foi consequência de uma série de fatores conjugados, para
além da conjuntura de crescimento econômico após a Segunda
Grande Guerra: a conquista de direitos sociais e trabalhistas pelo movimento
operário europeu, após mais de um século de embates; o
receio de novas crises econômicas após o
crack
da Bolsa de Nova York, em 1929; a experiência keynesiana anterior nos
Estados Unidos, com o
New Deal,
durante o governo Roosevelt; a ascensão ao poder de partidos
social-democratas, trabalhistas ou socialistas; o fortalecimento dos partidos
comunistas após a guerra, graças à
participação destacada na resistência ao nazifascismo em
seus países e ao prestígio conquistado pela União
Soviética em função de sua decisiva atuação
para a derrota da Alemanha nazista e para a libertação dos
territórios sob domínio alemão; a pressão
político-ideológica exercida pelo bloco socialista.
46. Os primeiros sintomas de uma nova crise capitalista de grandes
proporções, porém, foram sentidos na década de
1960, quando o passivo externo, isto é, o dólar circulante fora
dos Estados Unidos, era exatamente igual às reservas norte-americanas em
ouro. Se todo mundo chegasse com dólar e exigisse do governo dos EUA a
troca por ouro, as reservas cairiam a zero. Daí para a frente, o
distanciamento entre o passivo externo e o ouro nos EUA só tendeu a
aumentar. A conjuntura internacional era marcada pela crescente
recuperação das economias européias e do Japão,
resultando na maior concorrência das empresas destes países com as
norte-americanas, acompanhada de um processo acirrado de lutas de
libertação nacionais na África e na Ásia
(1958/1963) e da expansão da Guerra Fria. A participação
direta dos EUA em conflitos regionais, como as Guerras da Coréia e do
Vietnam aprofundaram os gastos militares e a corrida armamentista. Daí
que a crise do petróleo, em 1973, tenha sido apenas a gota d'água
de um processo de crise de superprodução já há
tempos anunciado.
Neoliberalismo e globalização
47. O
boom
econômico terminava nos anos 1970, em grande parte porque a
competição entre as grandes potências capitalistas produzia
uma crise de superprodução e queda de lucros. Começava um
novo movimento descendente na economia capitalista globalizada. Paralelamente,
a crise política vivenciada nos anos 1980 pelos países
socialistas do Leste Europeu e, com maior dramaticidade, pela União
Soviética da era Gorbatchev, possibilitou a ofensiva do grande capital
na fase neoliberal, marcada pela ascensão ao poder de grupos de direita,
por meio das eleições, em diversos países ocidentais
(Margaret Thatcher, 1979, Inglaterra; Ronald Reagan, 1980, EUA; Helmut Khol,
1982, Alemanha; Schluter, 1983, Dinamarca).
48. As origens do pensamento neoliberal estão ligadas ao livro
O Caminho da Servidão,
do economista Friedrich Hayek (1944), através do qual atacava a
social-democracia e o keynesianismo, buscando resgatar as bases teóricas
do liberalismo clássico, às vésperas das
eleições na Inglaterra, vencidas pelos trabalhistas, logo
após a guerra. Em 1947, uma reunião de intelectuais
contrários à política keynesiana, em Mont Pèlerin,
na Suíça, inaugurava a "francomaçonaria
neoliberal". Hayek e seus companheiros argumentavam que o novo
"igualitarismo" do período, promovido pelo Estado de Bem Estar
Social, destruía a liberdade dos cidadãos e a vitalidade da
concorrência, da qual dependeria a prosperidade de todos. Somente cerca
de quarenta anos depois o pensamento neoliberal encontrava campo fértil
para sua difusão, sendo adotado pelos grupos econômicos que
hegemonizaram os Estados nacionais com políticas de desmonte dos
sistemas de bem estar e de ataques às conquistas dos trabalhadores,
visando inaugurar uma nova fase de acumulação capitalista.
49. As raízes da crise dos anos 1970, segundo os neoliberais, estaria no
poder excessivo e nefasto dos sindicatos e, de maneira geral, do movimento
operário, que havia corroído as bases da acumulação
capitalista com suas pressões reivindicativas sobre os salários e
com sua "pressão parasitária" para que o Estado
aumentasse cada vez mais os gastos sociais. Tais processos teriam sido
responsáveis pela redução dos níveis
necessários de lucros das empresas e pelo desencadeamento de movimentos
inflacionários, provocando a crise econômica. As
soluções propostas para enfrentamento da crise centravam-se na
conformação de um Estado forte para romper com o poder dos
sindicatos e para controlar a circulação do dinheiro, ao mesmo
tempo em que se apresentava como um Estado mínimo na
intervenção direta na economia e nos gastos sociais.
50. As metas supremas dos governos neoliberais passavam a ser a estabilidade
monetária; a contenção dos gastos com o bem estar social;
a restauração da taxa "natural" de desemprego, ou seja,
o aumento do exército de reserva de mão-de-obra, para reduzir
salários e quebrar o poder de pressão dos sindicatos; as reformas
fiscais para incentivar agentes econômicos; a redução dos
impostos cobrados aos mais ricos e às grandes fortunas (setor
dinâmico da sociedade capitalista). Uma nova e "saudável
desigualdade" voltaria a dinamizar as economias avançadas.
51. Dentre as principais políticas adotadas pelos governos neoliberais
estavam os programas de privatizações de empresas estatais nos
setores estratégicos e de serviços públicos, favorecendo o
avanço dos processos de oligopolização e
monopolização do capital. O desmonte do Estado de Bem Estar se
deu através do corte nos gastos sociais e da
mercantilização dos direitos sociais duramente conquistados pelas
classes populares, os quais foram convertidos em bens ou serviços
adquiríveis no mercado (saúde, educação, seguridade
social transformam-se em mercadorias). A ideologia dominante promove a
exaltação do mercado: competir é a regra; cidadania vira
sinônimo de possibilidade de acesso ao consumo dos bens no mercado.
52. Desenvolvem-se novas formas de dominação dos trabalhadores,
associadas à crescente deterioração e
precarização dos direitos trabalhistas, com a necessária
depreciação do valor de uso da mais importante das mercadorias no
sistema capitalista: a força de trabalho. O aumento do desemprego
industrial nos países de capitalismo desenvolvido, a
adoção de novas técnicas de gerenciamento da
produção e de controle da força de trabalho, sob a
égide do toyotismo, os processos de terceirização e
fragmentação das unidades produtivas (a
reestruturação produtiva), a expropriação do
contrato de trabalho e dos direitos sociais, como forma de tornar o emprego
descartável e a mão de obra plenamente disponível para o
capital, tudo isso contribui para a perda do sentido de classe e da capacidade
de organização e de resistência à
exploração por parte dos trabalhadores.
53. Uma das principais teses propagadas pelas correntes neoliberais é a
de que a chamada globalização contemporânea, além de
caracterizar uma nova época histórica marcada pelo triunfo final
do capitalismo, o que teria fechado as portas para outras alternativas
políticas e sociais, promoveria uma crescente unidade e
integração do capital internacional. A
transnacionalização do capital significaria não a
intensificação da concorrência, mas, ao contrário, o
declínio da competição entre os grandes capitalistas e a
interpenetração dos capitais de origens nacionais, por meio de
uma crescente colaboração entre as empresas. Haveria, assim, uma
relação inversa entre globalização e
competição. Quanto mais globalmente integrado ficasse o
capitalismo, menos concorrência haveria.
54. Na verdade, a globalização moderna significa justamente o
contrário. Não podemos esquecer jamais que a
competição é e sempre será o coração
do sistema capitalista e que será sempre uma lei da concorrência
que o capital busque caminhos para vencer ou evitar a competição.
Sendo assim, uma das conseqüências da competição
capitalista é o fato de que os perdedores poderão ser absorvidos
pelos vencedores. Portanto, a tendência à
concentração e à centralização do capital
é uma das expressões da concorrência, não sua
antítese. A competição envolvendo grandes
corporações transnacionais intensifica-se à medida que
novos e cada vez mais agressivos competidores participam da guerra pelos
mercados.
55. A revolução das comunicações e a
introdução da automação, que em um primeiro momento
reduziu a capacidade de negociação da classe operária,
possibilitaram a concentração da produção em
unidades produtivas especializadas e capazes de abastecer o mercado mundial. A
criação de mercados comuns e a queda de barreiras
tarifárias facilitaram o fluxo de mercadorias. Teóricos
anunciaram a sociedade pós-industrial e a era dos serviços. Na
esquerda, virou moda dizer que o tempo do trabalho se foi e seria a vez dos
excluídos. O proletariado não diminuiu, ao contrário,
cresceu em termos mundiais.
56. O capitalismo incorporou regiões e populações inteiras
à produção de mercadorias. Desorganiza a economia
camponesa da China e da Índia, separando os trabalhadores dos seus meios
de produção. Cerca de um bilhão e meio de trabalhadores
foram incorporados à produção capitalista de mercadorias.
Com novos trabalhadores e novos consumidores, o capitalismo garantiu mais um
ciclo de expansão. Cento e cinquenta anos de conquistas sociais dos
trabalhadores da Europa e dos EUA, o Estado de Bem Estar Social e a
concorrência do bloco socialista encareceram o preço da
força de trabalho. A produção manufatureira, em grande
parte, migrou da Europa, dos EUA e do Japão para outras regiões
– norte do México, Malásia e Indonésia, sul da China
e Índia. Esse processo persiste, na busca de menores custos de
reprodução da força de trabalho. Pela primeira vez, a
maioria da população mundial está submetida ao processo de
produção de mais valia, vivendo no assalariamento, vendendo sua
força de trabalho aos detentores de meios de produção.
Mais do que nunca, a contradição capital-trabalho é a
principal em nosso tempo, não apenas como figura de
retórica.
57. O impulso inicial do grande crescimento chinês foi dado pela
produção para exportação de manufaturas de baixa
qualidade. Multinacionais de todos os setores – eletroeletrônicos,
brinquedos, autopeças – se instalaram na China ou terceirizaram a
produção em empresas locais. Os custos baixos da força de
trabalho e o controle cambial por parte do governo chinês permitiram a
prática de preços bem abaixo dos padrões então
vigentes. Mas a China tem diversificado a sua matriz industrial, dependendo
cada vez menos da exportação de manufaturas de baixo valor
agregado. Seu vigoroso crescimento industrial e a consequente
elevação do nível de vida de parte da sua
população têm demandado quantidades cada vez maiores de
combustíveis, minérios e alimentos no mercado mundial. Em
contrapartida à deflação das manufaturas, assiste-se a uma
inflação de produtos primários.
58. No mundo neoliberal e imperialista, os países e Estados nacionais
continuaram a desempenhar um papel central, a despeito do muito que já
se falou sobre a "globalização". Em muitos aspectos, o
poder estatal foi reforçado. É o caso das políticas
monetárias que visam à estabilidade dos preços, a despeito
do desemprego que geram. É o caso das políticas econômicas
e sociais visando reduzir o custo do trabalho. No plano internacional, os
Estados foram os vetores da mundialização da ordem neoliberal,
pela eliminação das barreiras à circulação
de bens e capitais e da abertura dos países ao capital internacional,
principalmente, pela venda, a baixos preços, das empresas
públicas mais rentáveis.
59. Para exercer o seu alcance global, o capitalismo precisa dos Estados
nacionais para manter as condições vitais ao sucesso de suas
operações, ou seja, todo um aparato legal, político,
administrativo e coercitivo capaz de prover a ordem necessária à
manutenção do sistema de propriedade numa situação
de cada vez mais violenta desigualdade. Além disso, o capital global se
beneficia do desenvolvimento desigual e da diferenciação
existente nas diversas economias do mundo, que proporcionam fontes baratas de
trabalho e de recursos, ao mesmo tempo em que controlam a mobilidade da
mão de obra. A forma política do capitalismo global, portanto,
não é um Estado global, mas um sistema global de múltiplos
Estados locais.
60. O capitalismo não criou o Estado nação, mas não
é casual o fato de este instrumento da dominação burguesa
ter praticamente se tornado a forma política universal no período
em que os imperativos do mercado capitalista se difundiram até abranger
todo o globo. Acima de tudo, no mercado globalizado, o capital necessita do
Estado para manter as condições de acumulação e
competitividade de várias formas, preservando a disciplina do trabalho e
a ordem social em face das crescentes políticas de
expropriação (de direitos, contratos, postos de trabalho,
conquistas sociais, etc). Toda corporação transnacional se erige
sobre uma base nacional que depende de um Estado local para manter sua
viabilidade, assim como necessita que outros Estados lhe proporcionem o acesso
a novos mercados e a novos contingentes de trabalhadores. Processos
históricos nacionais de conquista da hegemonia na sociedade e no Estado
por parte das frações burguesas locais associadas aos capitais
transnacionais garantiram a efetiva expansão da ordem neoliberal em
diversos países.
61. A globalização como uma forma de imperialismo necessita da
desigualdade entre as economias nacionais e regionais, pois o capital se
fortalece na diferenciação da economia mundial, tendo liberdade
para se deslocar com o propósito de explorar regimes de mão de
obra mais barata. Ao mesmo tempo, a relação entre poder
econômico e poder político, entre capital e Estado, não
sendo uma relação mecânica, mas contraditória e
complexa, pode ser fonte de instabilidades para o domínio do capital
globalizado. As realidades locais, onde efetivamente acontecem os processos de
luta de classes, a todo momento sofrem mudanças em função
das contradições históricas e dos conflitos sociais, como
pode ser verificado na conjuntura de amplos movimentos de massas e
ascensão de governos de corte popular nos últimos anos na
América Latina, assim como nas explosivas e massivas revoltas recentes
na Grécia.
62. Diante deste quadro de instabilidade política e social permanente, o
imperialismo, com seu centro hegemônico nos Estados Unidos, buscou
aplicar, sob o governo Bush, a doutrina da "guerra permanente",
elegendo o "terrorismo" como inimigo central a ser abatido, com o
real objetivo de sustentar a hegemonia do capital global estadunidense numa
economia mundial administrada por muitos e diferenciados Estados locais. A
política belicista do governo Bush foi adotada em função
da necessidade de manutenção da indústria bélica. O
Pentágono garante o funcionamento da indústria no único
setor que não é exportado nem terceirizado: o complexo industrial
militar. É verdade que o complexo não está imune à
crise da indústria americana, porém, consegue polpudos lucros,
com a invenção de guerras e pagamentos à vista e com altos
sobrepreços.
63. Para a ação global imperialista, o funcionamento deste
complexo industrial militar, por meio da demonstração de um poder
militar maciço, tem fundamentalmente a pretensão de exercer um
efeito intimidatório em todo o planeta, com os EUA assumindo o papel de
"polícia do mundo" em favor do capital. Como o poder militar
estadunidense não consegue estar em todo lugar o tempo todo, nem impor
um sistema de Estados plenamente subservientes, a ação
imperialista dos EUA se utiliza do efeito demonstração, atacando
alvos fragilizados e previamente escolhidos, justamente por não
oferecerem ameaça real imediata, como ocorre no Iraque e no
Afeganistão.
A crise econômica atual
64. Nos últimos anos, o capitalismo tem vivido ciclos de crise e
expansão cada vez mais curtos e constantes. Desde o crash da bolsa
americana, em 1987, o capitalismo assistiu aos seguintes choques: crise
imobiliária no Japão, no início dos anos 1990, seguida
pela estagnação dessa economia por mais de uma década;
crise asiática, em 1997, com a quebra do mercado de capitais e de
câmbio e perda de dinamismo da Coréia e demais tigres
asiáticos; a crise dos fundos, em 1998; crise cambial na Rússia,
em 1999; crise cambial no Brasil, México e Argentina, em 2001; estouro
da bolha da internet, em 2002; crise do mercado imobiliário
estadunidense e crise de liquidez bancária na Europa e nos EUA. O
aspecto financeiro dessas crises é reflexo da perda de dinamismo das
economias da União Européia, EUA e Japão. A crise do
subprime
em 2007 foi resultado direto da diminuição da renda do
trabalhador americano e do desemprego.
65. Na esteira da crise de 1987, os mecanismos de controle dos bancos centrais
se sofisticaram, bem como a coordenação entre esses bancos.
Existe uma rede internacional da liquidez, na qual participam o Federal
Reserve, dos EUA, o Banco Central Europeu, o Banco da Inglaterra e o Banco
Central Japonês. Ao mesmo tempo, a busca por ganhos maiores trouxe um
desenvolvimento constante da "tecnologia" financeira, com o
surgimento de novos fundos, securitização,
diversificação de portfólios e derivativos. A garantia da
liquidez fez os detentores de riqueza assumirem riscos maiores, criando um
risco moral, em função do papel garantidor de última
instância dos bancos centrais. Mecanismos de governança
bancária e de disciplina da liquidez, como os acordos da
Basiléia, viraram letra morta, com a autonomia dos gestores de fundos,
autonomia esta estimulada pelos grandes bancos, em busca de ganhos extras e
diluição de riscos.
66. A velocidade das comunicações, casada com a
desregulamentação geral dos mercados de dinheiro e ativos,
permitiu a atuação dos detentores de riqueza por todo o planeta.
A flexibilidade de atuação dos detentores de riqueza intensificou
a concorrência por capitais. Empresas e governos ofereceram aos
aplicadores remunerações acima das taxas de
inflação e de crescimento real da economia, aumentando os volumes
de recursos nas mãos dos detentores de riqueza. Isso gerou uma
superabundância de liquidez (dinheiro disponível para
investimentos reais e financeiros), que, em consequência, levou a uma
inflação de ativos. A globalização das
finanças é decorrente da universalização do
capital. Essa universalização nada mais é do que a
universalização da extração da mais valia, da
exploração da força de trabalho.
67. A estagnação da economia estadunidense é um
fenômeno claro desde a década de 1970. Mesmo entremeado de
períodos de grande crescimento, como na segunda metade dos anos 80 e de
meados dos anos 90, a tendência para o baixo crescimento é
constante. Os EUA assistiram a migração de várias de suas
indústrias – para México, China, Leste Asiático
– e a desnacionalização de muitas de suas empresas. A
indústria automobilística, carro chefe da economia nos EUA,
enfrenta uma crise sem precedentes, com fortes prejuízos das três
maiores montadoras. A infraestrutura sofre com o abandono e a falta de
investimentos. O peso dos EUA no PIB global diminui ano a ano.
68. Importador universal, os EUA geram um imenso déficit externo, casado
com um déficit fiscal de similar magnitude. Para fazer frente a estes
déficits, o capitalismo estadunidense depende do endividamento,
endividamento do governo, das empresas e das famílias. Para sustentar
esse endividamento, os EUA se tornaram os maiores importadores de capital.
Vendem títulos de governo, ações, obrigações
privadas, títulos de todo o tipo, empresas, tudo para sustentar o
serviço das dívidas pública e privadas. Os EUA são
o centro da especulação financeira, atraindo todo o tipo de
dinheiro, dos fundos soberanos da Ásia e do Oriente Médio aos
lucros das máfias de todo o tipo. O cassino global é vital para o
financiamento do capitalismo nos EUA. A crise financeira é a crise da
economia real estadunidense.
69. A economia dos EUA é vítima do próprio expansionismo.
As grandes empresas procuram outros pousos, onde o custo da
reprodução da força de trabalho é mais baixo. A
revolução tecnológica elevou a composição
orgânica do capital, aumentando as taxas de mais valia e reduzindo as
taxas de lucro. Isso forçou a uma concentração de capital
em proporções nunca vistas, com fusões e
aquisições que se espalham pela produção
capitalista no mundo todo. A oligopolização da economia,
inclusive do comércio varejista, destruiu a pequena e média
indústria dos EUA.
70. Mas a mais recente crise econômica global não se restringe
à esfera financeira ou ao mercado estadunidense. Trata-se de uma crise
de superacumulação, tendo rapidamente se alastrado por todo o
sistema capitalista e todos os países do mundo. Pelos volumes de
recursos que envolve, é uma crise maior que a de 1929 e, como o
capitalismo está globalizado, seja no comércio de bens e
serviços, nas cadeias produtivas, no caráter mundial das grandes
empresas ou na movimentação financeira, ela atinge,
simultaneamente, o centro do sistema, ou seja, Estados Unidos, Europa e
Japão, e impacta os chamados mercados emergentes, como China,
Rússia, Índia e Brasil. Muitos outros países, cujas
economias dependem de suas exportações para os grandes centros do
capitalismo, já sofrem os efeitos da crise, uma vez que, assim como a
China, reduziram suas compras no exterior. A saída de capitais para as
matrizes das empresas e bancos é outra fonte de abalo para estes
países.
71. A origem deste processo é o "estouro" do mercado de
crédito imobiliário dos EUA, onde empresas construtoras e
compradores aliaram-se na inadimplência, oferecendo e aceitando
créditos sem garantias, combinando ganância pelos ganhos
fáceis com aplicações financeiras e
operações sem lastro (apostas, como num cassino) com a
imprudência gerada por um padrão de consumo exacerbado. Mas este
é apenas um aspecto superficial da crise. Se levarmos em conta que as
taxas de lucro das grandes empresas mundiais – principalmente as de matriz
nos EUA – estão em queda desde os anos 1960, fica evidente que a
busca por ganhos financeiros de investidores diversos, além do movimento
especulativo em si, é uma tentativa das empresas de manter o
nível de suas taxas de lucro. Em função da crescente
expropriação dos trabalhadores e da redução de sua
capacidade de compra em nível mundial, as empresas produzem mais do que
os mercados em retração podem absorver. Assim, a onda sucessiva
de compra e venda de papéis acaba por criar um castelo de cartas, que
facilmente desmorona por não ter vínculos com a economia real, da
produção. Ocorre, assim, a superacumulação de
capitais e a impossibilidade de valorizá-los na esfera da
produção.
72. Ainda é cedo para que os efeitos e a duração da crise
sejam estimados com precisão, pois se, por um lado, o montante de
capital envolvido é muito alto, é também correto afirmar
que hoje, ao contrário de 1929, os Estados estão mais aparelhados
para fazer frente a problemas econômicos. Há
instituições mais fortes, articulação internacional
e uma aliança entre os Estados capitalistas, para os quais a
debelação da crise é uma necessidade. As receitas
disponíveis, do ponto-de-vista do capital, são a receita
keynesiana – com mais gastos públicos na produção e
base fiscal – e a receita monetarista, com a liberação de
mais dinheiro para produtores privados e consumidores, na forma de
crédito, com juros baixos. Outra saída, a saída
"natural" do sistema, ou seja, simplesmente deixar que as empresas
quebrem, ou que haja fusões e incorporações para que
empresas mais fortes surjam, para que o capitalismo se renove e volte mais
forte, tem sido descartada pelos principais líderes do governos dos
países centrais, como os presidentes Sarkozy, da França, e Obama,
dos EUA.
73. As primeiras respostas oferecidas pelos governos dos países centrais
combinaram elementos de ajuda e de estatização de bancos e
socorro a empresas de grande porte, além de baixas nas taxas de juros. A
evolução da crise depende, portanto, da combinação
de medidas a serem tomadas e o peso dado a cada uma delas. No momento, os
sinais claros são de recessão, que poderá prolongar-se,
tornando-se uma depressão, ou convergir para um período de alguns
anos sem crescimento, ou seja, de estagnação, trazendo consigo o
desemprego e grandes tensões sociais no centro e na periferia do
capitalismo. Neste quadro, a ofensiva contra os salários, direitos e
garantias dos trabalhadores e até mesmo a vigência de modelos
autoritários de exercício de poder são uma possibilidade a
mais.
74. A reunião do G-20, realizada em Washington ao final de 2008, apontou
para algumas ações voltadas para estimular a demanda, como
medidas fiscais, mudanças na política monetária, mais
recursos para o FMI ajudar as economias emergentes, empenho para romper o
impasse na Rodada de Doha neste ano, reforma das instituições de
Bretton Woods para dar mais voz às economias emergentes, entre outras
medidas, no que parece ser um passo no sentido de reforçar os aspectos
regulatórios e de ação coordenada dos principais
países do mundo.
75. A crise representa o fim de um período marcado pela presença
hegemônica do projeto neoliberal, que propiciou uma forma de
acumulação, pela qual a saída do Estado das esferas da
produção – com a privatização de empresas
públicas – e do planejamento, a desregulamentação das
economias, o fim dos sistemas de proteção à
produção interna, a retirada dos direitos dos trabalhadores, o
desmonte dos sistemas de bem estar públicos e outras medidas deram a
tônica, objetivando oferecer toda a liberdade aos capitais e aumentar a
taxa de exploração do trabalho. Ganhou enormemente com o
neoliberalismo o setor financeiro, gerando uma proporção de 10
dólares girando na esfera financeira para cada 1 dólar aplicado
na produção.
76. A crise significa também uma derrota política do capitalismo
e a quebra de todos os mitos criados pelo grande capital para endeusar o
neoliberalismo, como o mito do mercado autorregulador das
relações econômicas, o mito da retirada do Estado da
economia e das privatizações, o mito da
desregulamentação, além do mito da credibilidade das
agências de risco e do fim da história. No terreno
político, a crise marca o que pode ser o início do fim do
Império estadunidense, uma vez revelada a sua debilidade interna,
reforça a multipolaridade e abre espaço para a retomada da
ofensiva do campo socialista, mesmo que, com a crise, os trabalhadores
continuem ainda desorganizados e precarizados. A crise põe em cheque,
diretamente, o sistema de organizações multilaterais, como a ONU,
e exige uma nova ordem institucional mundial.
77. Não devemos cultivar a ilusão de que esta crise
é apenas mais uma crise do capitalismo e que este modo de
produção, ao final do processo, sairá mais forte e
seguirá o seu rumo num patamar superior, como ocorreu em outros momentos
da história. Tampouco devemos cair na armadilha de acreditar que esta
será a crise final do capitalismo. O desenrolar da crise depende,
fundamentalmente, da sua condução política e da
correlação de forças nos embates sociais que virão.
As dimensões da crise e as dificuldades de sua superação
sinalizam para o acirramento da luta de classes e para a retomada do movimento
de massas em caráter mundial, abrindo reais possibilidades de
enfrentamento no sentido da transformação e da derrocada do
sistema capitalista.
78. Assim, cabe às forças revolucionárias lutar para que
as classes trabalhadoras assumam, organizadamente, a condução, o
protagonismo do processo, garantindo soluções que, ao mesmo tempo
em que combatem os efeitos imediatos da crise, criem as condições
para que se acumule, na contestação da ordem burguesa, na defesa
de seus direitos e na obtenção de novas conquistas, na
organização e na consciência dos trabalhadores, a
força necessária para assumir a direção
política da sociedade no caminho da superação
revolucionária do capitalismo. Mais do que nunca, está na
ordem do dia a questão do socialismo.
IV – Capitalismo e luta de classes hoje
79. Os processos atuais que conduzem grandes contingentes populacionais, em
escala mundial, a serem colocados na condição de força de
trabalho plenamente disponível e livre para o capital evidenciam a
criação de formas renovadas de expropriação capazes
de destruir laços sociais e ordenamentos jurídicos que, ao longo
da história de lutas dos trabalhadores contra os imperativos do
capitalismo, funcionaram como freios à ação do capital
frente à força de trabalho. Para que seja possível a
produção constante de valor, a expropriação precisa
ser incessante e ampliada. Ao lado de persistir a expropriação
original, ou seja, aquela exercida sobre o campesinato, tendo em vista ainda
subsistirem grandes massas de trabalhadores rurais a se tornarem assalariadas
(na China, Índia e América Latina, por exemplo), outras
expropriações seguem reconduzindo grande número de
trabalhadores à plena disponibilidade para o mercado de força de
trabalho, através da destruição dos vários
anteparos legais que, resultado histórico da luta de classes, funcionam
como garantia social para impedir a venda da força de trabalho de forma
ilimitada.
80. A introdução de novas tecnologias capazes de manter a
cooperação dos trabalhadores no processo produtivo à
revelia da fragmentação física do ambiente de trabalho,
possibilitando que esta cooperação, essencial à
produção de mais valia, ocorra com os trabalhadores dispersos
(cuja associação real torna-se invisível), promove a
expropriação da resistência que, antes, os operários
ofereciam por sua proximidade no local de trabalho. Outra forma é a
expropriação do contrato de trabalho, realizada através da
destruição paulatina de direitos e de leis de
proteção à força de trabalho, conquistados como
forma de limitar a ação ofensiva do capital sobre o
trabalho.
81. As expropriações contemporâneas também incidem
sobre tradições e costumes culturais das massas populares que
contribuem, de alguma forma, para a solidariedade de classe e a
resistência à exploração; sobre conquistas sociais
tais como a saúde e a educação públicas, hoje cada
vez mais mercantilizadas; sobre os movimentos sociais, através da sua
criminalização, com o uso da violência física aberta
(estatal e paraestatal) e a supressão de direitos civis; sobre os
direitos de cidadania, reduzindo as conquistas democráticas a um mero
jogo eleitoral onde impera o mercado de votos e o
marketing
político, ficando de fora os grandes temas ideológicos,
econômicos e sociais; sobre o meio ambiente, cujos elementos naturais,
como a água, as sementes, os gens humanos, etc, viram produtos para o
mercado.
82. Tais expropriações são realizadas sob a propaganda
ideológica da "liberdade" de movimentos do trabalhador.
Propala-se a conquista da iniciativa individual, associada à ideia,
difundida pelo "empreendedorismo", de que cada um pode ser
"patrão de si mesmo". Tudo isso é difundido como se
fosse absolutamente novo, como se não fosse da natureza mesma das
relações sociais de produção impostas pelo
capitalismo, desde seus primórdios, promover a separação
entre trabalhadores e condições sociais de trabalho, com vistas
à permanente criação de grandes contingentes de
"pobres laboriosos" livres, "essa obra de arte da
história moderna", como dizia Marx. A expropriação,
forma de propiciar permanente disponibilidade de força de trabalho para
o capital, parece não mais existir sob a noção de
"liberdade".
83. A chamada reestruturação produtiva deve ser entendida, ao
mesmo tempo, como aprofundamento da disponibilidade sem reservas do trabalho
para o capital e como forma de introduzir novos métodos de
disciplinamento da força de trabalho nas novas condições
de exploração, os quais se impõem tanto pela
violência quanto pelo convencimento. A dimensão do novo
convencimento só é compreensível nesse contexto em que os
imperativos do mercado obrigam às mais abjetas sujeições
em troca da subsistência do trabalhador, a começar pela
ameaça permanente do desemprego: a requalificação dos
trabalhadores, que devem interiorizar a necessidade de uma autoempregabilidade;
a instauração de formas de "parceria" ocultando
relações de exploração, por meio de cooperativas,
contratos temporários, formas de "voluntariado"; o trabalho
doméstico e familiar em condições de dependência
absoluta frente ao patronato, que não mais se apresenta de forma direta,
mas indireta, através de subpatrões, em condições
de concorrência extrema, etc.
84. Essas massas de trabalhadores desprovidos de direitos, não mais
contidos pela disciplina despótica no interior das fábricas,
seguem entretanto sendo educados, adestrados e disciplinados pelo capital,
através dos inúmeros programas de requalificação
para a "empregabilidade", adotados por entidades e empresas sob o
manto da "responsabilidade social", em grande parte com recursos
públicos. Sequer deverão perceber-se como trabalhadores, como
mão de obra disponível para o capital: devem ver-se como
empresários de si mesmos, livres "empreendedores" formados em
cursos de empreendedorismo social, vendedores de sua "capacidade" de
trabalho sob quaisquer condições, "voluntários"
da sua própria necessidade. Na verdade, todas essas formas de
exploração do trabalho estão de alguma maneira
interligadas ao processo de produção de mais valia, garantindo a
cooperação necessária às atividades produtivas em
prol do capital.
85. Longe do suposto "fim do trabalho", tais
expropriações demonstram a importância da força de
trabalho no mundo capitalista de hoje. À expropriação
capitalista corresponde, no extremo oposto da mesma relação, a
gigantesca concentração de recursos em mãos dos
capitalistas, recursos que precisam ser constantemente valorizados e aplicados
na própria exploração dos trabalhadores. A profunda
transformação da base tecnológica foi extremamente
útil não apenas para transferir capitais de um lado a outro,
posto que isolado o acúmulo de dinheiro não produz mais valia,
mas para simultaneamente fragmentar o conjunto da classe trabalhadora. A
reestruturação produtiva do capitalismo contemporâneo,
portanto, é parte integrante do processo imperialista, resultante da
ação hoje hegemônica do capital monetário.
86. A reflexão de Marx sobre o "capital portador de juros"
(Capítulo XXI do Livro III de
O Capital
) muito contribui para a compreensão do capital monetário como
forma dominante no plano internacional, nos dias atuais. Trata-se de um capital
que assume uma forma crescentemente social, como associação
permanentemente competitiva de grandes proprietários, apesar de ter-se
amplamente disseminado o mito, no capitalismo contemporâneo, da
existência de atividades puramente monetárias e especulativas, sem
envolvimento algum com a produção, como se fosse possível
a multiplicação autônoma do capital.
87. Segundo esta visão, o trabalho vivo não mais teria qualquer
função na vida social. Isto porque interessa aos
proprietários e gestores do capital monetário que este se
apresente como totalmente distante dos processos de produção
direta e das formas brutais de exploração da força de
trabalho. No máximo, é desejável que seja identificado
às formas mais científicas, às atividades de pesquisa e
à produção de conhecimento, como se estas estivessem
descoladas da extensa rede de divisão internacional do trabalho. Na
verdade, o capital monetário está completamente envolvido com os
processos de extração de mais valia e somente pode continuar
existindo caso impulsione sem cessar essa extração. No entanto,
é apresentado como puro cálculo, como dinheiro "limpo"
(capaz inclusive de lavar os recursos procedentes dos tráficos e das
máfias, estes também impulsionados pelo capital monetário
e ligados ao processo de concentração de capitais, ao qual se
agregam as mais variadas formas de extorsão, saque ou
extração de sobretrabalho), negando a existência do
trabalho e dos trabalhadores concretos.
88. Na perspectiva de Marx, o capital portador de juros ou capital
monetário resulta do processo histórico de
concentração capitalista, através do qual os bancos
passaram a cumprir uma nova função, deixando de ser meros
guardadores ou emprestadores de dinheiro, para se converter em fomentadores de
créditos voltados a impulsionar o processo produtivo. Constituiu-se,
assim, um sistema bancário propriamente capitalista, um dos pilares da
acumulação, sem que fossem eliminadas as práticas
usurárias, mas subordinando-as ao papel central de fomento às
atividades voltadas à extração de mais valia e à
sua realização através do comércio.
89. Os bancos converteram-se, pois, em coadjuvantes da exploração
capitalista. São depositários ou intermediários dos lucros
dos grandes proprietários capitalistas, ao mesmo tempo em que
também se tornaram proprietários de capital voltado ao
investimento na produção, precisando fazer expandir
freqüentemente as relações sociais capitalistas. Daí
que dependem inequivocamente de parte da mais valia extraída do
trabalho. O excedente na sociedade capitalista é produzido com trabalho
humano, trabalho vivo que alimenta os imensos volumes de capital
monetário, trabalho morto. Os juros são uma parte do lucro
produzido, portanto, correspondem a uma parcela da mais valia extraída
pelos capitalistas diretamente envolvidos com os processos de
produção de mercadorias. Os juros, por sua vez, remuneram o
capital que se converte em mercadoria. Por conta disso, o proprietário
de capital monetário exige crescente eficácia na
extração da mais valia, em ritmos cada vez mais acelerados, de
maneira a que sejam remunerados, no mais breve espaço de tempo, tanto o
capital voltado à produção de mercadorias, quanto o
próprio capital monetário.
90. Os detentores dessas volumosas massas de dinheiro parecem encarnar, de
maneira abstrata, a própria figura do capital, pois a propriedade dos
recursos sociais necessários à produção de valor
afasta-se do processo imediato de produção de mercadorias.
Aprofunda-se a separação entre a propriedade e a gestão
dos empreendimentos. Enquanto ao capitalista diretamente ligado à
produção de mercadorias cabe o papel social de
extração da mais valia, ao proprietário do capital
monetário cabe lidar com o capital mercadoria, o qual, por meio dos
empréstimos e dos financiamentos, converte-se em capital para a
produção. Esta separação implica na
existência de tensões e conflitos entre as frações
proprietárias, a fazer parte da luta de hegemonia pela
condução do processo social de manutenção e
reprodução do capitalismo, mas não obscurece o fato de que
tais frações da classe burguesa operam a partir da mesma base
social, isto é, dependem da exploração do trabalho humano
para obterem seus lucros.
91. A crescente concentração do capital monetário favorece
o intenso movimento especulativo, que passa a integrar a dinâmica da
expansão do capital, gerando um capital fictício através
da multiplicação de papéis e títulos sem
correspondência real com os capitais aos quais supostamente remetem,
aqueles respaldados efetivamente no processo de produção. O
descompasso entre o capital fictício e o capital lastreado na
produção de valor vem fomentando as recorrentes crises
capitalistas da atualidade, o que só faz ratificar a necessidade
imperiosa da extração de mais valia e da
socialização do trabalho para a existência e
reprodução ampliada do capital. O crescimento mesmo das
atividades especulativas decorrentes do predomínio do capital
monetário na fase atual do capitalismo indica, de fato, que a base
social da acumulação capitalista permanece fundamental, pois a
concentração desses capitais só fez aprofundar a
exigência de valorização de tais massas de recursos sob
todas as formas de exploração da força de trabalho,
incentivando a generalização das expropriações, com
vistas à disponibilidade sem reservas de trabalhadores para o
capital.
92. O predomínio atual do capital monetário (ou capital
financeiro, nos termos de Lênin) não significa, portanto, a
redução da extração de mais valia. Ao
contrário, a existência de massas concentradas de capital
monetário impulsiona e exige a intensificação da
concorrência, sobretudo entre os trabalhadores, mas também entre
os capitalistas que, ligados diretamente à produção,
controlam parcelas desiguais de capitais. Todo o processo recente de
reestruturação produtiva só faz confirmar, com os
inúmeros exemplos de fragmentação da classe trabalhadora e
pulverização das unidades empresariais, que a
concentração de propriedade estimula e impõe a
concorrência entre gestores do capital e entre os trabalhadores como
necessidade imperiosa para a reprodução do capitalismo.
93. A exacerbada concorrência entre capitalistas não elimina o
fato de haver profunda unidade entre eles no que se refere aos mecanismos de
expropriação da classe trabalhadora. No capitalismo globalizado,
a burguesia demonstra estar integrada mundialmente, com o capital cada vez mais
concentrado em grandes conglomerados internacionais ramificados em todas as
regiões do planeta, para o que cumpre papel preponderante o capital
monetário, como proprietário de imensas massas de recursos
destinadas a financiar atividades dispersas sob as mais variadas
espécies de "empreendedorismos". Mas não existe nada
parecido com uma economia mundial unificada e regida por uma
organização global da ordem sintonizada conforme os desejos do
capital. Vive-se em um mundo de desenvolvimento desigual, com enormes
disparidades de preços, salários e condições de
trabalho.
94. Isso nos leva a algumas reflexões, fundamentais para quem deseja
avançar na luta contra o capitalismo, a partir da
identificação mais precisa das condições sociais
objetivas nas quais se dá a luta de classes na conjuntura
histórica do momento. Em primeiro lugar, reafirma-se categoricamente a
contradição entre capital e trabalho como a
contradição fundamental a exigir, como tarefa central dos
comunistas, a organização da classe trabalhadora na luta contra o
sistema capitalista. A luta central, pois, é entre classes, não
entre países. Desaparece, desta forma, a possibilidade de
eclosão de revoluções de caráter "nacional
libertador", ou seja, de alianças entre a classe trabalhadora e a
burguesia nacional, em países periféricos, para o enfrentamento
aos países centrais imperialistas. Sem mais tergiversação,
coloca-se na ordem do dia a estratégia revolucionária de luta
pelo socialismo.
95. Em segundo lugar, se as mutações sofridas pela classe
trabalhadora no quadro do redimensionamento global do capitalismo
contemporâneo acarretaram alterações muito expressivas no
conjunto da classe dos que vivem do trabalho, fazendo com que, nos dias atuais,
ela difira bastante do proletariado industrial identificado como sujeito
revolucionário do
Manifesto Comunista,
é ainda esse contingente humano de trabalhadores capaz de prosseguir,
no processo de luta de classes, o protagonismo que o texto de 1848 reconhecia
ser próprio do proletariado, buscando alcançar a
construção de uma sociedade radicalmente democrática e
socialista.
96. Organizar os trabalhadores hoje dispersos em função das
diferentes formas de expropriação realizadas pelo capital
é o grande desafio a ser enfrentado pelos comunistas. O trabalho
político de organização da classe deve ser encarado como
um campo de ação permanente, dando origem a
organizações permanentes, estruturadas a partir do terreno
permanente e orgânico da vida econômica, mas deve ser capaz de
superá-lo. Ou seja, se a possibilidade de organização
política nasce da articulação dos interesses mais
imediatos de classe, fundando-se necessariamente no terreno do econômico,
precisa superar o momento meramente corporativo, para atingir o instante da
consciência em que o grupo social busca assumir papel hegemônico na
sociedade.
97. A transformação radical da sociedade e a luta pela derrocada
do sistema capitalista devem ser entendidas como processos resultantes de
intensa luta política e ideológica na qual se busca produzir, por
meio dos embates sociais e da ampla discussão em torno do projeto
contra-hegemônico, uma nova visão de mundo a ser abraçada
pela maioria da população, um novo consenso, um novo senso comum.
Trata-se de elaborar uma nova concepção de mundo através
de uma análise crítica e consciente da realidade presente e da
intervenção ativa na história, para que se enfrente a
concepção de mundo dominante, imposta pelos grupos sociais
dominantes.
98. Este processo abrange a necessária passagem da consciência
primária, econômico-corporativa, em que os grupos se organizam
conforme seus interesses econômicos imediatos, forjando laços de
solidariedade de acordo com a posição e a atividade
ocupadas na sociedade, para a consciência política
revolucionária, capaz de atuar sobre a classe dispersa e pulverizada,
despertando e organizando a sua vontade coletiva. Este é o momento da
hegemonia, conceito que expressa a capacidade de um grupo social unificar em
torno de seu projeto político um bloco mais amplo não
homogêneo, marcado por contradições de classe. O grupo ou
classe que lidera este bloco histórico é hegemônico porque
consegue ir além de seus interesses econômicos imediatos, para
manter articuladas forças heterogêneas, numa ação
essencialmente política, que impeça a irrupção dos
contrastes secundários existentes entre elas. Logo, a hegemonia é
algo que se conquista, essencialmente, por meio da direção
política e do consenso.
99. Não se trata, evidentemente, de uma mera batalha no campo das
ideias. Na luta hegemônica, o partido político é o
organismo social responsável pela organização da ampla
luta social pretendida, devendo se configurar como a célula na qual se
aglomeram germes da vontade coletiva que tende a se tornar universal e total,
no sentido da transformação social a ser conquistada. O papel do
partido operário é contribuir para a elevação da
consciência de classe, superando os marcos impostos pela ideologia
dominante e forjando a vontade coletiva capaz de hegemonizar o projeto
político de construção da sociedade socialista.
100. Por fim, se a destrutiva lógica do capitalismo torna-se mais e mais
universal, as lutas sociais existentes nos âmbitos locais, nacionais e
regionais podem se transformar na base de um novo internacionalismo. Um
internacionalismo que não seja calcado em alguma noção
irreal e abstrata de sociedade civil ou cidadania global, mas na
estruturação de uma efetiva solidariedade entre os vários
movimentos de classe locais e nacionais nas lutas concretas contra a
exploração promovida pelas empresas e Estados capitalistas. Se a
atual crise global do capitalismo está pondo em cheque o projeto
neoliberal, isso não significa o fim do capitalismo em si, muito menos
das imensas contradições sociais geradas por ele, o que permite
concluir estarem dadas as condições nas quais o trabalho
revolucionário de organização e construção
da hegemonia proletária permitirá a derrocada final do regime que
nos oprime e a construção da sociedade socialista.
V - Capitalismo e luta de classes no Brasil
101. O Brasil realizou seu processo de industrialização num
período muito rápido, muito embora bastante atrasado em
relação aos países centrais. Após algumas
experiências incompletas anteriores, o primeiro grande ciclo da
industrialização brasileira começou na década de
1930, amadureceu na década de 1950 e se esgotou em 1980. Neste
período, as taxas de crescimento econômico médio anual,
especialmente após a Segunda Guerra Mundial, foram de cerca de 7% ao
ano. A partir de 1981, com a introdução de políticas
ortodoxas, orientadas a partir do FMI, o Brasil passou a viver um longo ciclo
de estagnação econômica que já dura 26 anos,
período em que as taxas de crescimento ficaram por volta de apenas 2,5%
ao ano, contrastando com meio século de crescimento anterior.
102. Contraditoriamente, enquanto findava-se um ciclo longo da economia
brasileira, iniciava-se, nas entranhas do capitalismo brasileiro, um novo ciclo
de lutas sociais: a partir do acúmulo de forças gerado pela
resistência à ditadura e devido também ao crescimento da
indústria, criando pressões por salários mais elevados, ao
final da década de 1970 e início dos anos de 1980, o movimento
operário e sindical emergiu com uma força extraordinária,
a partir das greves de São Bernardo do Campo, que posteriormente se
alastrariam por todo o País, representando um dobre de finados para a
ditadura militar e, ao mesmo tempo, inaugurando um processo no qual o Partido
dos Trabalhadores passou a hegemonizar a luta social e política no
Brasil e a Central Única dos Trabalhadores (CUT) a comandar o movimento
sindical.
103. Esses fenômenos ocorriam numa conjuntura em que estava em curso mais
acelerado o processo da chamada globalização e em que ganhavam
força hegemônica as políticas neoliberais nos países
centrais, irradiando então esse novo modelo de dominação
do capital para o resto do mundo. Nesse sentido, a década de 1990, no
Brasil, foi marcada pelo início da implementação das
políticas neoliberais, com o governo Collor/Itamar e, posteriormente,
aprofundada nos dois governos Fernando Henrique Cardoso, período no qual
a economia e a sociedade brasileira foram impactadas de maneira radical pelo
neoliberalismo. Reformas constitucionais, da previdência, da
legislação trabalhista, abertura da economia,
privatizações generalizadas e ofensiva contra os direitos e
garantias dos trabalhadores marcaram a hegemonia neoliberal no Brasil.
104. O neoliberalismo reagrupou a burguesia brasileira associada ao capital
estrangeiro, sob a hegemonia do setor ligado aos interesses da
especulação financeira e, ao mesmo tempo, proporcionou à
burguesia industrial subordinada, mediante altas taxas de juros e facilidades
creditícias e institucionais, instrumentos para manter e ampliar seus
lucros no mercado financeiro, através das privatizações e
da contenção dos salários dos trabalhadores, fatores que
acomodaram eventuais interesses contrariados.O processo de
globalização e a política neoliberal dele resultante
mudaram qualitativamente a luta de classes no país, gerando um ambiente
onde as classes dominantes realizam uma grande ofensiva contra direitos e
garantias dos trabalhadores.
105. Pode-se observar claramente que a globalização favoreceu uma
intervenção da burguesia na luta de classes com grande
agressividade, utilizando também controle rígido e inteligente
dos meios de comunicação, com a manipulação de
corações e mentes e a propagação do individualismo
como solução para os problemas que afligem a
população. Além disso, o capital busca a todo custo a
desqualificação do movimento operário e dos partidos
comunistas em particular, visando construir um consenso no qual possa
desenvolver sua hegemonia sem contestações.
106. A eleição de Lula poderia ter representado uma ruptura em
relação a esse modelo, mas o presidente operário optou por
um caminho contrário aos interesses dos trabalhadores e aprofundou a
política neoliberal, chegando ao ponto de declarar como herói e
aliado um dos segmentos dos setores mais conservadores da sociedade brasileira,
o agronegócio, além de promover elogios aos banqueiros.
107. Para compreendermos os meandros nos quais a luta de classes no Brasil
está se desenvolvendo, é importante analisarmos as
características mais profundas da sociedade, os fios que ligam o passado
ao presente e as possibilidades do futuro, de forma a extrairmos toda a riqueza
de uma conjuntura que requer um partido revolucionário e uma linha
política ajustada ao momento histórico e uma sociedade que
precisa ser posta em movimento para a luta pelo socialismo.
A formação histórica da sociedade brasileira
108. A formação socioeconômica brasileira nasceu
umbilicalmente atrelada às nações dominantes no
século XVI, integrada e subordinada ao fluxo internacional do capital
mercantil europeu. Ao longo de todo o período colonial, a economia
brasileira funcionou como uma bomba de sucção de recursos para a
metrópole portuguesa e, a partir do século XVIII, grande parte
destes recursos eram desviados para a Inglaterra. Com a independência
política, assumiu uma monarquia arcaica e escravocrata, que manteve o
país na dependência econômica. A proclamação
da República, apesar de depor a velha monarquia, representou um arranjo
entre as classes dominantes locais e o capital inglês, o que deixou o
Brasil por quase meio século na condição de uma
nação agroexportadora, dependente de um único produto
expressivo de exportação, o café, sob o qual foi
estruturada a economia do período.
109. Somente com a revolução de 1930, o país passou a se
estruturar no sentido da construção do capitalismo industrial. A
ascensão política de Vargas, representando a facção
de grandes proprietários voltados a produzir para o mercado interno,
associada à emergente burguesia industrial, foi responsável,
centralmente, pelo fim do monopólio de poder exercido pelo
latifúndio agroexportador, mas promoveu a conciliação
entre a velha ordem e a nova ordem industrial. Tanto que não realizou a
reforma agrária, deixando intocadas as terras dos latifundiários,
fato que até hoje faz o país pagar um enorme tributo em termos de
desigualdade social, violência e miséria nas grandes cidades.
Além disso, a industrialização brasileira constituiu-se
muito tardiamente, cerca de dois séculos após a
revolução burguesa na Inglaterra e um século após a
revolução industrial. Ao constituir-se, internalizou a estrutura
da segunda revolução industrial, queimando assim algumas etapas
do capitalismo clássico. Ou seja, emergiu no período do
capitalismo monopolista, reproduzindo internamente as características
dessa etapa do capitalismo.
110. A industrialização brasileira foi realizada mediante o
tripé capital privado nacional, capital privado internacional e capital
estatal, ressaltando-se que, até o final da década de 1980, o
Estado brasileiro teve participação decisiva no processo de
industrialização, sendo responsável pela
construção da infraestrutura (estradas, portos,
hidroelétricas, telecomunicações, siderurgia, entre
outros) e por um conjunto de empresas públicas, inclusive no setor
financeiro, que representavam quase a metade do Produto Interno Bruto.
111. Em função de que a passagem para o capitalismo no Brasil
ocorreu por meio de transformações que não promoveram a
ruptura com o poder do latifúndio, mantendo-se, sem
alterações profundas, inúmeras das estruturas
econômicas, sociais e políticas da velha ordem, o capitalismo
tardio não viabilizou a formação no país de uma
burguesia com um projeto autônomo de nação. Na verdade, a
burguesia não teve interesse em se estabelecer enquanto classe nacional,
nem mesmo com o auxílio de seus antagonistas históricos, que
advogavam uma revolução nacional democrática. Os setores
burgueses estruturaram-se de maneira subordinada aos centros internacionais do
capital, orbitaram em torno de sua lógica e cumpriram internamente a
tarefa de linha auxiliar do capital internacionalizado.
112. Sob Vargas, no início da década de 1950, o processo de
industrialização avançou com um caráter
marcadamente nacionalista, mas numa situação internacional
adversa, em que os Estados Unidos já tinham se transformado em
nação hegemônica. Estimuladas e fortalecidas internamente,
as classes dominantes ligadas ao imperialismo estadunidense conseguiram
realizar um cerco ao governo, levando o presidente ao suicídio. A
comoção popular decorrente deste ato dramático
forçou um recuo desses setores e abriu espaço para a
construção do Plano de Metas no governo de Juscelino Kubistchek,
um projeto com forte participação do capital estrangeiro e que
transformou o Brasil em nação industrial.
113. Estas transformações modificaram profundamente a estrutura
socioeconômica do país: o Brasil passou da condição
de nação agrária para nação industrial e
transformou-se num país urbano, bastando dizer que, em 1930, mais de 70%
da população viviam no campo, enquanto, no final do ciclo, em
1980, invertia-se essa variável, registrando-se uma taxa de mais de 70%
da população residindo nas cidades, o que significou uma
mobilidade demográfica extraordinária realizada em tão
pouco tempo. Em outras palavras, o Brasil cumpriu em meio século tarefas
que outras nações levaram séculos para
implementá-las.
114. Cresceram a indústria de capital nacional privado, em especial nos
ramos metal-mecânicos, e a indústria de bens de
produção, mantida pelo Estado, também responsável
pelos investimentos em infraestrutura, o que acabaria por beneficiar o conjunto
da estrutura industrial, estimulando o pleno desenvolvimento do capitalismo.
Tal equilíbrio de interesses, controlado pelo Estado a fim de evitar ao
máximo a irrupção de tensões no interior da classe
dominante, perdurou enquanto não afloraram, de forma mais nítida,
os conflitos resultantes do processo de oligopolização da
economia, inevitável no modelo de modernização adotado, em
que a superioridade tecnológica e de capitais das empresas
multinacionais, incitada pelo Estado, criou um descompasso no ritmo de
crescimento verificado entre os setores industriais e vedou a possibilidade de
expansão das empresas de menor porte.
115. A política econômica de JK foi responsável por um
forte crescimento inflacionário, aumento da dívida externa, alta
presença do capital estrangeiro em setores de tecnologia de ponta,
além de ter projetado a burguesia industrial associada ao capital
externo a uma posição de destaque dentre as demais
frações da classe dominante que compunham o Estado no chamado
"pacto populista", até então mantido com base no
equilíbrio entre elas. Os empresários da indústria
passaram a atuar de forma mais autônoma frente à estrutura
corporativa estatal, afastando-se também de projetos nacionalistas que,
de um lado, rejeitassem ou limitassem a presença do capital estrangeiro
no país e, de outro, favorecessem ou não impedissem a
mobilização das massas operárias.
116. A partir do final do Plano de Metas, estruturaram-se, portanto, dois
projetos radicalmente distintos para a sociedade brasileira: as reformas de
base e o projeto dos setores ligados ao capital internacional. Ao longo dos
primeiros quatro anos da década de 1960, o Brasil viveu o seu momento de
maior polarização da sociedade, com enorme
politização dos setores populares. O projeto das reformas de
base, com apoio de parte significativa da sociedade brasileira, foi derrotado
pelo golpe militar de 1964, patrocinado pelas classes dominantes ligadas ao
capital internacional, por setores conservadores da Igreja e pelos altos
comandos das Forças Armadas, com o apoio estratégico do governo
dos Estados Unidos.
117. O golpe militar representou não apenas a maior derrota dos setores
populares em toda a história do Brasil, como contribuiu para o
aprofundamento da dependência em relação ao capital
internacional e bloqueou definitivamente qualquer tentativa de
construção de um capitalismo autossustentado sob a
direção de uma burguesia nacional, com algum tipo de projeto
autônomo de nação. Mesmo levando em conta o peso do Estado
e das empresas públicas fortalecidas e consolidadas no período
militar, o golpe de 1964 representou o fim das ilusões
nacionaldesenvolvimentistas nos marcos do capitalismo.
118. O governo militar construiu um modelo econômico antipopular,
estruturou o arrocho salarial como norma para a remuneração dos
trabalhadores e suprimiu as liberdades democráticas. Nos momentos mais
duros do regime, houve um recrudescimento da repressão, com a
introdução de elementos de fascismo, e desenvolveu-se uma
política de terrorismo de Estado, com prisões de milhares de
lutadores, tortura e morte de centenas de ativistas e revolucionários. O
modelo econômico excludente, apesar de ter resultado em altas taxas de
crescimento econômico e na consolidação das empresas
públicas, construiu uma economia de baixos salários, produzindo
uma das distribuições de renda mais desiguais do planeta. O
último governo militar (1979-1985) realizou uma política sob a
orientação do FMI, cujo resultado foi a
desorganização da economia e sua reestruturação
voltada exclusivamente para o pagamento dos serviços da dívida
externa.
O período da estagnação econômica
119. Ao final dos anos 1980, o neoliberalismo tornara-se hegemônico entre
os principais países capitalistas. No Brasil, entretanto, as
políticas neoliberais não puderam ser implantadas da mesma forma
como o foram em outros países. Isto porque, em primeiro lugar, a
primeira metade da década de 1980 foi marcada pela
desagregação política e econômica da ditadura.
Portanto, os militares, mesmo impondo uma política monetarista,
não tinham força suficiente para implantar o neoliberalismo ao
estilo clássico. Segundo, os anos de 1985-89 foram marcados pelo
processo de redemocratização e da Constituinte. Nesse
período também não existiam condições
políticas para a implementação de medidas no estilo
neoliberal. Essas duas circunstâncias impediram que o neoliberalismo
fosse implantado no país na década de 1980. Somente com a derrota
de Lula, em 1989, e a posse de Collor, o grande capital reuniu as
condições para realizar a grande ofensiva neoliberal no
país.
120. A crise dos anos 1990, apesar de inserida no ciclo de
estagnação da economia brasileira do início da
década de 1980, marca uma mudança de qualidade no processo de
acumulação de capital e uma nova forma de relacionamento entre o
grande capital internacional, a grande burguesia associada e o Estado. Nos anos
1990, consolidou-se, no plano internacional, o poder dos blocos de
forças sociais mais ligados ao capital financeiro, principais
impulsionadores da globalização financeira e da
especulação mundial. A exemplo do que ocorreu nos países
centrais, no Brasil também houve uma recomposição das
alianças entre frações das classes dominantes, cuja
expressão política foi o governo Fernando Henrique Cardoso, com
continuidade no governo Lula. Trata-se de um bloco de forças sociais
que, após vários anos de crise, conseguiu articular um projeto
capaz de unificar a burguesia associada ao capital internacional e disciplinar
eventuais setores do capital industrial prejudicados com a nova ordem.
121. As eleições de 1989 e a vitória de Fernando Collor
corresponderam internamente ao início do processo de
implementação das políticas neoliberais. No período
Collor, iniciou-se aceleradamente a privatização das empresas
públicas, a desregulamentação do Estado, a abertura da
economia ao exterior, incrementaram-se o arrocho salarial e a ofensiva contra
os direitos e garantias dos trabalhadores - tudo como ordenava o figurino
neoliberal. No entanto, a corrupção escancarada daquele governo,
aliada às tensões entre as frações da burguesia
durante o processo de implantação do neoliberalismo – e
contando com uma pressão menor do movimento social, especialmente do
movimento estudantil – minou sua legitimidade social, levando um Congresso
conservador a votar o seu impedimento.
122. A deposição de Collor não representou um freio
à aplicação das políticas neoliberais. Muito pelo
contrário, em menos de dois anos o governo Itamar Franco privatizou 23
empresas estatais de grande porte e setores estratégicos da economia,
incluindo quase todo o setor petroquímico, a Companhia
Siderúrgica Nacional e a Embraer. A alienação desse
patrimônio foi realizada de maneira nebulosa, envolvendo grandes
negociatas, nas quais não só foi rebaixado o valor real destas
empresas, mas grande parte dos pagamentos eram realizados com as chamadas
"moedas podres", títulos com pouco valor de mercado, mas que,
para efeito das privatizações, passariam a ser negociados com o
valor de face (o valor real).
123. Nas eleições de 1994, para enfrentar a candidatura de Luiz
Inácio Lula da Silva, até então apontada como favorita
pelas pesquisas, restou ao grande capital ir ao encontro do sociólogo
Fernando Henrique Cardoso, ministro das Relações Exteriores de
Itamar, político que se encaixava como uma luva no projeto conservador.
Acadêmico, com um passado de honestidade intelectual, com perfil
progressista, exilado durante alguns anos do governo militar, era a face
"charmosa" da burguesia, com a vantagem de ser membro de um partido
dito socialdemocrata. A seu favor, havia ainda o Plano Real, criado durante sua
gestão à frente do Ministério da Fazenda de Itamar, plano
de estabilização financeira que conseguiu derrotar a
inflação, o que levou o governo a ganhar apoio dos setores das
camadas médias e de largas faixas das camadas populares.
124. Com todo o aparato dos meios de comunicação, do poder
econômico e da máquina governamental trabalhando a seu favor, FHC
costurou um arco de aliança eleitoral com as forças da direita e
conquistou uma vitória eleitoral já no primeiro turno. Ao assumir
o governo e ao longo dos primeiros quatro anos, ainda vivendo uma
espécie de lua de mel com a população brasileira
graças, principalmente, às baixíssimas taxas de
inflação, FHC implementou praticamente todas as medidas do
receituário neoliberal, desde a reforma da constituição
para adaptá-la aos postulados neoliberais, passando pela
ampliação da abertura da economia ao exterior, a ofensiva contra
direitos e garantias dos trabalhadores, até a privatização
de quase todo o setor público.
125. Nos oito anos de governo FHC, os especuladores nacionais e internacionais
e o grande capital foram os maiores beneficiados pela política
econômica do Real. O resultado foi a crise econômica, percebida e
propagandeada em janeiro de 1999. Como toda fantasia, a crise reduziu este
plano ao que realmente era: um conjunto de medidas que visava apenas a
estabilizar a moeda, em função da sobrevalorização
do Real, e encilhar a economia brasileira na armadilha do capital especulativo
internacional, sob a hipoteca de várias gerações, do
patrimônio público e da soberania nacional.Para os setores
mais ricos da população foi um período de ganhos
extraordinários no mercado financeiro; para as camadas médias
altas, uma farra consumista. No entanto, para os trabalhadores e as camadas
médias baixas, o Real foi uma tragédia, muito embora só
percebida muito depois, quando ficou clara a recessão, o desemprego, a
grande concentração de renda e uma compressão salarial que
empobreceu a maioria da população.
Conjuntura econômica e contexto político recentes
126. O início do século XXI marcou novamente uma encruzilhada
para a sociedade brasileira: continuar o neoliberalismo ou buscar alternativas
para o modelo econômico. Estas duas opções se expressavam
politicamente nas candidaturas de José Serra (PSDB) e de Lula (PT).
Majoritariamente, a sociedade brasileira optou pela mudança do modelo
econômico, com a eleição de Lula. No entanto, não
ocorreram mudanças significativas, nem se reverteu a política
neoliberal, tendo em vista que, no interior do governo do PT e aliados,
constituído a partir da trajetória histórica de
afirmação de um projeto socialdemocrata tardio e das
concessões feitas aos partidos conservadores coligados e às
frações de classe burguesas com vistas à vitória
eleitoral, travou-se uma disputa política perdida pelo campo mais
progressista da aliança formada para eleger o candidato do PT.
127. O governo Lula transformou o país no paraíso para
banqueiros, especuladores em geral, latifundiários e oligopólios
nacionais e internacionais. O grande capital internacional e nacional,
beneficiado com a política de juros altos, vem amealhando grande parte
do orçamento nacional, enquanto faltam verbas para a
educação, a saúde, a infraestrutura e programas sociais.
Para a população pobre sobraram o assistencialismo
institucionalizado e a sua cooptação, mediante políticas
compensatórias como o Bolsa Família ou as bolsas
universitárias do PROUNI, que cumprem o papel de socorrer os
tubarões do ensino privado.
128. Para ganhar a confiança de investidores estrangeiros e dos setores
ligados ao grande capital financeiro, o governo Lula submeteu-se à
lógica da política econômica inaugurada por Collor e
aprofundada no período FHC, capitulando diante das exigências
colocadas pelo modelo neoliberal. Buscou garantir a "governabilidade"
através de acordos com os partidos conservadores e fisiológicos e
pôs em prática medidas em favor dos interesses burgueses, como a
Reforma da Previdência, as parcerias público-privadas, a lei dos
transgênicos, etc. Até mesmo o diretor do Departamento do
Hemisfério Ocidental do FMI, em setembro de 2006, chegou a declarar que
o governo Lula representava a continuidade da política econômica
anterior, ao mesmo tempo em que aumentava os gastos sociais.
129. O PT abandonou a prática política e o discurso radicalizado
de sua origem para realizar alianças com os setores conservadores.
Perdeu nesse processo a autonomia de classe. A socialdemocracia no mundo
inteiro viveu processo semelhante nos últimos tempos. Começou com
a degeneração ideológica, expressa no rompimento com o
marxismo e a luta de classe; passou à degeneração
política, com a gerência do neoliberalismo na Europa e,
finalmente, chegou à degeneração pessoal, com a
corrupção envolvendo os principais dirigentes socialdemocratas
europeus. Os casos do Partido Socialista da Itália, do Partido
Socialista Operário Espanhol, do Partido Socialista Francês, do
Partido Social Democrata Alemão, entre outros, são
emblemáticos da postura socialdemocrata moderna.
130. No entanto, se o processo de degeneração da socialdemocracia
clássica levou mais de cem anos para se completar, aqui no Brasil,
exatamente por ser retardatária, o salto no escuro da socialdemocracia
local foi muito rápido: levou apenas 25 anos. A socialdemocracia
retardatária brasileira nasceu tardiamente nos anos 1980, quando o
grande capital já tinha rompido o pacto social do capitalismo
monopolista de Estado e avançava contra os direitos e garantias dos
trabalhadores. Dessa forma, não poderia de forma alguma proporcionar
melhores condições de vida para os trabalhadores, uma vez que seu
limite histórico estava dado pelas novas condições do
capital. Em outras palavras, a socialdemocracia retardatária não
tinha mais as possibilidades históricas de promover concessões
aos trabalhadores em troca da paz social, porque o grande capital estava agora
em outra fase, com outros interesses e, especialmente, em função
da queda da âncora soviética, em condições de ditar
as regras do jogo.
131. Na década de 1980, o capital procurou superar a grave crise que
afetou todo o sistema produtivo na década de 1970 e intensificou as
transformações no processo produtivo, em muitos setores,
através do avanço tecnológico, pelas formas de
produção flexíveis e pela implementação de
modelos produtivos que substituíam o binômio fordismo/taylorismo,
tais como o modelo toyotista, que mais se destacou nesse período. Essas
transformações, resultantes da própria concorrência
intercapitalista e das necessidades de controle sobre o movimento
operário e a luta de classes, afetaram profundamente a subjetividade dos
trabalhadores e o próprio movimento sindical.
132. Houve ainda uma diminuição do operariado fabril, aumentando
sobremaneira as variadas formas de expropriação do trabalho,
através do trabalho temporário, parcial, expansão dos
assalariados médios em áreas de serviços, exclusão
de jovens e trabalhadores com mais de 45 anos do mercado de trabalho e
expansão do uso de mão de obra infantil e feminina. Esse
cenário tornou heterogêneo e mais fragmentado o perfil da classe
trabalhadora, transformações estas que atingiram em cheio o
operariado industrial tradicional, fazendo com que alterações no
nível de consciência e nas formas de representação,
das quais os sindicatos são a principal expressão, ocorressem em
processo muito acelerado.
133. Além disso, a socialdemocracia tardia brasileira,
constituída, em sua grande maioria, por lideranças
operárias despolitizadas ideologicamente, avessas ao estudo do marxismo,
não tinha realmente capacidade teórica de construir um projeto de
país nem de emancipação dos trabalhadores. No fogo da luta
de classes, seus líderes constituíram um partido político,
mas não conseguiram em tempo algum traçar um rumo de classe para
esta organização. Enquanto as lutas sociais espontaneístas
estavam em ascensão, o PT parecia realmente um instrumento dos
trabalhadores, mas, tão logo o movimento social entrou em refluxo, o PT
começou a dar mostra de sua insuficiência teórica e de
perspectiva de classe.
Classes dominantes e desenvolvimento atual do capitalismo no Brasil
134. Seguindo a estrutura de produção da economia capitalista,
há três frações dominantes identificáveis na
burguesia brasileira, a saber: a fração industrial, a
fração financeira e a de serviços, incluindo-se nesta a
exploração dos serviços públicos, havendo
interligações profundas entre elas. A participação
local do capital estrangeiro se dá de maneiras diferenciadas, tanto no
que diz respeito ao grau de participação quanto às formas
de controle utilizadas. A fração financeira apresenta um alto
padrão de autonomia em relação à esfera produtiva
do capital. Nunca este padrão de autonomia – cuja tendência
de crescimento é histórica – esteve tão evidente
quanto nos anos 1990, particularmente no período FHC. O controle da
forma dinheiro do capital e a ascendência deste segmento sobre o Estado
brasileiro são os alicerces desta autonomia. A contradição
entre a esfera produtiva e a esfera financeira do capital é fonte de
algumas crises e de certa instabilidade política, pois o capital
financeiro não se reproduz por si próprio.
135. Com a eleição de Lula, pôde-se afirmar uma
tendência à definição de uma proposta de
integração competitiva negociada no mercado financeiro
internacional, sem ruptura com o status anterior e mantido o programa
neoliberal. Existe, no entanto, uma clara tendência de crescimento da
interligação entre as diversas frações. É
cada vez maior a participação e os controles de empreendimentos
não financeiros por empresas financeiras. Como exemplo, podemos citar o
caso das privatizações, que foram realizadas com ativa
participação de bancos. Itaú e Bradesco – os dois
maiores bancos privados nacionais, que, inclusive, se internacionalizaram
– controlam desde fazendas de gado até operadores de
satélites. O setor de serviço público tem também
grande (e crescente) participação dos bancos, em
associação com o capital estrangeiro, notadamente nas
áreas de telefonia e de distribuição de energia
elétrica – os mais rentáveis.
136. A fração industrial apresenta uma
diferenciação em suas relações com o capital
estrangeiro. Existem grandes grupos nacionais, como o Votorantim, que
não possuem participação estrangeira significativa, e
outros em que a participação estrangeira efetivamente se
dá, seja de forma minoritária ou majoritária. A
influência do capital externo no controle decisório dos grupos
varia de acordo com as diversas e sucessivas conjunturas. Papel destacado tem
sido atribuído, no governo Lula, aos segmentos exportadores, que, antes
da crise atual, vinham auferindo ganhos significativos e contribuindo para o
melhor desempenho da balança comercial brasileira. Os grupos mais
destacados pertencem aos segmentos industriais que dispõem de vantagens
comparativas fortes - como no caso da mineração - ou vantagens
competitivas, como no caso dos aviões e do frango, que se modernizaram
administrativa e tecnologicamente. Cabe ressaltar que continua com intensidade
crescente a internacionalização de grupos empresariais
brasileiros. Grande parte do resultado financeiro da
desnacionalização da economia foi deslocado para a
especulação financeira, fortalecendo uma fração
rentista da burguesia, cujos interesses se confundem com os interesses do
grande capital financeiro nacional e internacional e se traduzem em
investimentos desta natureza dentro e fora do país.
137. A preocupação primordial da burguesia brasileira é a
sua sobrevivência enquanto classe na inserção da economia
brasileira no mercado mundial. Há espaço limitado para o
crescimento do mercado interno brasileiro, no contexto do atual estágio
de desenvolvimento capitalista. No entanto, percebe-se que há
resistência, em vários setores, à penetração
indiscriminada do capital estrangeiro. O discurso nacionalista que, por vezes,
transparece na grande imprensa tem origem na luta de alguns grupos da burguesia
monopolista brasileira que querem manter sua participação no
mercado.
138. Cabe destacar, ainda, a presença significativa de grupos
estrangeiros operando no território econômico brasileiro que
têm ou podem vir a ter interesse no crescimento do mercado interno
brasileiro e no seu papel de plataforma para operações em
mercados próximos, na América Latina, principalmente, o que
explica, inclusive, os posicionamentos do governo Lula em relação
aos governos vizinhos.
A fração de serviços apresenta grandes grupos nacionais e
uma presença crescente de grupos estrangeiros, como no setor de
abastecimento e exploração de serviços públicos.
Este último segmento envolve uma ingerência maior do capital
estrangeiro no Estado, e tem caráter de investimento de curto prazo,
podendo evadir-se em caso de queda da rentabilidade.
139. No campo, o grande capital expande seus domínios, submetendo a
agricultura familiar às necessidades de acumulação. A
tecnificação agrícola permite a construção
de cadeias produtivas, com consequências ainda não muito claras
para a força de trabalho. O capital, na forma da
mecanização e de insumos, é determinante, tornando a terra
meio de produção no lugar de sua mera função como
reserva de valor. A reestruturação produtiva no campo segue seu
curso, com a mecanização e introdução de novos
métodos e recursos. Há que citar o conjunto de formas ditas
associadas, como nas áreas de fumo, pecuária não bovina e
fruticultura. As redes da Sadia e da Souza Cruz, na região sul,
são exemplos significativos. Alguns produtos agrícolas - como a
soja - vêm obtendo grande penetração no mercado
internacional, e o comportamento dos respectivos grupos empresariais em nada
difere daquele dos grupos industriais em condição
semelhante.
140. Mesmo mesclando formas diretamente capitalistas a formas semicapitalistas
(como o colonato e a parceria), a estrutura agrária brasileira vivenciou
uma profunda centralização e concentração dos meios
de produção, principalmente a terra, subordinando a
produção agrária ao mercado capitalista e aos interesses
dos grandes monopólios, seja na atividade agrária propriamente
dita, seja utilizando a terra como reserva de valor. A clássica forma de
exploração da renda da terra, pouco a pouco, cede lugar à
típica exploração capitalista, ou seja, a
extração de mais valia baseada no trabalho assalariado.
141. Disto resultou uma estrutura agrária complexa, subordinada ao
monopólio capitalista da terra, e que comporta uma extensa camada de
trabalhadores rurais assalariados, pequenos camponeses que subsistem da
agricultura familiar, famílias camponesas subordinadas ao
monopólio industrial (como no caso do fumo e do frango, por exemplo),
trabalhadores rurais sem terra que formam um caótico exército
industrial de reserva a serviço seja do latifúndio tradicional
seja de empresas capitalistas.
142. A forma particular pela qual a reestruturação capitalista
chegou ao campo se expressa na nova política de sementes, com a
implantação e a aprovação dos transgênicos,
pelo crescente investimento de capital estrangeiro, não mais apenas como
reserva de valor, mas como inversões produtivas diretas; pela
política da bioenergia, notadamente do etanol ligado à cana de
açúcar, mas também a outras culturas como a mamona; a
monocultura do eucalipto e outras manifestações que implicam na
mudança da matriz produtiva agrária que transita das formas
tradicionais para aquilo que se convencionou chamar agronegócio,
termo elegante que esconde a substância do fenômeno que é a
determinação do grande capital monopolista na agricultura.
143. A novidade trazida pelo governo Lula, em relação ao de FHC,
foi a promoção de uma articulação política
que possibilitou a ascensão da grande burguesia industrial e
agrária voltada para o comércio de exportação, sem
que fosse quebrada a hegemonia do setor financeiro. Isto porque a
política mais agressiva de exportação centrada na
agroindústria, na extração mineral e nas mercadorias
industriais de baixa tecnologia estimula a produção nos limites
determinados pelos interesses do grande capital financeiro, cujo objetivo maior
é a "caça aos dólares" e às demais moedas
fortes, algo que obviamente não seria obtido através de um
planejamento voltado a desenvolver o consumo popular e o mercado interno.
144. A política de aumento do superávit primário e de
juros internos elevados fortalece o perfil usurário do capital
financeiro, impedindo o investimento amplo na produção e
limitando o plano de crescimento econômico a um modesto e instável
desenvolvimento voltado para a exportação. O governo Lula
é extremamente generoso para com o capital financeiro, o
agronegócio e as grandes empresas industriais exportadoras, com destaque
para siderúrgicas e produtoras de papel e celulose, os setores que mais
lucraram nos últimos anos, favorecidos pelo baixo valor dos
salários, a manutenção do salário mínimo em
nível irrisório e a liberdade concedida para os ataques do
capital aos direitos dos trabalhadores, permitindo o alto grau de
exploração e desvalorização da força de
trabalho.
145. A aliança entre o grande capital financeiro e a alta burguesia
industrial e agrária voltada à exportação
não se faz sem disputas no interior do bloco do poder. A demissão
do economista Carlos Lessa, ex-presidente do BNDES, representante da grande
burguesia industrial e defensor de uma política
"desenvolvimentista" em oposição à dos juros
altos, refletiu a queda de braço entre as frações
burguesas, tendo sido, com este episódio, claramente afirmada a
hegemonia da fração das finanças no interior do governo. A
política externa do governo Lula não está desconectada
desta configuração do bloco hegemônico, ao expressar, de um
lado, a posição subalterna ocupada pelo capitalismo brasileiro no
quadro mais geral do imperialismo e, de outro, a estratégia de
ocupação de um lugar de destaque nos mercados agrícola, de
recursos naturais e de produtos industriais de baixa tecnologia, cuja
expansão se dá às custas da concorrência com as
demais burguesias latinoamericanas (destaquem-se as tensões com a
Argentina no Mercosul, por exemplo) e de conflitos comerciais localizados com
os Estados Unidos.
146. As consequências das formas conservadoras de governabilidade
adotadas nas últimas décadas pelos sucessivos governos, desde
Collor a Lula, apresentam-se através dos seguintes indicadores
econômicos: os 10% mais ricos da sociedade brasileira, que em 1990
concentravam 53,2% da riqueza nacional, em 2007 passaram a controlar 75,4%
desta riqueza. Ao mesmo tempo, o modesto combate à pobreza por meio das
políticas compensatórias do governo Lula logrou elevar o
rendimento dos 20% mais pobres de 1 para 2 dólares ao dia, ou seja,
tirando-os de uma situação abaixo da linha da pobreza, para uma
situação na linha da pobreza absoluta, tendo que viver com algo
em torno de R$ 5,00 por dia.
147. Os lucros das 500 maiores empresas que atuam no Brasil e que, em 2002,
alcançavam o patamar de 2,9 bilhões de dólares, em 2006
haviam passado para 43,3 bilhões de dólares, passando do controle
de 54% do PIB para 64% do PIB. Enquanto o principal programa social do governo,
a Bolsa Família, recebeu em 2007 cerca de R$ 10,4 bilhões, foram
feitos gastos públicos na ordem de R$ 237 bilhões no mesmo ano,
com pagamentos do serviço da dívida, ou seja, para os bolsos de
banqueiros nacionais e internacionais. É verdade que houve aumento do
emprego e da massa salarial, mas o que estes dados encobrem é que passou
a haver mais trabalhadores ganhando menos, uma vez que houve um grande
achatamento de salário nas camadas melhor remuneradas, ampliando-se o
número de emprego com salários menores. E tudo isto no
período de maior crescimento econômico.
A crise do capitalismo e as perspectivas dos trabalhadores no Brasil
148. A recente crise global pôs em evidência o profundo desgaste do
neoliberalismo, que, nos últimos anos, vem enfrentado resistências
em todo o mundo e, em especial, na América Latina, onde pontificou
significativa contraofensiva popular, após mais de duas décadas
de hegemonia neoliberal. Esta contraofensiva se deu através de
insurreições populares, grandes movimentos de massas e
vitórias eleitorais de coligações políticas
à esquerda, que permitiram a formação de governos de forte
cunho popular, com destaque para as experiências da Venezuela e da
Bolívia, cujos enfrentamentos contra as forças de direita ocorrem
em decorrência da aplicação de medidas nacionalizantes e
políticas sociais de maior alcance popular.
149. No Brasil, os efeitos da atual crise do capitalismo foram sentidos de
forma mais rápida do que desejava o governo Lula, que chegou a anunciar
a imunidade da economia brasileira à crise global. Em novembro de 2008,
os níveis de emprego da indústria brasileira já davam
sinais de revés em relação ao mês anterior. Houve
forte retração econômica em dezembro, principalmente quanto
à produção industrial, com destaque para o Estado de
São Paulo. Os índices econômicos apontam queda na
produção no principal parque industrial do país. A
produção de automóveis (segundo dados da ANFAVEA -
Associação Nacional de Fabricantes de Veículos
Automotores) é a menor desde janeiro de 2000.
150. Com a crise, ficou evidente de que lado se posiciona o governo Lula na
luta de classes. Gastou-se, apenas na primeira semana de crise, somente para
regular o valor do dólar, cerca de 50 bilhões de reais, ao passo
que, durante todo o ano de 2007, foram gastos cerca de R$ 20 bilhões com
a saúde, R$ 40 bilhões com a educação e R$ 3,4
bilhões com a reforma agrária. Com a crise, celeremente foram
liberados 11 bilhões de reais para o Banco Votorantim, enquanto
aumentavam os créditos para o agronegócio e eram perdoadas as
dívidas em um volume enorme de recursos públicos para os setores
que haviam lucrado como nunca. Rapidamente, também, foram liberados
recursos para as montadoras paulistas que, em seguida, passaram a demitir em
massa. Pesquisas divulgadas pelo IBGE no final de abril de 2009 indicavam que o
desemprego ultrapassava o patamar dos 2 milhões de trabalhadores nas
seis regiões metropolitanas do país, atingindo principalmente a
indústria e configurando o pior resultado desde setembro de 2007. E
estamos falando de índices oficiais.
151. A burguesia brasileira - cujas frações mais destacadas, ou
seja, o setor financeiro, o empresariado exportador e o agronegócio
acumularam lucros significativos no período histórico mais
recente e consolidaram sua posição hegemônica no Estado
brasileiro - está tentando tirar proveito da crise para consolidar a sua
integração ao capitalismo internacionalizado e aumentar a taxa de
exploração da força de trabalho.Lideranças
burguesas brasileiras também propõem medidas de corte keynesiano,
para estimular a demanda, com a finalidade de resolver a crise em favor do
capital. Mas tem predominado as clássicas soluções em
favor do capital: demissões em massa e redução da jornada
de trabalho, embutido o corte de salários.
152. O movimento dos trabalhadores, ainda fragilizado pela vigência das
políticas neoliberais das duas últimas décadas,
defronta-se com a necessidade de reorganizar-se para a resistência aos
efeitos imediatos da crise econômica e para avançar na luta contra
o sistema capitalista, enfrentando o temor da perda do emprego e uma certa
descrença com a possibilidade concreta de conquistar mudanças a
seu favor - herança, ainda, do quadro de desmobilização
popular provocado pela ascensão do PT ao governo e das políticas
compensatórias, de corte populista, de Lula.
153. Os anos 1990 assistiram a mudanças significativas na
organização do mundo do trabalho e no perfil da classe
operária no Brasil. A reestruturação produtiva permitiu ao
capital extrair mais valia relativa em novos patamares. Especialidades
profissionais foram extintas, as novas máquinas permitiram uma
redução dos contingentes envolvidos diretamente na
produção, a automação provocou uma escala
inédita de substituição do trabalho vivo pelo trabalho
morto.
154. Os resultados da reestruturação produtiva ocorreram no
país com, pelo menos, uma década de atraso em
relação aos países capitalistas centrais. A
introdução de novas máquinas e novos processos, tanto na
produção direta industrial quanto nos serviços, veio em
resposta a um longo período de estagnação econômica
no Brasil. Diversos setores controlados pela burguesia brasileira desapareceram
ou ficaram sob controle multinacional, na esteira dos novos requisitos de
investimento. A necessidade de inserção no mercado internacional,
de parte da burguesia brasileira, expôs o mundo do trabalho ao processo
de universalização do capital, conhecida como
globalização. Ocorre, a partir deste período, uma
aceleração do processo de concentração de capital,
alterando as condições da competição capitalista e
de mobilização da força de trabalho. Essa mesma
concentração de capital é acompanhada de uma
desconcentração industrial, onde mais regiões elevaram o
seu peso relativo na produção. As privatizações das
empresas estatais se inserem neste movimento.
155. A desestruturação de determinados setores econômicos e
a ascensão de outros deixaram marcas profundas no mundo do trabalho.
Houve, nas regiões de concentração, redução
imediata do emprego industrial e de certos serviços. A
terceirização se difundiu, contribuindo para a
fragmentação objetiva da classe operária e de sua
organização. A crise do taylorismo-fordismo, substituído
como método de organização de trabalho pela
produção flexível, foi um fenômeno que
não se limitou à indústria de transformação.
A hiperespecialização do trabalhador, característica da
manufatura fordista, deu lugar ao trabalhador multitarefa.
156. A automação da produção gera um fenômeno
contraditório, de desqualificação do trabalho, ao mesmo
tempo em que eleva a exigência de qualificações formais.
Se, no taylorismo, existia a separação de gerência e
operação, planejamento e execução de tarefas, na
nova organização do trabalho, os trabalhadores têm como
tarefa a obtenção de qualidade, a conservação dos
equipamentos e o controle coletivo das tarefas da produção. Os
círculos de qualidade, o
kanban
e A construção de redes de informação abriram uma
nova fase de cooptação e pressão ideológica no
conjunto da classe operária. Como resultado desse processo, surge uma
classe operária com novo perfil, mais escolarizada e com uma maior
visão do conjunto da produção. Esta classe
operária, dentro da nova lógica da produção, se
vê como responsável pela produtividade e, portanto, mais afeita
à cooptação por parte do capital.
157. As transformações dos equipamentos e dos métodos na
indústria também ocorrem no setor de serviços. As
transformações no setor de serviços se apresentam com o
fim do birô e a multiplicação das baias informatizadas. A
meta da qualidade, uma qualidade muitas vezes falsa, se torna universal,
inclusive no setor público, que passa a emular a iniciativa privada. Nos
bancos, por exemplo, os empregados passam a "gerentes", que
não gerenciam nada, apenas introjetam as necessidades do capital. No
campo da educação, surge um verdadeiro fetiche da
informatização, vendida como a solução de todos os
problemas do aprendizado.
158. Em sua primeira fase, a revolução tecnológica do
capitalismo provocou demissões em massa, precarização de
relações de trabalho, aumento do contingente do exército
industrial de reserva. Alguns teóricos, na Europa e também no
Brasil, anunciaram o fim da classe operária, ou a
diminuição de seu peso histórico. Em muitos momentos,
esses teóricos confundiram o ser da classe operária com a sua
forma fordista e reduziram a produção de valor à
indústria de transformação. Essa visão serviu de
senha para grande parte do movimento sindical abandonar as
reivindicações econômicas imediatas e relegar a um segundo
plano a luta reivindicativa. Expressão disso é o
"sindicalismo cidadão" da CUT.
159. Na verdade, o número de assalariados não apenas se manteve,
como foi ampliado. O emprego industrial tornou-se mais difuso geograficamente e
superou, largamente, a organização por categoria do sindicalismo
brasileiro. A terceirização ajuda a distorcer as
estatísticas do emprego industrial, situando nos serviços
trabalhadores que são da indústria de
transformação. Empresas terceiras assumem atividades-meio, como
vigilância, limpeza e alimentação. O assalariamento se
difundiu, e os assalariados são a maioria na população
economicamente ativa do país, montando a cerca de 60% do total.
160. A produção de valor independe da materialidade da
mercadoria, existindo inúmeros setores classificados como
serviços produzindo mais valia. Nos setores de transporte,
comunicações, educação e saúde, por exemplo,
o processo de trabalho é a própria mercadoria. A
acumulação capitalista, em seu desenvolvimento, separa
constantemente a força de trabalho dos meios de produção.
A concentração de capital destrói e submete as
frações do pequeno capital. O profissional liberal, o lojista, o
pequeno proprietário dá lugar ao assalariado, ao franqueado, ao
prestador de serviços. Profissões, outrora orgulhosas de usa
independência do assalariamento, como advogados e médicos,
vão, agora, engordar as fileiras do proletariado. O serviço
público vai sendo submetido a métodos e condições
análogas à grande indústria. Introdução de
conceitos da qualidade total, remuneração variável e
gestão de pessoas se difundem por todo setor público.
161. Portanto, a reestruturação produtiva não destruiu o
trabalho e o assalariamento, mas implicou em mudança da
organização da classe, tanto no processo de trabalho como no
plano sindical e associativo. Houve um deslocamento geográfico e
funcional dos trabalhadores. Contrariamente ao que afirmavam aqueles que
defendiam a tese segundo a qual as mudanças ocorridas levariam a um tipo
de sociedade pós-industrial ou pós-capitalista, a
reestruturação produtiva aprofundou e tornou mais evidente a
contradição capital x trabalho.
162. Depreende-se, pois, que as dificuldades encontradas pelo movimento
operário e sindical não podem se resumir a uma crise de
direção, sendo, de fato, resultado do desmonte de uma forma
particular de organização da classe trabalhadora. Afinal,
é o capital que organiza materialmente a classe trabalhadora, ao
mobilizar o trabalho abstrato e realizar o encontro da força de trabalho
com os meios de produção. A crise do sindicalismo da empresa
fordista reflete a crise do fordismo como forma de organização do
trabalho. O modelo de parcelamento das tarefas e a concentração
de grande número de trabalhadores nas unidades produtivas permitiram a
organização e a mobilização em torno das
reivindicações imediatas, às vezes com um alto grau de
radicalização.
163. Todo esse processo traz, para o movimento sindical e a
organização dos trabalhadores, novos e imensos desafios. A
retomada do movimento operário, necessariamente, deverá refletir
o novo perfil da classe que surge com a revolução
tecnológica e com a universalização da
produção capitalista. As novas formas de luta surgirão
como reflexo da própria forma de organização da classe no
mundo do trabalho.
164. O advento do governo Lula marcou o fim de um ciclo do movimento
operário brasileiro. O Partido dos Trabalhadores, ao assumir o governo,
seguiu o devir dos partidos socialdemocratas no momento atual do sistema
capitalista: administrar a ordem do capital, permitindo livre curso para a
acumulação capitalista. O PT, hoje com um caráter mais
social-liberal do que socialdemocrata, realiza este projeto como
ninguém. Várias das organizações populares foram
chamadas a colaborar com a formulação política do novo
governo, sendo por ele cooptadas. A CUT se tornou correia de transmissão
da política de Lula, manietando a mobilização dos
trabalhadores. Isto significa mediar a perda de direitos e conquistas sociais e
trabalhistas.
165. A divisão da classe na base, provocada pela
reestruturação produtiva, levou à divisão da classe
na direção. Existem diversas centrais sindicais na atualidade,
afora a fragmentação do sistema confederativo. As mais
importantes – CUT, Força Sindical, UGT e NCST (Nova Central
Sindical dos Trabalhadores) – assumiram uma postura colaboracionista com o
Ministério do Trabalho. UGT e NCST, claramente em um movimento de
criação de reserva de mercado, rejuvenesceram a burocracia
sindical. A NCST, ancorada pela CNTI, Contmaf, CSPB e quejandos, é uma
clara tentativa de preservar o sistema confederativo tradicional. A Corrente
Sindical Classista (CSC), corrente sindical ligada ao PC do B, junto com o PSB,
formou a Central dos Trabalhadores do Brasil (CTB). No rumo da
concepção cutista, o centro de gravidade do movimento sindical
migra do sindicato de categoria para a central sindical, que ganharia direitos
de negociação de acordos e garantia de assento em todos os
organismos tripartites.
166. As dificuldades da organização tradicional dos sindicatos se
agravam. O distanciamento das direções da classe aumenta, em
função da repressão na empresa e pelo fato da agenda dos
sindicalistas ser diversa das prioridades dos trabalhadores. O sindicalismo
é, na maioria das vezes, limitado às atividades das sedes dos
sindicatos. As questões administrativas e de equilíbrio de
forças entre as correntes se sobrepõem às necessidades dos
representados, pois o petismo disseminou uma cultura política
despolitizante e espontaneísta. Criou a cultura de tendências, que
atuam de forma autônoma nos partidos e nas centrais. Essa estrutura
facilitou a construção de uma hegemonia socialdemocrata, ao
fragmentar as correntes classistas do movimento sindical.
167. No campo do movimento sindical classista, surgiram duas novas
organizações: Intersindical e Conlutas. A
Coordenação Nacional de Lutas surgiu em meio à reforma da
previdência do setor público, no início do governo Lula, em
2003. A insatisfação com a CUT e a perspectiva das reformas
trabalhista e sindical agudizaram a crise cutista, o que levou à
ruptura, naquele momento, de diversas entidades representativas do setor
público e de sindicalistas ligados ao PSTU. Porém, a Conlutas
não logrou congregar todos os setores descontentes da CUT. Apresenta
traços preocupantes de hegemonismo. Pela sua natureza de
coordenação de lutas, a Conlutas é a maior
expressão da concepção movimentista, levando a um
esvaziamento do conteúdo de classe do movimento operário.
168. A Conlutas se propõe a ser uma central sindical e popular, que
também incorpora, de maneira orgânica, o movimento estudantil. Com
isso, dilui a expressão sindical do movimento operário,
fundamental para a intervenção da classe operária na
conjuntura. Além dos problemas de dupla representação, que
facilitam o aparelhamento e a manipulação, a
concepção sindical-popular substitui o central, o conflito
capital-trabalho, pelas especifidades, que são importantes e exigem o
posicionamento dos comunistas, mas que devem ser entendidas, fundamentalmente,
como contradições geradas pelo caráter de classe da
sociedade capitalista.
169. A contradição principal da sociedade capitalista é o
conflito capital-trabalho. Este conflito assume diversas formas, desde a luta
específica por condições de trabalho em uma empresa
até a construção de um partido de vanguarda da classe
operária. Para que se possa acumular na direção das
condições subjetivas da superação do sistema
capitalista, o processo de organização dos trabalhadores enquanto
classe é fundamental. A central sindical expressa as dimensões
econômicas e políticas da luta dos trabalhadores. Portanto, essa
organização deve guardar autonomia em relação aos
governos e ao capital, sem se confundir com os demais movimentos sociais.
170. A Intersindical surgiu em 2006, após o Congresso da CUT daquele
ano, quando, conforme os comunistas do PCB haviam previsto, se esgotaram as
possibilidades de disputa política e de direção daquela
Central. Organizada em torno dos sindicatos da esquerda da CUT, teve os
comunistas em sua criação. Organizada mais recentemente do que a
Conlutas, a Intersindical carece de estruturação e seu
caráter nacional ainda é embrionário. A proposta da
Intersindical é ser uma entidade eminentemente sindical. Apesar da
organização recente, a Intersindical teve
participação decisiva no encontro nacional de 25 de março
de 2006, que reuniu 6.000 ativistas em São Paulo, nas jornadas de 23 de
maio e no Plebiscito Nacional da Vale do Rio Doce.
171. Em abril de 2008, a Intersindical realizou um encontro nacional em
SãoPaulo, com mais de 1.000 delegados. Este encontro foi bastante
representativo de categorias e estados. Nele ficaram evidentes as
divergências quanto ao caráter e à forma da
construção da central sindical. Os comunistas veem a
construção da central como uma necessidade do movimento
operário. A central deve exercer o papel de organizar a solidariedade de
classe e o encaminhamento dos interesses gerais da classe, ultrapassando os
limites de cada sindicato e de cada ramo econômico particular. Não
pode surgir como mero fruto de acordo das correntes de opinião atuantes
no movimento sindical. Para a sua construção, é mister que
haja uma base real, com trabalhadores organizados em seus sindicatos,
conscientes da necessidade de um instrumento unificador.
172. Correntes do PSOL que haviam optado pela Intersindical decidiram priorizar
a aproximação com a Conlutas, com vistas à
construção açodada de uma central sindical, sem haver,
antes, a necessária unidade de ação entre as diversas
organizações e sem a construção de uma plataforma
comum de lutas. As divergências acerca da construção da
central não serão resolvidas por debates entre
direções e, sim, na experiência concreta de luta dos
trabalhadores. A convivência em uma mesma organização de
duas estratégias – de um lado, fortalecer a Intersindical; de
outro, promover a aproximação com a Conlutas para criar a nova
central – tornou-se inconciliável. A opção dos
comunistas é clara: construir e fortalecer o instrumento de
organização e luta dos trabalhadores, que é a
Intersindical. É a tarefa central dos comunistas a
organização da Intersindical nos estados, regiões e ramos
de produção.
173. As diferenças de concepção não são
impeditivo para a construção de fóruns de luta, em que se
pratique a unidade de ação e se construa um programa de lutas. A
partir de um seminário nacional, realizado em novembro de 2008, foram
estabelecidos espaços para essa construção. Existe um
campo político de oposição ao governo e ao capital, que
ainda está longe de se consubstanciar na frente anticapitalista proposta
pelos comunistas, mas que tem se mobilizado em diversos momentos. Deste campo
fazem parte a Intersindical, a Conlutas e seus aliados, o MST, o Movimento dos
Sem-Teto, o Movimento dos Trabalhadores Desempregados, os partidos que
compuseram a frente de esquerda eleitoral, a Consulta Popular, partidos e
organizações que não pretendem a legalidade eleitoral. Os
comunistas trabalham para o fortalecimento deste campo, com o objetivo maior da
constituição da frente anticapitalista, que, necessariamente,
ultrapassará a atuação eleitoral.
174. Frente a este quadro, urge a rearticulação de um
sindicalismo classista e combativo. Aos comunistas cabe fortalecer a
Intersindical na direção da construção de uma
central sindical classista. Como instrumento de ação
partidária no movimento sindical, devemos avançar na
organização da Unidade Classista, visando à
reconstrução do movimento sindical brasileiro com base nos
seguintes pressupostos:
a) Mobilização permanente. O movimento sindical não pode
se ater a campanhas ou a marchas para Brasília. É
necessário mobilizar os trabalhadores em torno das suas
reivindicações, desde as lutas pela melhoria das
condições de trabalho na empresa até as lutas nacionais em
defesa dos direitos e conquistas, tendo como centro o local de trabalho;
b) Trabalho de formação. A formação deve desvelar
as relações de exploração na sociedade capitalista
e despertar a necessidade da luta contra o capital e a superação
do modo de produção capitalista;
c) Politizar a luta econômica. A luta por salário e por
condições de trabalho é um aprendizado. Cada luta deve
ressaltar a fragilidade das conquistas e despertar para a necessidade de lutas
unificadas;
d) Desenvolver a solidariedade de classe e o internacionalismo. A luta de uma
categoria em particular é a luta de toda a classe. A solidariedade e o
internacionalismo consolidam a consciência de classe e a
combatividade;
e) Fortalecer a organização por local de trabalho. A empresa deve
ser o centro de gravidade da atuação sindical. A OLT deve cuidar,
porém, de evitar a cooptação e a
subestimação do papel do sindicato como unificador e coordenador
da luta;
f) Organizar os trabalhadores por ramo de produção. Esta é
a maneira mais eficaz de construir a unidade dos trabalhadores no quadro de
fragmentação imposto pelo capital. O sindicato por ramo deve
superar o sindicato por categoria, previsto na CLT;
g) Preservar a unidade, combatendo o sindicato de partido, de corrente e de
central. Combater o sindicalismo por empresa, dando novo conteúdo
às OLTs;
h) Democratização da estrutura, coletivização das
decisões. A democracia no interior da classe é a maior arma
contra a burocracia e o peleguismo;
i) Participação em lutas nacionais unificadas. Sem essa
participação, as categorias vão para o isolamento e se
enfraquecem. A luta de um é a luta de todos.
j) Estabelecer relações com as vanguardas. O movimento sindical
necessita dialogar com partidos e movimentos sociais. Isto é fundamental
para a formação e para a participação nas lutas
unificadas.
175. Estes pressupostos não serão alcançados de maneira
espontânea ou por exercícios de vontade. A
reorganização do movimento operário e de sua
expressão sindical ocorrerá no bojo da nova experiência de
lutas dos trabalhadores.
A ditadura militar chegou ao fim, mas, para o movimento operário,
permanece a ditadura do capital. Se o objetivo for o reencontro com a classe,
as novas formas de organização devem refletir as necessidades da
classe e as suas formas de inserção no mundo do trabalho. O
sindicato por ramo deve englobar todos os trabalhadores, independente de ser
terceirizado ou não, se o contrato é efetivo ou
temporário, se o trabalhador está em uma atividade fim ou
atividade meio no processo produtivo. A constituição de
sindicatos por ramo ultrapassa os limites da legislação, mas deve
ser objetivo dos comunistas no movimento sindical.
176. A organização dos trabalhadores não pode ser pautada
pelas determinações legais. Porém, no atual quadro, a
ausência de regulamentações permitirá a
intervenção do capital na vida interna dos sindicatos e na
estrutura sindical. A manutenção dos direitos sociais na
Constituição é um limitador para a barbárie, bem
como a manutenção do papel dos sindicatos. O Direito do Trabalho
existe pela necessidade de regular as relações entre os
desiguais.
177. O sindicato é um instrumento importante da luta dos trabalhadores.
Mas as suas limitações são patentes. Sem uma visão
estratégica e sem a consciência da exploração
capitalista, o sindicato se perde no imediatismo das
reivindicações econômicas, ou seja, no economicismo e nas
exigências da administração da máquina sindical.
Verbalizar a luta econômica é central e manter a máquina
azeitada também é de extrema importância. Porém,
quem garante o conteúdo ideológico de classe, politizando a
discussão e superando os limites do imediatismo, característico
no discurso e na ação sindical é justamente a
presença orgânica do partido comunista no movimento sindical e
junto à classe operária.
178. O fortalecimento do movimento operário não se dará
por si só. A construção da vanguarda deve andar ao passo
da rearticulação do movimento. O Partido é capaz de
ultrapassar os limites das especificidades e politizar a luta econômica,
na busca da constituição de uma consciência de classe para
si, emancipadora, que apresente aos trabalhadores o seu papel histórico,
na condição de sujeitos das transformações
políticas que deverão combater e superar a lógica do
capitalismo e a hegemonia da classe burguesa. Os comunistas são parte
atuante do movimento operário. Disputam a sua direção
política e formal. Devem compor as direções sindicais.
Contribuem ativamente na formulação de políticas e
programas, certos de que a sua influência é decisiva para dar
conteúdo estratégico para o movimento operário, assumindo
assim o papel de vanguarda revolucionária, necessária no rumo da
superação do modo de produção capitalista.
179. O PCB reafirma a centralidade do trabalho e, sendo assim, tem como
prioridade estratégica a sua atuação no movimento
operário e sindical. Mas considera que outras formas de
organização popular, tais como a luta comunitária, de
gênero e de etnia, dos movimentos dos trabalhadores sem-terra e sem-teto,
são trincheiras cada vez mais claramente colocadas na
direção do enfrentamento aberto com o capital. Portanto, os
comunistas entendem ser fundamental participar ativamente da
organização desses movimentos e, através da disputa
ideológica dentro deles, romper com o viés imediatista e
espontaneísta que por vezes predomina em seu interior, na perspectiva da
construção da aliança desses setores com a classe
operária.
180. Dentre os movimentos sociais citados, o MST merece especial
atenção. A concentração de terras e a
agudização da exploração no campo levou à
emergência de movimentos de contestação, como o MST, cuja
base social vem dos segmentos mais pauperizados do campo: assalariados rurais
em período de desemprego, pequenos proprietários que perderam as
terras para bancos, deslocados por barragens, migrantes que fracassaram nas
cidades. Trata-se de uma base social que não tinha acesso ao
sindicalismo rural ou urbano. Trazer esse segmento social para a luta de massa
é o principal mérito do MST.
181. Cada vez mais, amplia-se a contradição entre os interesses
imediatos dos assentados, dentre os quais se inclui a dependência dos
projetos e das verbas governamentais, e o choque de interesses criados pela
política geral do governo Lula de apoio ao agronegócio, às
transnacionais que atuam no campo, à liberação das
sementes transgênicas e, principalmente, ao abandono do governo de
qualquer expectativa popular de tensionamento que leve a uma espécie de
ruptura com a ordem do capital e na direção a um projeto
socialista.
182. A atual formulação das direções do MST em
relação à reforma agrária, segundo a qual
não existe mais a possibilidade de uma mudança real nos limites
da ordem capitalista, abre caminho para que, efetivamente, possamos contar com
este movimento nos marcos da formação de um bloco
histórico de caráter socialista, em oposição aos
limites práticos e políticos do atual governo e aos ditames do
sistema capitalista. Os princípios socialistas do MST, suas metas
revolucionárias e mesmo seus objetivos imediatos de luta pela terra
permitem que se mantenha no campo estratégico da revolução
socialista no Brasil.
183. Estamos, portanto, diante de um momento especial para a luta de classes em
nosso país. O novo período histórico que se abre com a
crise global do capitalismo exige dos trabalhadores que se preparem da melhor
maneira possível para os embates que virão pela frente. O Partido
Comunista Brasileiro conclama os trabalhadores à
organização e à luta. Em todos os sindicatos da cidade e
do campo, nas organizações da juventude, nos organismos de
bairro, nos movimentos sociais, nas bases e núcleos dos partidos
políticos, enfim, onde houver condições de organizar a
população, todos os militantes têm o dever de realizar um
intenso trabalho político visando à construção de
uma frente de esquerda anticapitalista, permanente, de partidos, sindicatos e
outras organizações, voltada, primordialmente, a desenvolver um
calendário de lutas populares e um programa político capaz de
promover uma ofensiva ideológica de denúncia do capitalismo e em
prol da construção do socialismo.
184. Destas lutas deverá se formar um novo Bloco Histórico, o
Bloco Proletário e Popular, que venha a romper com a hegemonia atual do
Bloco Conservador Liberal Burguês, que representa a aliança de
classes entre a burguesia monopolista, o imperialismo e a pequena burguesia
política através da qual impôs-se uma hegemonia passiva a
setores do proletariado e das camadas mais pobres. O momento, pois, é o
de implementar a estratégia socialista, tendo em vista que o capitalismo
no Brasil desenvolveu-se plenamente, impondo suas relações nas
cidades, no campo e nas mais diversas regiões do país.
Além disso, consolidou seu Estado e sua hegemonia, da mesma forma que
estruturou uma sociedade civil burguesa que cooptou mesmo boa parte das
instituições que haviam se gerado contra a ordem, como o PT e a
CUT.
185. O caráter da revolução brasileira é socialista
porque toda e qualquer demanda do bloco popular e proletário se choca
com a ordem e a lógica da sociedade capitalista. Desde a demanda por
terra, por emprego e condições de vida, até a luta das
mulheres, as lutas ambientais, contra o preconceito de etnia ou regionalidade e
outras, todos esses movimentos já se chocam com a ordem do capital e os
interesses da burguesia monopolista. Neste sentido, contra a hegemonia burguesa
liberal do bloco conservador e seus aliados, é necessário
construir uma contra-hegemonia proletária e socialista.
Índice
A Estratégia e a Tática da Revolução Socialista no Brasil
Socialismo: Balanço e Perspectivas
Este documento encontra-se em
http://resistir.info/
.
|