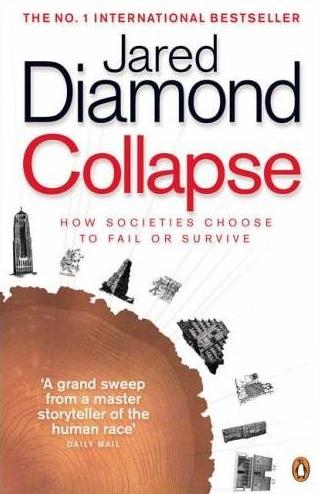Colapso — Como as sociedades optam entre o fracasso e a sobrevivência
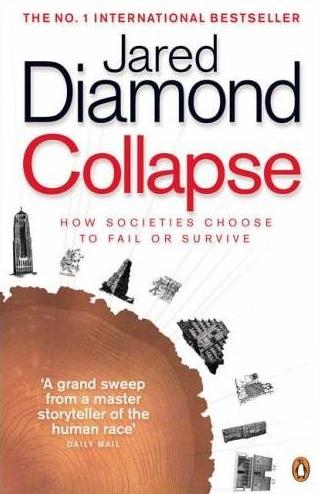 A Gronelândia norueguesa é uma das muitas sociedades antigas que
entraram em colapso ou desapareceram, deixando atrás de si, um conjunto
de ruínas monumentais como aquelas que Shelley imaginou no seu poema
“Ozymandias”. Colapso significa um declínio drástico na
dimensão da população e/ou na complexidade
política, económica e social, numa área
considerável e durante um período de tempo prolongado. O
fenómeno dos colapsos é, assim, uma forma extrema de
vários tipos de declínio menos acentuados e torna-se
arbitrário decidir quão drástica pode ser a
degradação dessa sociedade antes de a categorizarmos como
colapso. Nalgumas dessas formas de declínio mais suaves estão
incluídos os normais pequenos altos e baixos fortuitos e pequenas
reestruturações políticas, económicas e sociais de
qualquer sociedade; a conquista de uma sociedade por outra vizinha, ou o
declínio de uma estar ligado à ascensão de outra sociedade
próxima, sem mudanças na dimensão global da
população ou na complexidade de toda a região; a
substituição ou derrube de uma elite governante por outra. De
acordo com estes parâmetros, a maior parte das pessoas consideraria como
vítimas importantes de desastres totais, e não apenas pequenos
declínios, as seguintes sociedades: os Anasazi e os Cahokia, nas actuais
fronteiras dos EUA, os Maias na América Central, as sociedades Moche e
Tiwanaku na América do Sul, a Grécia Micénica e Creta
Minóica na Europa, o Grande Zimbabué na África, as cidades
de Angkor Wat e do Vale Hindu Harappan na Ásia e a Ilha de Páscoa
no Oceano Pacífico (ver mapa).
A Gronelândia norueguesa é uma das muitas sociedades antigas que
entraram em colapso ou desapareceram, deixando atrás de si, um conjunto
de ruínas monumentais como aquelas que Shelley imaginou no seu poema
“Ozymandias”. Colapso significa um declínio drástico na
dimensão da população e/ou na complexidade
política, económica e social, numa área
considerável e durante um período de tempo prolongado. O
fenómeno dos colapsos é, assim, uma forma extrema de
vários tipos de declínio menos acentuados e torna-se
arbitrário decidir quão drástica pode ser a
degradação dessa sociedade antes de a categorizarmos como
colapso. Nalgumas dessas formas de declínio mais suaves estão
incluídos os normais pequenos altos e baixos fortuitos e pequenas
reestruturações políticas, económicas e sociais de
qualquer sociedade; a conquista de uma sociedade por outra vizinha, ou o
declínio de uma estar ligado à ascensão de outra sociedade
próxima, sem mudanças na dimensão global da
população ou na complexidade de toda a região; a
substituição ou derrube de uma elite governante por outra. De
acordo com estes parâmetros, a maior parte das pessoas consideraria como
vítimas importantes de desastres totais, e não apenas pequenos
declínios, as seguintes sociedades: os Anasazi e os Cahokia, nas actuais
fronteiras dos EUA, os Maias na América Central, as sociedades Moche e
Tiwanaku na América do Sul, a Grécia Micénica e Creta
Minóica na Europa, o Grande Zimbabué na África, as cidades
de Angkor Wat e do Vale Hindu Harappan na Ásia e a Ilha de Páscoa
no Oceano Pacífico (ver mapa).
 As ruínas monumentais deixadas por essas sociedades do passado exercem
um fascínio romântico em todos nós. Na nossa infância
maravilhamo-nos quando as conhecemos através das suas imagens. Quando
crescemos, muitos de nós planeamos férias para as vivenciarmos
pela primeira vez como turistas. Sentimo-nos atraídos pela sua beleza,
muitos vezes espectacular e inesquecível, e pelos mistérios que
representam. A dimensão das ruínas testemunha a antiga riqueza e
o poder dos seus construtores. Parece que clamam: “Admirai as minhas
obras, ó poderosos, e desesperai” como diz Shelley. No entanto,
esses construtores desapareceram, abandonando as imensas estruturas que haviam
criado com tanto esforço. Como é que uma sociedade, tão
poderosa em tempos, pode ter entrado em colapso? Qual foi o destino dos seus
cidadãos? Será que eles emigraram e, se for esse o caso,
porquê? Ou acabaram por morrer lá de alguma forma horrível?
Por detrás deste mistério romântico espreita um pensamento
inquietante: poderá tal destino abater-se sobre a nossa próspera
sociedade? Será que algum dia turistas se vão estarrecer
confundidos perante as gigantescas estruturas decadentes de arranha-céus
nova-iorquinos, da mesma forma que hoje nos impressionamos pelas ruínas
das cidades Maia conquistadas pela selva?
As ruínas monumentais deixadas por essas sociedades do passado exercem
um fascínio romântico em todos nós. Na nossa infância
maravilhamo-nos quando as conhecemos através das suas imagens. Quando
crescemos, muitos de nós planeamos férias para as vivenciarmos
pela primeira vez como turistas. Sentimo-nos atraídos pela sua beleza,
muitos vezes espectacular e inesquecível, e pelos mistérios que
representam. A dimensão das ruínas testemunha a antiga riqueza e
o poder dos seus construtores. Parece que clamam: “Admirai as minhas
obras, ó poderosos, e desesperai” como diz Shelley. No entanto,
esses construtores desapareceram, abandonando as imensas estruturas que haviam
criado com tanto esforço. Como é que uma sociedade, tão
poderosa em tempos, pode ter entrado em colapso? Qual foi o destino dos seus
cidadãos? Será que eles emigraram e, se for esse o caso,
porquê? Ou acabaram por morrer lá de alguma forma horrível?
Por detrás deste mistério romântico espreita um pensamento
inquietante: poderá tal destino abater-se sobre a nossa próspera
sociedade? Será que algum dia turistas se vão estarrecer
confundidos perante as gigantescas estruturas decadentes de arranha-céus
nova-iorquinos, da mesma forma que hoje nos impressionamos pelas ruínas
das cidades Maia conquistadas pela selva?
Há tempo que se suspeita que muitos desses abandonos misteriosos se
deveram, pelo menos em parte, a problemas ecológicos: os homens
destruíram inadvertidamente os recursos naturais dos quais as suas
comunidades dependiam. Esta suspeita de um suicídio ecológico
involuntário – ecocídio – tem sido confirmado por
descobertas feitas nas últimas décadas por arqueólogos,
climatologistas, historiadores, paleontólogos e palinologistas
(cientistas que estudam o pólen). Os processos através dos quais
sociedades passadas se autodestruíram pela devastação dos
seus ambientes naturais podem ser classificados em oito categorias, cuja
importância relativa varia consoante os casos:
desflorestação e destruição do habitat natural,
problemas do solo (erosão, salinização e perda de
fertilidade do solo),
problemas de gestão dos recursos hídricos,
caça excessiva,
pesca excessiva,
efeitos da introdução de novas espécies sobre as
espécies autóctones,
aumento demográfico e
aumento per capita do impacto dos seres humanos.
Esses colapsos do passado seguem tendencialmente um percurso semelhante,
constituindo variações de um mesmo tema. O crescimento
demográfico forçou a população a adoptar meios de
produção agrícolas mais intensivos (tais como a
irrigação, a duplicação de colheitas ou a
introdução dos socalcos) e a expansão da agricultura de
zonas mais férteis inicialmente escolhidas, para zonas mais
periféricas, de forma a poder alimentar o número crescente de
bocas esfomeadas. As práticas insustentáveis conduziram à
destruição ambiental de uma ou mais das categorias enumeradas
anteriormente, e, mais uma vez, essas terras agrícolas marginais foram,
também elas, abandonadas. Socialmente isto trouxe consequências
como a escassez de alimentos, fome, conflitos entre demasiadas pessoas
disputando tão parcos recursos e o derrube das elites governantes pelas
massas descontentes. No fim, a população diminuiu devido à
fome, à guerra ou à doença e a comunidade, de alguma
forma, perdeu a complexidade política, económica e cultural que
tinha atingido o auge. Os escritores são tentados a procurar analogias
entre estas trajectórias das civilizações humanas e os
percursos de vida dos indivíduos – quando se fala do nascimento,
crescimento, auge, senescência e morte de uma sociedade – e a
assumir que o longo período de senescência, que a maior parte de
nós atravessa entre os anos áureos e a morte, também se
aplica às sociedades. Mas essa metáfora é errada para
muitas sociedades passadas (e para a moderna União Soviética):
depois de atingido o auge em riqueza e poder, o seu declínio brusco foi,
ao mesmo tempo, uma surpresa e um choque para os seus cidadãos. Nos
piores casos de colapso total, todos os habitantes emigraram ou morreram. Mas
é óbvio que não foi esta a trajectória sinistra que
todas as sociedades antigas seguiram sem variações até ao
seu desfecho: sociedades diferentes declinaram a níveis diferentes e de
formas diferentes, enquanto que muitas outras nem sequer sucumbiram.
Actualmente o risco destes colapsos é matéria de
preocupação crescente. Na realidade, tais situações
já se materializaram na Somália, no Ruanda e noutros
países do Terceiro Mundo. Muitos temem que o ecocídio venha a
sobrepor-se à guerra nuclear e às doenças emergentes como
a grande ameaça à civilização mundial. Os problemas
ambientais que hoje enfrentamos incluem os mesmos oito que minaram as
sociedades passadas e mais quatro novos:
alterações climáticas provocadas pelo Homem,
[1]
concentração de produtos químicos tóxicos no
ambiente,
escassez de recursos energéticos e
o uso total, por parte do Homem, da capacidade fotosintética do planeta.
Afirma-se que a maior parte destas doze
ameaças atingirão um estádio crítico à
escala mundial nas próximas décadas. Entretanto, ou solucionamos
estes problemas ou eles afectarão não só países
como a Somália, mas também as sociedades do Primeiro Mundo. Muito
mais provável do que um cenário do Dia do Juízo Final com
a extinção da raça humana ou colapso apocalíptico
da civilização industrial, seria “simplesmente” um
futuro com a degradação significativa dos níveis de vida,
com ameaças constantes cada vez maiores e a desagregação
daquilo que hoje consideramos como alguns dos nossos princípios
fundamentais. Um tal colapso poderia assumir diferentes formas, tais como a
disseminação de epidemias ou, então, de conflitos
bélicos à escala global, despoletados pela escassez dos recursos
ambientais. Se este raciocínio estiver correcto, nesse caso, os nossos
esforços hoje serão determinantes para o estado do mundo no qual
a actual geração de crianças e jovens adultos
viverão a sua meia-idade e velhice.
No entanto, é com grande vigor que se debate a gravidade dos actuais
problemas ambientais. Será que os riscos são demasiadamente
ampliados ou, pelo contrário, estão subestimados? Será
racional pensar que a actual população mundial de cerca de 7 mil
milhões, com toda a potente tecnologia moderna de que dispõe,
está a destruir o ambiente à escala planetária a um ritmo
muito mais rápido do que uns meros milhões de pessoas, com
instrumentos de pedra e madeira, o haviam feito no passado a nível
local? Será que a tecnologia actual irá resolver os nossos
problemas ou está a criar novas ameaças mais depressa do que
soluciona as antigas? Quando esgotamos um recurso (por exemplo: a madeira, o
petróleo ou as reservas piscícolas naturais), seremos capazes de
o substituir por um recurso novo (por exemplo: o plástico, as energias
solar e eólica ou a aquicultura)? Não estará a taxa de
crescimento populacional a abrandar, de tal forma que está já a
estabilizar num número controlável?
Todas estas interrogações ilustram a razão pela qual esses
famigerados declínios de civilizações antigas
alcançaram um significado mais vasto que ultrapassa o do simples
mistério romântico. Talvez possamos aprender algumas
lições mais práticas de todos esses colapsos passados.
Sabemos que algumas sociedades antigas desapareceram enquanto outras
sobreviveram: o que tornou algumas comunidades particularmente
vulneráveis? Quais foram, exactamente, os processos que levaram essas
sociedades a cometer ecocídio? Porque é que algumas dessas
comunidades não conseguiram antever o buraco onde se metiam e que,
pensando retrospectivamente, deveria ter sido óbvio? Quais foram as
soluções que resultaram no passado? Se tivéssemos
respostas para estas perguntas, poderíamos, talvez, identificar quais
sociedades se encontram hoje em maior risco e quais as medidas mais adequadas
para as ajudar, sem estar à espera de mais casos como o da
Somália.
Contudo, há diferenças entre o mundo moderno e as sociedades
passadas e os seus respectivos problemas. Não podemos ser tão
ingénuos ao ponto de pensar que o estudo do passado fornecerá
soluções fáceis, directamente aplicáveis nas nossas
sociedades actuais. Divergimos dessas civilizações antigas em
alguns aspectos que nos colocam em menor risco. Alguns desses aspectos,
já mencionados, incluem a nossa poderosa tecnologia, ou antes, os seus
efeitos benéficos, a globalização, a medicina moderna e o
conhecimento mais vasto de sociedades antigas e de sociedades modernas mais
distantes. Mas também somos diferentes noutros domínios que nos
levantam perigos maiores. Nesta linha temos, novamente, a nossa tecnologia
poderosa, ou antes, os seus efeitos destrutivos inesperados, a
globalização (de tal forma que, hoje, um colapso, por mais remoto
que seja como o da Somália, afecta os EUA e a Europa), a
dependência que milhões (e, brevemente, milhares de
milhões) de nós temos em relação à medicina
moderna para a nossa sobrevivência e a população muito mais
vasta. Talvez ainda possamos aprender com o passado, mas só se
ponderarmos bem sobre as suas lições.
Os esforços para compreender o passado têm de enfrentar uma grande
controvérsia e quatro complicações acrescidas.
Controvérsia pela resistência à ideia de que os povos
passados (sabendo-se que alguns deles são ascendentes de povos que ainda
existem e activos) fizeram coisas que conduziram ao seu próprio
declínio. Hoje temos maior consciência dos danos ambientais do que
há umas décadas atrás. Até os avisos em
hotéis invocam o respeito pelo ambiente e induzem-nos sentimentos de
culpa quando pedimos toalhas lavadas ou deixamos a água a correr.
Prejudicar o ambiente é, nos dias que correm, moralmente
condenável.
Não é de admirar que os nativos havaianos e os maoris não
gostem que os paleontólogos lhes digam que os seus antepassados
exterminaram metade das espécies de aves que se reproduziram no
Havaí e na Nova Zelândia, da mesma forma que os nativos americanos
não gostam que os arqueólogos lhes digam que os Anasazi
desflorestaram partes do sudoeste dos Estados Unidos. As pretensas descobertas
de paleontólogos e arqueólogos soam aos ouvidos de alguns como
mais um argumento racista utilizado pelos brancos para espoliar os povos
indígenas. É como se os cientistas afirmassem que “os vossos
antepassados foram maus guardiães das suas terras, por isso mereceram
ser expropriados”. Na verdade, alguns brancos americanos e australianos,
ressentidos com as compensações monetárias estatais e a
devolução de terras aos nativos americanos e aborígenes
australianos, agarram-se a estas teorias para avançarem com esse
argumento. Não só os povos indígenas, mas também
alguns antropólogos e arqueólogos que os estudam e que com eles
se identificam, vêem estas pretensas descobertas recentes como
calúnias racistas.
Alguns dos povos indígenas e desses antropólogos que neles se
revêem, apontam na direcção oposta. Insistem que os antigos
povos nativos, tal como os actuais, eram guardiães diligentes e
ecologicamente ponderados do meio ambiente, conheciam e respeitavam
profundamente a Natureza, viviam inocentemente num Jardim do Éden
idílico e nunca poderiam ter causado tanto mal. Como uma vez um
caçador da Nova Guiné me contou: ”Se um dia eu consigo matar
um pombo grande numa certa zona da nossa aldeia, espero uma semana antes de
voltar a matar pombos e nessa altura vou para outra zona da aldeia.”
Só os habitantes maldosos do mundo desenvolvido não conhecem a
Natureza, não respeitam o ambiente e destroem-no.
Na realidade, ambos os extremos desta polémica – os racistas e os
crentes num Éden passado – cometem o erro de considerar os povos
indígenas antigos como essencialmente diferentes dos actuais povos do
Primeiro Mundo, quer sejam superiores ou inferiores. Gerir os recursos naturais
de forma sustentável tem sido
sempre
difícil, desde que o
Homo Sapiens
desenvolveu a criatividade moderna, a eficiência e as aptidões
para a caça há cerca de 50 000 anos atrás. Logo desde a
primeira colonização humana do continente australiano há
46 000 anos e a subsequente extinção rápida da maior parte
dos antigos marsupiais gigantes da Austrália e outros animais de grande
porte, até todas as ocupações humanas de massas de terra
nunca antes pisadas pelo Homem – quer seja na Austrália, na
América do Norte, Madagáscar, nas ilhas mediterrânicas, no
Havaí ou na Nova Zelândia ou, ainda, em algumas dezenas de outras
ilhas do Pacífico –, sempre se seguiram ondas de
extinção de animais de grande porte que se tinham desenvolvido
sem qualquer medo dos homens e, por isso, se tornaram alvos fáceis ou,
então, sucumbiram às alterações de habitat
provocadas pelo Homem, pela introdução de espécies
parasitas e doenças. Qualquer pessoa pode facilmente cair na armadilha
da sobre-exploração dos recursos naturais devido a problemas
omnipresentes que se abordarão mais à frente: porque os recursos,
à primeira vista, parecem inesgotavelmente abundantes; porque os sinais
do seu depauperamento inicial são mascarados por
flutuações normais das reservas disponíveis durante anos
ou décadas; porque é difícil levar as pessoas a concordar
em pôr em prática restrições no usufruto de um
recurso comum (a chamada tragédia dos “comuns”, que veremos em
capítulos posteriores); e porque a complexidade dos ecossistemas faz com
que as consequências de qualquer perturbação de origem
humana se tornem virtualmente impossíveis de predizer, mesmo para um
ecologista profissional. Se hoje os problemas ambientais são
difíceis de gerir, muito mais o eram no passado. Especialmente para os
povos antigos, sem qualquer formação e que não poderiam
conhecer os estudos dos declínios de civilizações, a
destruição ecológica constituiu-se como uma
consequência trágica, imprevisível e involuntária do
seu melhor esforço, mais do que o resultado de uma cegueira moralmente
condenável ou de um egoísmo consciente. As sociedades que
sucumbiram eram – tal como os Maias – das mais criativas e –
durante algum tempo – das mais evoluídas e bem sucedidas da sua era
e não uns primitivos imbecis.
Os povos antigos não eram nem maus gestores ignorantes que mereciam ser
exterminados ou espoliados, nem ambientalistas sábios e conscientes que
resolviam problemas que hoje ninguém consegue. Eram pessoas como
nós, com dificuldades, em muito, semelhantes às que hoje
enfrentamos. Tinham tendência, quer para o êxito, quer para o
fracasso, em conjunturas semelhantes àquelas que nos fazem prosperar ou
falhar. É verdade que há diferenças entre a
situação que defrontamos hoje e aquela em que viviam os povos
antigos, mas ainda há semelhanças suficientes para que possamos
aprender com o passado.
Acima de tudo, parece leviano e perigoso invocar suposições
históricas sobre práticas ambientais de povos nativos que sirvam
de argumento para os tratar com justiça. Em muitos, ou na maioria dos
casos, historiadores e arqueólogos têm descoberto provas
surpreendentes de que esta suposição (sobre o ambientalismo tipo
Éden) é errada. Ao invocar esta ideia para justificar uma
abordagem correcta dos povos nativos, então teríamos de admitir
que, se tal ideia pudesse ser refutada, seria aceitável denegri-los. Na
realidade, a questão contra o descrédito dos povos
indígenas não é baseada em nenhuma verdade
histórica sobre as suas práticas ambientais. A questão
centra-se num princípio ético, nomeadamente, o de que é
moralmente condenável que um povo espolie, subjugue ou extermine outro
povo.
[1]
Ver
Aquecimento global: uma impostura científica
, de Marcel Leroux.
[*]
Biólogo, fisiólogo e escritor americano
. Autor de
Guns, Germs, and Steel
(1997), obra que ganhou o Prémio Pulitzer.
O original encontra-se nas páginas 3 a 10 do livro
Collapse: How Societies Choose to Fail or Survive
 , de Jared Diamond, Penguin Books, Londres, 2006, 576 pgs., ISBN 0-140-27951-2.
Tradução de PL.
, de Jared Diamond, Penguin Books, Londres, 2006, 576 pgs., ISBN 0-140-27951-2.
Tradução de PL.
Este texto encontra-se em
http://resistir.info/
.
|