A historiografia branqueada do semanário
Expresso
Uma história em fascículos
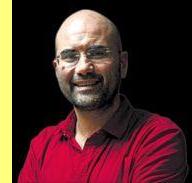 O
Expresso
está a oferecer gratuitamente aos seus leitores uma História de
Portugal dividida em nove fascículos, apresentando-a como "um dos
livros mais vendidos de sempre" entre os que se dedicaram à nossa
história. O
Expresso
acha (eu não) que este é "hoje reconhecido como um dos
melhores livros sobre a História de Portugal", e terá
querido disponibilizá-lo a dezenas de milhares de leitores para quem
é apetecível uma síntese em 900 páginas da
"história de um grande país".
O
Expresso
está a oferecer gratuitamente aos seus leitores uma História de
Portugal dividida em nove fascículos, apresentando-a como "um dos
livros mais vendidos de sempre" entre os que se dedicaram à nossa
história. O
Expresso
acha (eu não) que este é "hoje reconhecido como um dos
melhores livros sobre a História de Portugal", e terá
querido disponibilizá-lo a dezenas de milhares de leitores para quem
é apetecível uma síntese em 900 páginas da
"história de um grande país".
O livro é coordenado por Rui Ramos (RR), um historiador especializado na
Monarquia Constitucional e na I República portuguesas mas que se
encarregou nesta obra de cobrir também o período entre 1926 e a
atualidade. As épocas medieval e moderna estiveram a cargo de dois
historiadores (Bernardo Vasconcelos e Sousa e Nuno Monteiro) cujo trabalho
não comentarei. Dedicarei esta e a próxima crónicas
especificamente ao trabalho de RR, que concebeu e coordenou a obra e disse
há dois anos que ela pretendia ser meramente "uma porta de entrada
na História", e "aguçar o apetite do leitor",
descrito como "exigente" (Prólogo, p. II), e "fazer com
que as pessoas queiram ir ler mais" (Público, 31/5/2010). Esperemos
que sim.
RR não é um historiador qualquer; a sua visibilidade
pública é ajudada, como em pouquíssimos casos, pelo seu
acesso às tertúlias televisivas e à imprensa, onde se tem
destacado como uma das penas mais sólidas da direita intelectual
portuguesa, que reivindica "o prazer da provocação
intelectual e reconhece um aguçado espírito de
contradição, sobretudo quando o alvo é a esquerda"
(Ler, janeiro 2010). Para percebermos o que RR entende por
"provocação", e em resposta a quem acha — como eu
— que o seu trabalho é puro revisionismo historiográfico
política e ideologicamente motivado, ele entende que "toda a
História é revisionista" e nela "é
necessário afirmar originalidade" (
Público,
31/5/2010).
Centremo-nos hoje na narrativa que RR faz do papel de Salazar na
história. Para ele, o Estado Novo era "um regime assente (…)
no monopólio da atividade legal por uma organização
cívica de apoio ao Governo", e esta é a forma como ele
classificará sempre o partido único da ditadura, com "a
chefia pessoal do Estado" entregue a "um professor catedrático
introvertido", um homem "de outra espécie", com
"nada de uma personagem ditatorial" como a dos líderes da
Europa fascista do tempo (pp. 627 e 638-39). Neste campo, a primeira das suas
preocupações é a mais comum entre os historiadores da
área de RR: desenhar um Salazar sensato e algo neurasténico, que
não gostaria de uniformes (apesar da origem militar do regime e do seu
caráter inevitavelmente policial e repressivo) e que nada teria a ver
com Hitler, Mussolini ou Franco. O "pobre homem de Santa Comba", como
o ditador se definiu a si próprio, teria "para Portugal objetivos
simples" pois propunha-se "fazer viver Portugal habitualmente" e
"queria instituir uma "ditadura da inteligência" para
"fazer baixar a febre política" no país e
"reencontrar o equilíbrio" (p. 639).
A segunda originalidade de RR decorre daqui e descola totalmente da realidade:
oferecer-nos um Salazar liberal, por oposição aos republicanos de
1910 (um dos ódios de estimação de RR), que, praticamente
totalitários, teriam estado empenhados em fazerem da sua
"revolução" uma "transformação
cultural violenta" feita por um "Estado sectário" (pp.
585-86)! Salazar, pelo contrário, queria "assentar o Estado,
não na "abstração" de indivíduos
desligados da sociedade e arrastados por ideias de transformação
radical, mas no que chamou o "sentimento profundo da realidade objetiva da
nação portuguesa"". Para RR, "a
"missão" do líder" era a de "reconciliar os
portugueses com essa "realidade", e ao mesmo tempo ajudá-los a
adotar modos de vida sustentáveis". Em resumo, "o seu modelo
implícito era o que no século XIX se atribuíra aos
"ingleses", prático, "pouco sentimental": "Eu
faço uma política e uma administração bastante
à inglesa"" (pp. 639-40) — isto é, um Salazar
primeiro-ministro da rainha Vitória... Se acompanharmos as suas
crónicas no
Expresso,
a lição da História para a análise da crise atual
parece evidente. Hoje, "a austeridade é, no fundo, a vida depois de
desfeitas as últimas ilusões do passado" – exatamente
como Salazar, que "tinha ambições, mas não
ilusões" (RR, in
Sábado,
14.1.2010), se havia empenhado em "reconciliar os portugueses com a
realidade" e em "ajudá-los a adotar modos de vida
sustentáveis"! E o que é que, na opinião, de RR foi
insustentável no nosso passado recente? "Uma classe média de
funcionários (…), uma economia de trabalhadores e
empresários protegidos, e a estatização de grande parte
dos serviços (educação, saúde) e da
segurança social" (
Expresso,
28/7/2012).
RR leva à prática o que ele próprio estabeleceu como o fim
"desta História de Portugal [o de] despertar a
atenção para a importância da História como meio de
dar profundidade à reflexão e ao debate público sobre o
país." Para ele, "a História (…) é uma
maneira de pensar" (Prólogo, p. IV). Tem toda a razão. E a
sua está bem à vista.
Uma história em fascículos (2ª parte)
O
Expresso
decidiu oferecer gratuitamente aos seus leitores a História de Portugal
em 9 fascículos, coordenada por Rui Ramos (RR). Nela, apresenta-se-nos
uma ficção sinistra e intelectualmente cínica sobre a
ditadura salazarista, procurando aquilo que, até hoje, ninguém na
historiografia séria e metodologicamente merecedora do nome tinha
tentado: desmontar a natureza ditatorial do Estado Novo. Como comecei a expor
aqui há duas semanas atrás, é inaceitável que se
pretenda consagrar uma leitura tão manipulada da História.
Para RR, o salazarismo era "uma espécie de uma monarquia
constitucional, em que o lugar do rei era ocupado por um Presidente da
República eleito por sufrágio direto e individual" (pp.
632-33), que "reconhec[ia] uma pluralidade de corpos sociais (...) com
esferas de ação próprias e hierarquias e procedimentos
específico", mas que só "não admitiu o
pluralismo partidário" (p. 650). Nada se diz sobre o papel das
eleições como simulacro de legitimação popular ou a
fraude generalizada, realizada mesmo quando nenhuma candidatura alternativa se
atrevia perante a do partido único, para inflacionar artificialmente a
votação e simular um consenso que não existia.
É inacreditável ver produtos típicos da
fascização da sociedade, importados diretamente do fascismo
mussoliniano, como foram os sindicatos nacionais, as casas do povo (verdadeiras
"associações de socorro e previdência" que
"desenvolviam atividades desportivas e culturais") e os
grémios corporativos, descritos como meras
"associações" de "representação da
população ativa" (p. 644), sem se escrever uma linha sobre a
guerra total aberta aos sindicatos livres do período liberal, feita de
prisões, deportações e mortes.
Para RR, a repressão, definidora de qualquer ditadura, "tem de ser
colocada no contexto do uso da violência na manutenção da
"ordem pública"". Sem citar documentos, Ramos faz aquilo
que ele próprio diz que "os salazaristas fizeram sempre
questão" de fazer: "Comparar os métodos repressivos [de
Salazar] com a 'ditadura da rua' do PRP" (p. 652), sustentada sobre o
"trabalho sujo" de "gangues chefiados por
'revolucionários profissionais'" (p. 591), empurrando o leitor a
achar que a I República fora muito mais violenta que a ditadura. Esta
teria sido tão generosa que muitos "conspiradores e ativistas
conservaram as suas posições no Estado em troca de simples
abstenção política"; contrariando quase tudo quanto
se escreveu na História social e da educação do
salazarismo, diz-se que "não houve saneamentos gerais de
funcionários" (p. 653)! Pior terá sido a
Revolução de 1974-75, em que "20 mil pessoas [se] viram
afastadas dos empregos" e "pelo menos 1000 presos
políticos" terão sido detidos, "7 vezes mais do que no
fim do Estado Novo" (p. 732)...
Espantados? Para RR, o salazarismo, afinal, "não destoava num
mundo em que a democracia, o Estado de Direito e a rotação
regular de partidos no poder estavam longe de ser a norma na vida
política". A democracia não existia nem na "Europa
ocupada [sic] pela União Soviética", nos "novos Estados
da África e da Ásia" ou "mesmo na Europa
democrática", que "produziu monopólios de um partido
(...), sistemas de poder pessoal (...), restrições e
perversões" como "a proibi[ção] de partidos
comunistas" ou "tortura e execuções
sumárias" (p. 669). Em 1968, substituído Salazar por
Marcelo, "a democratização não estava na ordem do
dia" no mundo. Os "constrangimentos policiais", justificados
"no resto do Ocidente" pela "'luta armada' da
extrema-esquerda" (pp. 697-98) que se inicia no final dos anos 60, eram
semelhantes aos do Estado Novo. Eis aquilo que me parece puro cinismo: a
democracia, afinal, não existia em lugar nenhum, o que esbate qualquer
diferença entre ditaduras e sistemas liberal-democráticos, onde a
violência do Estado e de classe coexiste com um mínimo de
liberdade de ação para partidos e movimentos que contestem o
Estado e os ricos.
Da violência colonial, dos massacres perpetrados contra africanos, nem
uma palavra! E a guerra? "A opção [de recusa de sair das
colónias] não pareceu inicialmente excêntrica na
Europa" porque "a retirada europeia de África só
começou em 1960", omitindo que ela começara dez anos antes.
Se a guerra colonial (nunca assim designada, claro) "foi o maior
esforço militar de um país ocidental desde 1945" (p. 680),
as "guerrilhas" tiveram "reduzido impacto", a guerra
"não foi demasiado cara" e era "pouco
mortífera", e, "talvez por isso, o recrutamento nunca foi um
problema" (pp. 684-85), o que é talvez o erro factual mais
despudorado de todos quantos RR comete! Em resumo, "a guerra foi
aceite" (p. 685) pelos portugueses.
Dedução lógica: o que nos habituámos a chamar uma
ditadura não era mais do que um regime semelhante aos que por lá
fora havia, melhor até, no campo da repressão, do que muitos, a
começar pela I República e o 25 de Abril! Em tempos de
transição do Estado Social para o Estado Penal, como designa o
sociólogo Loïc Wacquant à criminalização dos
dominados que se opera nos nossos dias, o salazarismo voltaria a ser um regime
para o nosso tempo!
Ver também:
Uma História contemporânea de Portugal (segundo um moderno cronista da Corte)
, João Varela Gomes
Memória ideológica no centenário da República
, João Varela Gomes
[*]
Historiador,
http://www.letras.up.pt/dhepi/default.aspx?m=65
O original encontra-se no jornal
Público
, edições de 2 e 16/Agosto/2012.
Este artigo encontra-se em
http://resistir.info/
.
|