por João Varela Gomes
[*]
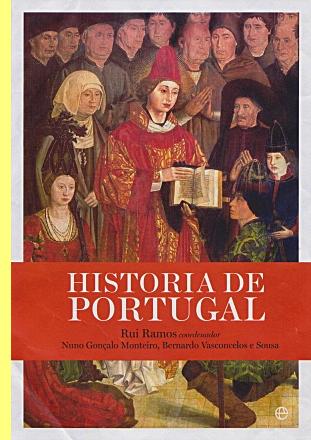 O meu interesse primordial [nesta obra
(1)
] visava, obviamente, a III Parte. Em especial, procurava saber como o seu
autor – Rui Ramos (RR), historiador já formado em liberdade
democrática – iria descrever/analisar um período
histórico que envolveu a nossa vida, a geração precedente
e determina a dos nossos filhos. Daquilo que de RR tinha lido, colhi a ideia de
ser um intelectual competente no seu ofício e de mentalidade aberta.
Para maior curiosidade, confessava-se homem de direita (no jornal
Público,
onde colabora). Estaria na presença de uma avis rara?
O meu interesse primordial [nesta obra
(1)
] visava, obviamente, a III Parte. Em especial, procurava saber como o seu
autor – Rui Ramos (RR), historiador já formado em liberdade
democrática – iria descrever/analisar um período
histórico que envolveu a nossa vida, a geração precedente
e determina a dos nossos filhos. Daquilo que de RR tinha lido, colhi a ideia de
ser um intelectual competente no seu ofício e de mentalidade aberta.
Para maior curiosidade, confessava-se homem de direita (no jornal
Público,
onde colabora). Estaria na presença de uma avis rara?
Relanceando a partir dos capítulos VI e VII da III Parte, respeitantes
à I República Democrática (1910/1926), desde logo se pode
notar que RR admite a tese do "bambúrrio" (do feliz acaso),
muito cara aos monárquicos e restantes vencidos, como explicativa do
triunfo dos republicanos a 5 de Outubro de 1910. Uma vitória pouco
participada, diz. Sem apoio popular significativo; para, mais adiante, vir a
admitir que a "ideia de República" estava generalizada entre o
povo e a burguesia patriótica. (A primeira revolta republicana fora em
31 de Janeiro 1891, dezanove anos antes).
Mas é só consultando a Cronologia Seleccionada (pág. 861)
que é possível percepcionar o desencadeamento imediato dos
ataques contra a recém-nascida República. Aí se lê
que logo a 5 de Outubro de 1911, exactamente um escasso ano sobre a
proclamação do novo regime, uma invasão (a que chamam
incursão) a partir da Galiza, de uma coluna armada de exilados comandada
pelo capitão de cavalaria Paiva Couceiro (o derrotado na Rotunda),
contando com o apoio do governo de Madrid e do rei de Espanha Afonso XIII,
tentou provocar o levantamento da população rural/católica
do Norte contra a República. A contra-revolução iniciava a
sua macabra função de desestabilização e sabotagem.
Essa primeira investida foi rechaçada pela tropa fiel e pela
população; no entanto, menos de um ano depois, a 6 Junho 1912,
nova "incursão" sofreu igual desaire. Mas os
contra-revolucionários continuaram organizados do outro lado da
fronteira, ameaçando a república democrática; e sempre com
o apoio da monarquia espanhola. Por fim, em 9 Janeiro 1919, tinha o
exército português acabado de regressar da Flandres e das
campanhas de África contra os alemães, Paiva Couceiro consegue
ocupar a cidade do Porto e aí proclamar a "Monarquia do
Norte". Pouco durou. A República sabia defender-se, como reconhece
RR. Quando a reacção monárquica tentou repetir o golpe em
Lisboa, o governo mobilizou a população, distribuiu armas aos
civis republicanos, cujos destacamentos, em conjunto com forças da
Marinha, liquidaram a fugaz "monarquia do Monsanto" numa arrancada
que ficou célebre.
A CONTRA-REVOLUÇÃO
Na cronologia dos acontecimentos, RR (?) situa o deflagrar da "guerra
civil" na sequência da derrota monárquica de 1919. Ora, na
verdade, a guerra interna contra a República – a
contra-revolução, muito simplesmente – fora declarada e
empreendida pelos reaças de todo o matiz, nomeadamente os
católicos de obediência eclesiástica, desde a
promulgação da Lei de Separação do Estado das
Igrejas em 20 de Abril de 1911; isto é, desde que os sectores mais
reaccionários e retrógrados do País se aperceberam que o
Partido Republicano (PRP) de Afonso Costa iria cumprir, honesta e
rigorosamente, os compromissos e as promessas constantes da sua propaganda
programática; e onde a Lei da Separação tinha sido –
e era – a bandeira mais flamejante.
A contra-revolução visando a destruição da
República Democrática de 1910 e a restauração do
statu quo ante foi feroz, sem tréguas, chegando ao bombismo e ao
assassinato político. Tal qual veio a suceder em 1974-75 contra a
Revolução de Abril. Assim, também os "militares
moderados" da 2.ª década do século passado conspiraram
desde a primeira hora contra a revolução democrática. Em
Maio de 1915, os golpistas militares organizados no "movimento das
espadas" conseguiram alcançar o poder; mas foram rapidamente
desalojados pela enérgica resposta do povo armado em Lisboa, sob a
direcção do PRP. Não desistiram. Recorreram ao
assassinato. Na "noite sangrenta" (19 de Outubro de 1921) pereceram
às mãos de sicários pagos pela reacção
monarco-clerical o chefe do governo António Granjo (horrorosamente
torturado), os heróis da República Machado dos Santos e Carlos da
Maia. RR escreve que "os radicais ajustaram contas com os republicanos
que, desde 1911, lhes haviam resistido" (pág. 617). Lê-se...
e custa a acreditar. O cronista não tem uma palavra de
condenação. E chama "radicais" aos
contra-revolucionários inimigos da República! Passa em
silêncio as conclusões da investigação, devida em
exclusivo à dedicação heróica da viúva da
Carlos da Maia, onde ficou apurada a responsabilidade de elementos destacados
da Igreja na conspiração assassina.
Acrescento apenas só mais um rabo-de-gato, dos muitos que Rui Ramos
deixou de fora no seu breve
aperçu
(percepção, será uma boa tradução) sobre a
I República Democrática Portuguesa. Lembrou-se ele do
Integralismo Lusitano – nacionalistas protofascistas – como "o
movimento de maior sucesso conquistando liceus e universidades"
(pág. 602); "eram jovens sobretudo iconoclastas professando um
snobismo chique... e foi essa a sua força perante os governos
republicanos" (fim de citação). Lembro-me eu agora que
também por cá tivemos essa canalha contra-revolucionária
anti-Abril. Os emeérres e outros esquerdalhos cheirando a chique e a
merda. RR, pelos vistos, apercebeu-se do seu papel histórico.
O autor dedica 70 páginas (cap. XVIII e XIX) ao período de 48
anos de regime ditatorial militar/fascista. Em geral a abordagem continua a
pretender ser desprendida, neutral. Por suposto, o historiador como
profissional deixa de ter interesses quer individuais, ideológicos ou de
classe; converte-se num simples narrador de factos, num cronista.
Ora tal como acontece com a cronologia relativa ao período de 16 anos da
I República, também a cronologia dos seguintes 48 anos
(págs. 862/4) acaba por fixar os acontecimentos que, do ponto de vista
do autor/coordenador da obra, serão os mais marcantes da época.
Assim, entre outros, surgem destacados: em 1927, fracassa a
insurreição armada republicana contra a ditadura militar. Em
1958, a campanha eleitoral de general Humberto Delgado. O ano ominoso de 1961,
que ditou a condenação internacional do fascismo salazarento
anunciando a sua próxima derrota histórica, mistura em seis
linhas: o assalto ao paquete Santa Maria; início da guerra colonial em
Angola; o fracasso da conspiração dos generais; o colapso do
exército português na Índia. O assassinato de Humberto
Delgado pela "polícia política" em Fevereiro de 1965,
está assinalado. A Oposição antifascista, o movimento
popular e estudantil, a resistência sem igual do PCP, merecem apenas duas
referências: em 1945; e, em 1960, a evasão de Peniche.
A LINGUAGEM DO MANHOLAS
Estado Novo é a etiqueta que RR usa, quase exclusivamente, para designar
o fascismo salazarento. Não tão neutral como isso, é caso
para dizer; era da autoria e a sempre usada pelo chefe Manholas.
Autoritarismo é a característica mais negativa que RR encontra no
"anterior regime"; junta-lhe, por vezes, um crítico
conservadorismo Curiosamente – ou talvez nem tanto – são as
duas palavras-chave que Jorge Sampaio utilizou em 2002, era Presidente da
República, na cerimónia do 28.º aniversário do 25 de
Abril. Do alto da tribuna da Assembleia Parlamentar crismou o fascismo
salazarista como "autoritarismo conservador".
A complacência para com o regime fascista (com perdão de V. Exas.)
impregna o texto de Rui Ramos em paralelo com um paternal desdém para
com as fraquezas da Oposição e da Resistência. Algo muito
parecido com a famosa "tolerância" pregada e praticada por
Mário Soares; cujo reverso, indissociável, sempre foi uma severa
apreciação de comunistas, esquerda revolucionária ou
meramente desalinhada.
A compreensão tolerante do cronista pelo regime que
"amordaçou Portugal" perto de meio século (a
expressão fez a glória do M. Soares oposicionista) manifesta-se
em inúmeras observações e comentários. "(...)
não é possível negar que o Estado Novo foi moderado (...)
os assassínios foram muito raros e os presos políticos foram
sempre poucos" (pág. 652).
"Regimes democráticos contemporâneos na Europa apresentaram
contabilidades repressivas análogas ou piores (...)" (idem). O
pluralismo de opinião, dentro de estreitos e vigiados limites, continuou
a ter expressão pública (...)" (deve ter sido o Soares que
rebentou com a mordaça!). Rui Ramos grava em título de
parágrafo a maravilhosa conjunção da
"Repressão e a persistência do pluralismo". "Em
1940, Salazar parecia ter o País a seus pés. Além de
Presidente do Conselho, era ministro das Finanças, dos Estrangeiros e da
Guerra. A oposição estava desmantelada" (pág. 662).
(Que ganda homem! Até o Sócrates de Alijó se morde todo de
inveja). Segue por aí fora o cronista da Corte descrevendo a Obra do
estadista, com percentagens e outras camuflagens; e as acrobacias do genial
diplomata, virando a casaca consoante a sorte da guerras... da Mundial, da
Fria... até a Colonial lhe acabar com a peçonha.
Simultaneamente, RR vai apagando, ou mesmo rebaixando, a Resistência
antifascista nas sua várias vertentes. Na circunstância não
há vagar – e em nenhuma haverá interesse – para
esmiuçar a perversa tolerância democrática dos
anticomunistas/contra-revolucionários que a si próprios se
têm apelidado de "moderados".
Limitar-me-ei a três linhas na pág. 477. "No princípio
de 1959, alguns militantes católicos e monárquicos entraram numa
conspiração militar que, como as outras desde 1945, nunca
saiu". Usando a fórmula sintáxica de RR, direi que
não é possível negar que o objectivo dessa pequena nota
pretende apenas apoucar as revoltas militares contra a ditadura; e, de caminho,
rebaixar também a participação de sectores
católicos e monárquicos na luta antifascista. Um historiador de
ofício não pode tomar partido; muito menos para amesquinhar
manifestações de revolta contra ditaduras e tiranias. Quando o
faz... denuncia-se.
"Revolta da Sé" foi como ficou registada nos anais da luta
antifascista esta tentativa gorada de Março de 1959. Era sequela directa
e repúdio pela farsa eleitoral do ano anterior (H. Delgado). Honra a
quem se rebelou, sacrificou vidas e carreiras. Vários militares e civis
foram presos e julgados, muitos outros conseguiram iludir a
retaliação governamental. Francisco Sousa Tavares foi o
monárquico mais empenhado; Manuel Serra o rebelde dirigente
católico de sempre. Dos militares lembro, os então
capitães Luís Vicente da Silva, Amílcar Domingues, e o
comandante Vasco Costa Santos, ainda entre nós; Xavier de Brito e outros
mais na GNR. Todos nos respectivos quartéis prontos a actuar. O
julgamento em Tribunal Militar – como instituído era desde
séculos – teve a presidi-lo dois íntegros oficiais que me
apraz, aqui e agora, nomear: os coronéis de artilharia Teixeira de
Almeida e Rui da Cunha. Em memória, como homenagem e exemplo. Pois
receio bem que depois da "normalização"
contra-revolucionária de 75/76 essa espécie de militares,
já então rara, entrou em vias de completa extinção.
Os cronistas da Corte só curam dos vencedores, é bem sabido.
São orgulhosamente pragmáticos. Quando se trata de
contestação ou revolta contra poderes ou interesses
estabelecidos, apagam da história os dissidentes e os rebeldes. No
Portugal da II República é esse o timbre da historiografia
oficial, quer académica, quer mediática.
O DISFARCE DO MEDO COMO CONFORMISMO
No entanto, Rui Ramos força a nota e assim abre o jogo. No sentido em
que 50 anos da existência de uma Pátria – que é a
nossa – vividos sob o jugo de uma das mais duradouras ditaduras
contemporâneas, aparecem narrados como um
fait divers
(um episódio, um contratempo, um percalço) sem
consequências de maior. Escreve a págs. 653: "O regime
assentava mais no conformismo que na mobilização"; devendo
ler-se, imposição política. Síntese da
opinião do autor/historiador sobre o lapso de 50 anos, apresentado como
um mero "interregno fascista"! Mas o conformismo – ilustre
investigador doutorado em Oxford – era o medo. É o medo que ficou
incrustado no carácter conformista, submisso e humilde, do
português comum na democracia de hoje. O medo que qualquer observador
estrangeiro logo detecta num primeiro contacto com a realidade nacional. RR
decerto também o sabe. Nem escapa à maioria dos
sociólogos, dos intelectuais portugueses em geral. Está na moda,
na boca dos críticos mediáticos que por aí abundam. O
fascismo não foi uma banalidade, meu caro. Foi uma calamidade. E algum
respeito deve haver para aqueles que nunca se conformaram nem se conformam.
Distinguindo, como é justo, os comunistas portugueses sempre na primeira
linha do combate e do sacrifício.
Torna-se indispensável uma 2.ª parte desta recensão, de modo
a cobrir os caps. X e XI – "A Revolução do 25 de
Abril" e "Uma Democracia europeia".
Para conhecer a versão dos vencedores já basta a História
e os historiadores.
A obrigação do investigador probo é a de salvar a
realidade ocultada.
A FUNÇÃO DO CRONISTA DA CORTE
Com efeito, a perspectiva do historiador doutorado Rui Ramos (RR),
autor/coordenador da História de Portugal recém editada que
estamos comentando pertence ao género "politicamente
correcto", geralmente adoptado pelos mais bem sucedidos profissionais do
ramo, seja no meio académico, editorial ou mediático. Desde os
tempos medievais, a função dos "cronistas da corte" tem
sido essa: exaltar os feitos dos poderosos, defender a ideologia da classe
dominante e seus interesses Enfim, em todas as épocas, assim foi.
É a lei da vida, da sobrevivência, dizem os pragmáticos do
moderno liberalismo. Lei que se aplica aos seres humanos... e aos moluscos
também.
No campo da suposta ciência historiográfica – ou arte de
deixar registo da história dos humanos – duas vias paralelas se
apresentam ao espírito crítico: I) a leitura literal do registo e
sequente interpretação; II) a interrogação sobre o
não registado e a procura de uma resposta plausível.
Vamos então aplicar ao Capítulo X da obra em questão,
intitulado "A Revolução do 25 de Abril", o esquema de
análise acima proposto, embora na forma abreviada requerida para um
texto de imprensa.
Leitura literal – RR começa (p. 707) por destacar a
importância dos generais no golpe. "Embora nunca pudessem ter feito
o golpe sem Spínola, criaram a ideia, depois geralmente aceite, de uma
revolução dos capitães". (p. 715). "O golpe do
25 de Abril foi uma pura operação militar, sem
ramificações civis ou diplomáticas (...) a embaixada
americana, às 11 horas da manhã, não tinha
indicação (...)" (p. 710). "No próprio dia, a
maior parte dos lisboetas limitou-se a comprar jornais (...) Foram estudantes e
rapazes quem começou por festejar as tropas". "No dia 25,
não foi o “povo” que determinou os acontecimentos, mas o
fracasso do regime" (p. 713). "(...) um clima de debate e
reivindicação, logo desde o dia 26: marchas nas ruas, assembleias
nas fábricas e escolas (...) greves como as dos CTT e TAP, acarinhadas
[textual!] pelos grupos de extrema-esquerda" (p. 714). "A 19 Junho,
nos Açores, Spínola ainda pediu auxílio ao presidente
americano Nixon (...) [mas] (...) Kissinger decidiu que qualquer ajuda
dependeria do PCP sair do Governo" (p. 717). RR menciona a tentativa
frustada de Spínola, em Julho, para se fazer eleger presidente de
imediato e adiar a Assembleia Constituinte para fins de 1976 (p. 715). A
demissão de Spínola como resultado da derrota sofrida no "28
de Setembro" por força da mobilização popular, leva
RR a concluir (p. 718) que "a História do 25 Abril foi reescrita
como uma “revolução de capitães” logo
transformada em “revolução popular”, cujo destino final
só podia ser um: o “socialismo”".
"Nenhum partido, depois de Setembro, se reclamou da direita. À
esquerda, todos trataram pôr a render o seu património de
“resistência ao fascismo” (...) ocuparam os serviços
públicos, as autarquias (...) o PCP ultrapassou todos. Já tomara
a dianteira na ocupação dos sindicatos (...) organizados agora em
Intersindical. (...) O primeiro-ministro Vasco Gonçalves e a 5.ª
Divisão do Estado-Maior-General caíram sob a sua
influência" (pp.724/26). Porém, RR escreve logo a seguir:
"O PS era, no princípio de 1975, o partido com mais lugares no
Governo e mais influência na imprensa" (p. 726, linha 30).
"Tudo parecia indicar uma nova correlação de forças
(...) o PS mantinha contactos com os spinolistas (...) o fracasso do 11 de
Março comprometeu todos os “moderados”. Nessa noite, a
revolução deu o salto (...) por iniciativa da 5.ª
Divisão (...) foi a célebre “assembleia selvagem”"
(p. 727). RR considera o "Processo Revolucionário Em Curso –
PREC" só a partir dos acontecimentos do 11 de Março 1975
"(...) apesar de (...) uma revolução conduzida
através de legislação e com cautela" (p. 730). Para
logo a seguir, RR passar a fazer fé numa Comissão de
Averiguação de Violências (Sevícias, no original)
nomeada a 19 Janeiro 1976 pelo já Conselho da
Contra-Revolução; cujas conclusões referiam sete vezes
mais presos políticos que no fim do fascismo, episódios de maus
tratos e até tortura, etc. (p. 732). E, afinal, "o MFA
(pós-11 de Março 75) tinha organizado eleições que,
pela primeira vez em Portugal, se tornaram numa fonte de legitimidade
política" (p. 734).
Durante o Grande Confronto – assim RR designa os meses de Maio a Setembro
de 1975 – "o PS não estava sozinho. Contava com uma parte da
extrema-esquerda, a que tinha o PCP como inimigo principal, os maoístas
do MRPP. Mas, sobretudo, passou a dispor do auxílio da Igreja (...) Em
Julho e Agosto, a Igreja promoveu enormes manifestações
anticomunistas no Norte, as maiores desde 1974". (p. 736). O governo,
após o cerco a S. Bento, em 13 de Novembro, "suspendeu actividades
e pensou refugiar-se no Porto sob protecção da NATO (...)
viveu-se entre boatos e enormes manifestações de rua (...) Mas
ninguém desejava uma guerra civil" (p. 742).
A Revolução terminou a 25 de Novembro de 1975, por efeito daquilo
que Rui Ramos apelida de "O Compromisso de Novembro".
Creio que a perspectiva do autor sobre a Revolução de Abril
– Cap. X da História de Portugal, de que é o principal
responsável – fica suficientemente explicitada através da
leitura literal das transcrições atrás citadas. Trata-se
da visão histórica congenial aos sectores mais
reaccionários da direita política, adoptada por todas as
forças contra-revolucionárias inimigas da componente popular e
patriótica de Abril. Como cidadão anónimo, Rui Ramos pode
até vender a alma ao diabo e ir para o inferno; como historiador,
professor, doutor e nem sei que mais, demonstrou ser demasiado
"politicamente correcto" para o ofício. Ou talvez eu esteja
enganado; talvez seja por isso mesmo que os "poderes vigentes" lhe
publicam terceiras edições com três meses de avanço!
Dispenso-me aqui – e dispenso os leitores – de rebater uma a uma as
deficiências de visão de que sofre o autor. Pois se ele nem sequer
viu as fotografias da multidão no Largo do Carmo ou no Terreiro do
Paço; mas no dia seguinte (sem fotos) conseguiu ver
manifestações de protesto! É obra, de cronista
visionário, sem dúvida. Na verdade, é enorme o volume de
coisas, acontecimentos, situações, etc, de que RR não
tomou, ou não quis tomar, conhecimento; ou seja, a realidade oculta, ou
ocultada, que compete salvar, para que a História se respeite. Isso
leva-nos, de imediato, à segunda proposta de análise: a
interrogação sobre o não registado e a procura de
respostas.
REALIDADES OCULTADAS
A procura de respostas – Uma das mais importantes realidades ocultadas
pelos historiadores de serviço, comentadores avençados e gente
que se deixa ir na onda, diz respeito à intervenção
estrangeira (imperialista) na Revolução de Abril. No caso da obra
que estamos questionando, essa ocultação é praticamente
total; trata-se, aliás, da posição oficial do regime
democrático vigente, filho natural da contra-revolução.
Para a totalidade das chamadas elites da burguesia no poder mais clientelas e
penduras, o assunto é religiosamente tabu. Um não inscrito, diria
o filósofo José Gil. Intervenção estrangeira na
revolução portuguesa? Não tomei conhecimento, nem sei do
que se trata, nem quero saber. Assim respondem os académicos nacionais e
os sicofantas com acesso mediático. Não apenas indígenas.
De um historiador catalão (S. Cervelló), que permaneceu em Lisboa
durante todo o PREC ouvi, na apresentação do livro de sua autoria
sobre a revolução portuguesa, a seguinte
explicação: "Não se pode meter tudo". Ora
aí está uma explicação científica, por
testemunha qualificada, para o apagamento da intervenção
estrangeira!
R. Ramos ainda estará mais refinado, trinta anos passados. Frank
Carlucci, o embaixador americano padrinho da contra-revolução
portuguesa, merece-lhe somente duas curtas alusões. A VI Esquadra
americana, nunca a enxergou no Tejo, nem sequer na histórica madrugada
do 25 de Abril viu o imponente porta-aviões "Forrestal",
rodeado por dezenas de navios da NATO. Efectivamente, ao largo da costa
portuguesa ou fundeada no Tejo, sempre esteve a polícia de
intervenção da NATO, em todos os momentos cruciais da
revolução portuguesa: "manobras há muito
calendarizadas", explicava-se; e isso tem chegado para o historiador
(imparcial!) ficar ceguinho. Mas a cegueira da historiografia oficial – a
obra de RR incluída – sobre a ingerência das potências
NATO, não apagou apenas as silhuetas dos navios de guerra em
águas portuguesas nos 19 meses revolucionários. Apagou
também toda a formidável mobilização dos governos
reaccionários europeus e americano contra um Portugal liberto do
fascismo. No Verão de 75, ao nível mais alto dos governos
ocidentais, esteve em projecto a ocupação dos Açores e a
invasão do território continental; ao aproximar-se Novembro,
preparava-se o bombardeamento da "Comuna de Lisboa" e a guerra civil
entre o Norte e o Sul do país. A cruzada anticomunista internacional
contra o Portugal de Abril atingiu proporções únicas de
irracional paranóia. Nuvens de espiões e agências de
sabotagem, provocadores e infiltrados, rios de dinheiro, campanhas
difamatórias, tudo foi usado para destruir o processo libertador
português.
De nada disso dá conta – tomou conhecimento – o
cronista/historiador Rui Ramos na sua obra. Também não se deu ao
trabalho de percepcionar, como tal, as provocações no jornal
República
(Maio/Junho de 75), o assédio ao congresso do CDS (Porto, Janeiro de
75), o assalto e saque da embaixada de Espanha (27 de Setembro), etc.. Em
contrapartida, percepcionou muito bem a actividade conspirativa do PS com os
spinolistas, depois com o MFA dos moderados, com a Igreja, com a
extrema-esquerda e a restante escória a mando e estipêndio do
imperialismo.
Mas, além disso, RR devia ter percepcionado o Levantamento Popular do
Norte, em Julho/Agosto 75, como sendo o prelúdio da guerra civil
desejada pelos inimigos de Abril, abrindo a caça aos comunistas e
antifascistas, com assassinatos e incêndios abençoados pelo
arcebispo de Braga e cónego Melo; devia ter visto que no Grande
Comício do PS na Fonte Luminosa (19 de Julho) mais de metade dos
manifestantes era dessa gente do antigamente fascista, sedentos de desforra e
vingança. RR devia ter registado que a Assembleia de Tancos (3/4 de
Setembro de 75) que liquidou o MFA foi muito mais "selvagem" que a da
noite de 11/12 de Março (onde quem quis entrar entrou e participou,
enquanto em Tancos eu próprio fui impedido de entrar perante
ameaça de prisão); Rui Ramos deve saber que a fuga, em
pânico, para Espanha e Brasil, da elite burguesa nacional, a partir de
Março de 75, representou um triunfo revolucionário com rara
equivalência na história moderna; RR devia ter prestado mais
atenção à influência nefasta que na
solução colonial exerceram as formações
políticas civis e militares, com ligações ao imperialismo;
etc, etc, etc.
O Capítulo XI, intitulado "Uma Democracia Europeia desde
1976", resume-se a um panegírico de 30 páginas de
exaltação triunfal ao regime vigente; do qual vamos fazer uma
rápida leitura literal. Assim: "No princípio do séc.
XXI, Portugal era uma democracia integrada na União Europeia, com uma
elite política civilista, uma sociedade urbana e uma economia
terciarizada, das mais ricas do mundo...", lê-se a p. 747... e custa
a acreditar! "(...) a sociedade portuguesa mudou como nunca mudara antes
(...)"; para, mais adiante (p. 763), afirmar: "a
transformação acelerou-se a partir de 1960-1970". Dá
para pasmar: foi então com o fascismo que a grande
transformação modernaça deu o salto em frente! A
evolução na continuidade, finalmente consagrada por historiador
do regime democrático. E o delírio continua, na p. 769: "No
início do séc. XXI Portugal constituía uma das sociedades
europeias com mais casas, mais auto-estradas e que mais energia consumia per
capita". Para terminar (p. 773): "um dos grandes trunfos da nova
democracia em Portugal foi o desenvolvimento. A economia portuguesa entre 1961
e 1997 reduziu o hiato em relação à média europeia
tornando Portugal oficialmente "um país desenvolvido". Fica
assim confirmada a "evolução na continuidade". Entre
1961 e 1997 nada de especial aconteceu, nenhum contratempo perturbou o firme
progresso das reformas provindas do fascismo. Revolução do 25 de
Abril?
Connais pas,
como dizia a rafeira, ainda hoje deputada pelo PS. Pelos vistos e lidos, Rui
Ramos navega na mesma onda. Revolução em 25 de Abril de 1974? Um
simples
fait-divers
para esquecer; um percalço sem importância de maior.
Em meu entender, o Capítulo XI da História Contemporânea de
Portugal da responsabilidade do historiador Rui Ramos não merece maior
atenção. Nem minha, nem decerto a dos leitores. Passemos, por
conseguinte à oração fúnebre.
A vastíssima a bibliografia citada por RR, quer em notas quer num
apêndice final. Seguramente, mais de duas centenas de autores e
títulos. Até por lá constam livros de que sou autor; dos
quais uma única frase foi seleccionada (p. 728, nota 79). De qualquer
modo, compete aos autores e aos coordenadores das obras seleccionar as fontes
de informação que considerem adequadas à sua perspectiva e
úteis ao seu projecto de trabalho. Assim se definem e se comprometem.
CONTORNAR O INCONTORNÁVEL
Todavia, convém notar que não basta citar nomes e títulos.
Nos últimos decénios amontoaram-se volumes sobre o caso
português, em particular o 25 de Abril; alguns contendo
documentação incontornável. Como por exemplo, no livro
Os EUA e a Revolução Portuguesa,
publicado em 2008, sob a égide da Fundação Luso-Americana
(entidade super respeitável para a direita indígena). RR cita
esse livro sete vezes no Cap. X; contudo, não enxergou a
documentação anexa, e outros elementos, que tornam
incontornável a realidade da ingerência americana no nosso
país. O historiador RR mostra-se capaz de contornar o
incontornável! Também isso o define e compromete.
O currículo profissional de RR contém farta cópia de
trabalhos publicados; alguns em parceria com António Reis e José
Matoso, também eles historiadores "acarinhados" pelo sistema
de poder em vigor. O primeiro é quadro destacado do PS e da
Maçonaria e, em simultâneo, patrão do Departamento de
História Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa, cuja
perspectiva historiográfica reflecte fielmente a da classe dominante e a
do governo em funções; José Matoso, por seu lado, é
o mestre historiador que recomenda aos seus pares e discípulos (Junho de
2000) "sobre os factos (...) pode ser que seja melhor esquecê-los
que recordá-los". Os vencedores da contra-revolução
de Novembro [de 1975] agradecem reconhecidos.
Ora, por fim e finalmente, encontro-me de acordo com Rui Ramos, nesse ponto
específico: os grandes vencedores e usufrutuários desta II
República Democrática Portuguesa são, efectivamente, os
restauracionistas da velha ordem do antigamente fascista, ainda sobrevivos ou
na pessoa dos seus filhos e herdeiros em sangue, quadro de valores, conformismo
natural e ganância adquirida. Ou seja, conforme publiquei em livro
(Dezembro de 1999), com o título de
Esta Democracia é
Filo-Fascista.
[*]
Coronel na reserva. Obras do autor:
http://openlibrary.org/a/OL851476A/Varela_Gomes
[1] Rui Ramos, Bernardo Vasconcelos e Sousa e Nuno Monteiro, História de
Portugal,
A Esfera dos Livros
, Novembro/2009, +/- 1000 pgs. + 52 extratextos, ISBN: 978-989-626-139-9
O original encontra-se em
http://www.alentejopopular.pt/pagina.asp?id=3784
Este artigo encontra-se em
http://resistir.info/
.