Neoliberalismo: Mitos e realidade
por Martin Hart-Landsberg
[*]
Tratados como o Acordo de Livre Comércio Norte Americano (NAFTA) e a
Organização Mundial do Comércio (OMC) aumentaram o poder e
os lucros das transnacionais capitalistas à custa de crescente
instabilidade e deterioração das condições de
trabalho e de vida. Apesar desta realidade, as afirmações dos
neoliberais de que a liberalização,
desregulamentação e privatização produzem
benefícios sem par foram repetidas tão frequentemente que muita
gente do mundo do trabalho aceita-as como verdades incontestáveis.
Assim, líderes de negócios e políticos nos Estados Unidos
e outros países capitalistas desenvolvidos defendem reiteradamente suas
tentativas de expandir a OMC e assegurar novos acordos como a Área de
Livre Comércio das Américas (ALCA) como necessárias para
assegurar um futuro mais brilhante para os povos do mundo, especialmente
aqueles que vivem na pobreza.
Renato Ruggiero, por exemplo, o primeiro director-geral da OMC, declarou que os
esforços liberalizadores da OMC tem "o potencial para erradicar a
pobreza global na primeira parte do próximo século [XXI]".
[1]
Analogamente, escrevendo em Dezembro de 2005 pouco antes da reunião
ministerial da OMC em Hong Kong, William Cline, membro senior do Institute for
International Economics, afirmou que "se todas as barreiras do
comércio global fossem eliminadas, aproximadamente 500 milhões de
pessoas podiam ser retiradas da pobreza ao longo de 15 anos... A actual Doha
Round de negociações comerciais multilaterais na
Organização Mundial de Comércio proporciona a melhor
oportunidade única de a comunidade internacional alcançar estes
ganhos".
[2]
Portanto, se quisermos armar um desafio efectivo ao projecto de
globalização neoliberal, devemos redobrar nossos esforços
para vencer a "batalha das ideias". Vencer esta batalha exige, entre
outras coisas, demonstrar que o neoliberalismo funciona como cobertura
ideológica para a promoção de interesses capitalistas,
não como estrutura científica para desvendar as
consequências económicas e sociais da dinâmica capitalista.
Também exige mostrar os processos pelos quais o capitalismo, como
sistema internacional, mina os interesses da classe trabalhadora ao
invés de promovê-los, tanto no terceiro mundo como nos
países capitalistas desenvolvidos.
O mito da superioridade do 'Livre comércio': Argumentos teóricos
Segundo os apoiantes a OMC e de acordos como a ALCA, estas
instituições/acordos procuram promover o livre comércio a
fim de aumentar a eficiência e maximizar o bem estar económico.
Este enfoque sobre o comércio esconde aquilo que é de facto uma
agenda político-económica muito mais vasta: a expansão e
o aumento das oportunidades de as corporações fazerem lucros. No
caso da OMC, esta agenda tem sido prosseguida através de uma variedade
de acordos que são destinados explicitamente a limitar ou realmente
bloquear a regulação pública da actividade
económica em contextos que têm pouco a ver com o comércio,
tal como ele é normalmente entendido.
Por exemplo: o Acordo sobre aspectos da propriedade intelectuais relacionados
com comércio (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual
Property Rights, TRIPS) limita a capacidade dos estados para negar patentes
sobre certos produtos (incluindo outros organismos vivos) ou controlar a
utilização de produtos patenteados nos seus respectivos
países (incluindo a utilização de licenciamento
obrigatório para assegurar preços acessíveis a produtos
medicinais críticos). Ele também força os estados a
aceitarem um aumento significativo na duração do período
de tempo durante os quais as patentes permanecem em vigor. O Acordo sobre
medidas de investimento relacionadas com comércio (Agreement on Trade
Related Investment Measures, TRIMS) restringe a capacidade dos estados de impor
ao investimento directo estrangeiro (IDE) exigências quanto ao
desempenho, contornando aqueles que exigiriam a utilização de
inputs locais (incluindo trabalho) ou transferência de tecnologia. Uma
expansão proposta do General Agreement on Trade in Services (GATS)
forçaria os estados a abrirem seus serviços nacionais de mercado
(os quais incluem tudo, desde cuidados de saúde e educação
a empresas públicas e comércio de retalho) a fornecedores
estrangeiros, bem como a limitar a regulação pública da
sua actividade. Analogamente, um proposto Acordo de aquisições
governamentais (Government Procurement Agreement) negaria aos estados
capacidade para utilizar critérios não económicos, tais
como trabalho e práticas ambientais, na concessão de contratos.
Estes acordos são raramente discutidos nos media principais precisamente
porque levantam questões de poder privado versus público e
não são facilmente defensáveis. Esta é uma das
razões mais importantes porque aqueles que apoiam o projecto de
globalização capitalista preferem descrever as
disposições institucionais que ajudam a escorá-lo como
acordos comerciais e defendem-nos na base das alegadas virtudes do livre
comércio. Isto é uma defesa que infelizmente e injustamente
mantem enorme influência entre o povo trabalhador, especialmente nos
países capitalistas desenvolvidos. E, ao utilizar isto como
fundamentação teórica, os advogados da
globalização capitalista descobrem que é relativamente
fácil encorajar a aceitação popular da
proposição mais vasta de que determinadas consequências do
mercado são superiores para consequências socialmente determinadas
em todas as esferas de actividade. Portanto, é crítico que
desenvolvamos uma crítica efectiva e acessível deste mito da
superioridade do livre comércio. Isto é, de facto, uma tarefa
mais fácil do que geralmente se supõe.
Os argumentos que promovem o livre comércio geralmente repousam na
teoria da vantagem comparativa. David Ricardo introduziu esta teoria em 1821
no seu
Principles of Political Economy and Taxation.
Ela é muitas vezes mal compreendida, a asseverar o óbvio, que
os países têm ou podem criar diferentes vantagens comparativas ou
que o comércio pode ser proveitoso. De facto, ela apoia uma
conclusão política muito específica: a melhor
política económica de um país é permitir que a
actividade do mercado internacional não regulamentado determine sua
vantagem comparativa e seus padrões nacionais de produção.
[3]
Ricardo "provou" a sua teoria da vantagem comparativa utilizando um
modelo estático de dois países do mundo, no qual Portugal
é suposto ser um produtor mais eficiente tanto de vinho como de
vestuário do que a Inglaterra, mas com grande superioridade na
produção vinícola. Ricardo demonstrou que, no seu mundo
criado, tanto Portugal como a Inglaterra ganhariam com uma divisão
internacional do trabalho no qual cada um produzisse o bem no qual tivesse a
maior vantagem relativa ou comparativa. Assim, muito embora a eficiência
da produção da Inglaterra fosse inferior àquela de
Portugal em ambos os bens, a lógica do livre comércio levaria
Portugal a concentrar-se na produção vinícola e a
Inglaterra na de vestuário, com o comércio resultante entre eles
a gerar o máximo de benefícios para ambos os países.
Os economistas da corrente predominante, enquanto continuam a aceitar as linhas
gerais da teoria de Ricardo, desenvolveram refinamentos para a mesma. O mais
importante é a teoria de Hecksher-Olin, a qual argumenta que se a
vantagem comparativa de um país é moldada pelos seus recursos de
base, os países pobres do terceiro mundo deveriam especializar-se em
produtos trabalho-intensivos; a teoria da equalização do factor
preço, a qual argumenta que o comércio livre elevaria o
preço dos factores utilizados intensamente (o qual será trabalho
não qualificado no terceiro mundo) até que todos os factores
preços sejam equalizados à escala mundial; e a teoria de
Stopler-Samuelson, a qual argumenta que os rendimentos do factor escasso
(trabalho nos países ricos, capital nos países pobres)
aguentarão a maior parte do livre comércio. Nenhum destes
refinamentos desafia a conclusão básica da teoria da vantagem
comparativa de Ricardo. Eles, de facto, proporcionam apoio adicional para o
argumento de que os trabalhadores no terceiro mundo serão os maiores
beneficiários do livre comércio.
Tal como todas as teorias, a da vantagem comparativa (e sua conclusão)
é baseada num certo número de pressupostos. Dentre os mais
importantes estão:
-
Há competição perfeita entre firmas.
-
Há pleno emprego de todos os factores de produção.
-
Trabalho e capital são perfeitamente móveis dentro de um
país e não se movem através de fronteiras nacionais.
-
Os ganhos do comércio de um país são apropriados por
aqueles que vivem no país e gastos ao nível local.
-
O comércio externo de um país está sempre em
equilíbrio.
-
Os preços de mercado reflectem precisamente os custos reais (ou
sociais) dos produtos produzidos.
Mesmo uma olhadela rápida a estes pressupostos revela que são
extensos e irrealistas. Além disso, se não forem satisfeitos,
não há base para aceitar a conclusão da teoria de que
políticas de livre mercado promoverão o bem estar internacional.
Exemplo: a suposição do pleno emprego de todos os factores de
produção, incluindo o trabalho, é obviamente falsa.
Igualmente problemático é o processo implícito de
reestruturação da teoria, o qual assume que (mas nunca explica
como) trabalhadores que perdem seus empregos em resultado das
importações geradas pelo livre comércio encontrarão
rapidamente novo emprego no sector exportador em expansão da economia.
Na realidade, trabalhadores (e outros factores de produção) podem
não ser igualmente produtivos em utilizações alternativas.
Mesmo que ignoremos este problema, se a sua redistribuição
não for suficientemente rápida, a economia recém
liberalizada provavelmente sofrerá um aumento de desemprego, o que
conduz a uma redução na procura agregada e talvez à
recessão. Assim, mesmo se todos os factores de produção
acabassem finalmente por tornar-se plenamente empregados, é bastante
possível que o custo do ajustamento ultrapassasse os alegados ganhos de
eficiência da reestruturação comercial induzida.
A suposição de que os preços reflectem custos sociais
também é problemática. Muitos mercados de produtos
são dominados por monopólios, muitas firmas recebem
subsídios substanciais do governo que influenciam sua
produção e decisões de preços, e muitas actividades
produtivas geram externalidades negativas significantes (especialmente
externalidades ambientais). Portanto, a especialização comercial
baseada nos preços de mercado existentes poderia facilmente produzir
uma estrutura da actividade económica internacional com eficiência
global mais baixa, conduzindo a uma redução do bem estar social.
Também há motivos para desafiar o pressuposto de que o
comércio externo permanecerá em equilíbrio. Esta
suposição depende de uma outra, que os movimentos da taxa de
câmbio automaticamente e rapidamente corrigirão
desequilíbrios comerciais. Contudo, taxas de câmbio podem ser
facilmente influenciáveis pela actividade financeira especulativa, que
as levam a
moverem-se em direcções mais desestabilizadoras do que
de equilíbrio. Além disso, como o comércio verifica-se
cada vez mais através de corporações transnacionais que
controlam redes de produção, é de longe menos
provável que movimentos de taxas de câmbio gerem os desejados
novos padrões de produção. Na medida em que movimentos
das taxas de câmbio falhem em produzir os necessários ajustamentos
comerciais num período razoavelmente curto, as importações
terão de ser reduzidas (e o equilíbrio comercial restaurado)
através de uma redução forçada na procura agregada,
talvez da recessão.
Também merecedor de desafio é o pressuposto de que o capital
não é altamente móvel através de fronteiras
nacionais. Este pressuposto ajuda a sustentar outros, incluindo o do pleno
emprego e do comércio equilibrado. Se o capital é altamente
móvel, então políticas de livre mercado/livre
comércio poderiam produzir fugas de capital levando à
desindustrialização, comércio desequilibrado e crise
económica. Em suma, as recomendações políticas dos
apoiantes do livre comércio que decorrem da teoria da vantagem
comparativa repousam sobre uma série de pressupostos extremamente
dúbios.
[4]
O mito da superioridade do 'Livre comércio': Argumentos empíricos
Os proponentes de políticas neoliberais muitas vezes citam os resultados
de estudos de simulação altamente refinados para corroborar seus
argumentos. Contudo, estes estudos são eles próprios seriamente
enviesados, em grande parte porque confiam em muitos dos mesmos pressupostos da
teoria da vantagem comparativa. O seguinte exame de dois importantes estudos
revela como a confiança nestes pressupostos mina a credibilidade dos
seus resultados.
Em 2001, Drusilla Brown, Alan Deardoff, e Robert Stern publicaram um estudo a
afirmar que a eliminação de todas as barreiras comerciais,
promovida pela OMC, acrescentaria US$ 1,9 milhão de milhões
(trillion)
ao produto económico bruto do mundo em 2005.
[5]
O seu estudo foi amplamente divulgado em estórias nos media
publicadas antes do início das negociações da OMC em Doha,
Qatar, em Novembro de 2001.
O Banco Mundial também tentou calcular, na sua série Global
Economic Prospects, os benefícios esperados da
liberalização comercial. Em
Global Economic Prospects 2002,
concluiu que "integração mais rápida através
do rebaixamento de barreiras ao comércio de mercadorias aumentaria o
crescimento e proporcionaria cerca de US$ 1,5 milhão de milhões de
rendimento adicional cumulativo para países em desenvolvimento ao longo
do período 2005-2015. A liberalização de serviços
nos países em desenvolvimento poderia proporcionar ganhos ainda maiores
— talvez até quatro vezes maiores do que esta quantia. [Os
resultados também] mostram que a parte do trabalho no rendimento
nacional aumentaria por todo o mundo em desenvolvimento".
[6]
Os estudos de Brown, Deardoff, e Stern, e do Banco Mundial são baseados
em modelos de equilíbrio geral computáveis, nos quais as
economias são definidas por um conjunto de mercados interconectados.
Quando os preços mudam — neste caso devido a uma mudança nas
tarifas — os mercados nacionais de produtos são assumidos
ajustarem-se para restaurar o equilíbrio. Uma vez que as economias
são elas próprias conectadas através do comércio,
as mudanças de preços também são assumidas gerar
ajustamentos globais mais complexos antes de um novo equilíbrio ser
alcançado. É mais na base de tal modelação que os
autores destes estudos tentam determinar as consequências
económicas da liberalização comercial.
Este tipo de modelação é facilmente desafiado. Devem ser
feitas suposições específicas acerca do comportamento de
consumidores e produtores em diferentes mercados e em diferentes países,
incluindo sua velocidade de ajustamento. Tabelas pormenorizadas do
input-output nacional são também necessárias. Mas
é necessário ainda mais. Exemplo: a fim de assegurar que o seu
modelo será solucionável, Brown, Deardoff e Stern assumem que
há apenas um único resultado de equilíbrio para cada
cenário de liberalização comercial. Eles também
assumem que há apenas dois inputs, capital e trabalho, os quais
são perfeitamente móveis através dos sectores dentro de
cada país, mas atados por fronteiras nacionais. Além disso,
assumem que as despesas totais agregadas em cada economia são
suficientes, e ajustar-se-ão automaticamente, para assegurar o pleno
emprego de todos os recursos. Finalmente, assumem que taxas de câmbio
flexíveis impedirão mudanças tarifárias de
provocarem mudanças nas balanças comerciais.
Dito de forma diferente, os autores criaram um modelo no qual a
liberalização não pode, como premissa, provocar ou piorar
o desemprego, a fuga de capitais ou os desequilíbrios comerciais.
Graças a tais premissas, se um país eliminar suas
restrições comerciais as forças do mercado rapidamente e
facilmente estimularão o capital e o trabalho a deslocarem-se para novas
utilizações mais produtivas. E, uma vez que o comércio
permanece sempre em equilíbrio, esta reestruturação
gerará, por definição, um valor em dólares de novas
exportações para cada valor em dólares de novas
importações. Como observa Peter Dorman na sua crítica
deste estudo: "Naturalmente, trabalhadores e governos teriam pouco com
que se preocupar acerca de um tal mundo — desde que pudessem prontamente
deslocar-se entre os sectores em expansão e em contracção
da economia".
[7]
Os economistas do Banco Mundial também utilizam modelos de
equilíbrio geral computáveis no seu trabalho. Em
Global Economic Prospects 2002,
eles principiam sua estudo de simulação com "uma
visão de partida acerca da provável evolução do
países em desenvolvimento, baseada sobre as melhores hipóteses
acerca de parâmetros geralmente estáveis — poupanças,
investimento, crescimento populacional, comércio e crescimento da
produtividade".
[8]
Este ponto de partida incorpora apenas aquelas mudanças no
"regime de comércio global" que ocorreram a partir de 1997 e
utiliza estas melhores hipóteses para estimar consequências
económicas para os anos de 2005 a 2015. A seguir, assumem que a
remoção de todas as restrições comerciais no
período 2005 a 2010, com restrições reduzidas em um sexto
a cada ano.
[9]
Finalmente, comparam as consequências económicas estimadas a
partir deste cenário de liberalização com aquelas do
cenário de partida inicial a fim de determinar os ganhos da
liberalização.
Este esforço de modelação também depende de
vários pressupostos críticos e irrealistas. Um deles é
que as reduções tarifárias não terão efeito
sobre défices governamentais; eles permanecerão imutáveis
tal como estavam à partida da projecção. Este pressuposto
afirma que os governos serão capazes automaticamente de substituir as
receitas das tarifas perdidas com novas receitas de outras fontes. Um outro
pressuposto é que reduções tarifárias não
terão efeito sobre balanças comerciais; elas permanecerão
as mesmas tal como no ponto de partida da projecção. O
pressuposto final é a existência do pleno emprego. Mais uma vez,
um poderoso viés em favor do livre comércio é
construído no coração do modelo por pressuposto,
assegurando com isso um resultado pró-liberalização.
Embora este viés seja suficiente para descartar a utilidade do estudo
como um guia para a política, ainda vale a pena examinar seus resultados
por duas razões. Primeiro, os benefícios projectados são
mais pequenos do que alguém poderia imaginar dado o irrestrito apoio do
Banco Mundial à liberalização. Segundo, estudos
posteriores do Banco Mundial revelaram benefícios significativamente mais
pequenos. No seu estudo de 2002, o Banco Mundial concluiu que "medido em
termos estáticos, o rendimento mundial em 2015 seria US$ 335 mil
milhões mais com a liberalização comercial [das
mercadorias] do que no ponto de partida".
[10]
Os países do terceiro mundo como grupo receberiam US$ 184 mil
milhões, ou aproximadamente 52 por cento deste total de
benefícios. Significativamente, US$ 142 mil milhões deste ganho
do terceiro mundo é projectado vir da liberalização do
comércio em bens agrícolas. Ainda mais notável, US$ 114
mil milhões são estimados virem da liberalização
pelo terceiro mundo do seu próprio sector agrícola.
[11]
A liberalização do comércio em manufacturas verifica-se
ser um assunto menor. O total de ganhos estimados do terceiro mundo com uma
completa liberalização do comércio mundial em manufacturas
monta a apenas US$ 44 mil milhões.
Se fôssemos considerar estes números seriamente eles certamente
sugeririam que o terceiro mundo tem pouco a ganhar com um acordo real da OMC.
Como observam Mark Weisbrot e Dan Baker na sua crítica a este estudo,
"a remoção de todas as barreiras dos países ricos
às exportações de mercadorias dos países em
desenvolvimento — incluindo agricultura, têxteis e outros bens
manufacturados — ...quando tais mudanças estivessem
plenamente implementadas no ano 2015... acrescentaria 0,6 por cento ao PIB dos
países de baixo e médio rendimento. Isto significa que um
país na África Sub-sahariana que deveria, sob os actuais arranjos
comerciais, ter um rendimento per capita de US$ 500 por ano em 2015, teria ao
invés um rendimento per capita de US$ 503".
[12]
Além disso, como também destacam, estes magros ganhos seriam de
longe excedidos pelas perdas incorridas com a submissão a outros acordos
associados à OMC.
Estimativas mais recentes do Banco Mundial mostram ganhos ainda mais pequenos
com a liberalização. Em
Global Economic Prospects 2005,
o Banco Mundial incorporou novos conjuntos de dados, os quais permitiram
"incluir a considerável reforma entre 1997 e 2001 (ex.:
implementação contínua do Uruguai Round e progresso da
China no acesso à OMC), e um tratamento melhorado de acordos de
comércio preferencial".
[13]
Em resultado, o total projectado dos ganhos estáticos a partir da
liberalização do comércio de mercadorias caiu
para US$ 260 mil milhões (em 2015, em relação ao
cenário do ponto de partida), com apenas 41 por cento dos ganhos a
acumularem-se no terceiro mundo.
Embora o povo trabalhador tenha sido mal servido pela
globalização capitalista, muitos estão relutantes em
desafiá-la porque foram intimidados pelos argumentos
"académicos" daqueles que a apoiam. Contudo, como vimos,
estes argumentos são baseados em teorias e simulações
altamente artificiais que deliberadamente deturpam o funcionamento do
capitalismo. Elas podem e devem ser desafiadas e rejeitadas.
Neoliberalismo: A realidade
A era neoliberal pós-1980 foi marcada pelo crescimento mais lento, por
maiores desequilíbrios comerciais e pela deterioração das
condições sociais. A Conferência das Nações
Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD) relata que "para
os países desenvolvidos como um todo (excluindo a China), o
défice comercial médio na década de 1990 é mais
elevado do que na década de 1970 em quase 3 pontos percentuais de PIB,
ao passo que a taxa de crescimento é mais baixa em 2 por cento ao
ano".
[14]
Além disso,
O padrão é de um modo geral semelhante em todas as regiões
em desenvolvimento. Na América Latina a taxa de crescimento
médio na década de 1990 é mais baixa em 3 por cento ao ano
do que na de 1970, enquanto os défices comerciais como uma
proporção do PIB são aproximadamente os mesmos. Na
África sub-saharina o crescimento caiu, mas os défices
aumentaram. Os países asiáticos conseguiram crescer mais
rápido na década de 1980, enquanto reduziam seus défices
de pagamentos, mas na de 1990 tiveram de incidir em défices maiores sem
conseguirem crescer mais rápido.
[15]
Um estudo de Mark Weisbrot, Dean Baker, e David Rosnick sobre as
consequências das políticas neoliberais sobre o desenvolvimento do
terceiro mundo chega a conclusões semelhantes. Os autores notam que
"ao contrário da crença popular, os últimos 25 anos
(1980-2005) verificaram uma de crescimento económico agudamente mais
lenta e progresso reduzido nos indicadores sociais para a vasta maioria dos
países de rendimentos baixos e médios [em
comparação com as duas décadas anteriores]".
[16]
Para aqueles que rejeitam as principais suposições subjacentes
aos argumentos da corrente principal para o "congelamento" da
actividade económica internacional, este resultado não é
surpreendente. Em traços grossos, a liberalização
comercial contribuiu para a desindustrialização de muitos
países do terceiro mundo, aumentando portanto a sua dependência
das importações. Ao torná-las mais baratas e mais
fáceis de obter, estimulou também um aumento na
importação de bens de luxo. E finalmente, ao atrair a
produção de corporações transnacionais para o
terceiro mundo, aumentou também a intensidade de
importações da maior parte das exportações do
terceiro mundo. Os ganhos da exportação não podiam
acompanhar principalmente porque a crescente actividade exportadora do terceiro
mundo e a competição (pressionada pela necessidade de compensar o
aumento nas importações) tendeu a empurrar para baixo os
rendimentos das exportações. As exportações
também foram limitadas pelo crescimento mais lento e pelo proteccionismo
da maior parte dos países capitalistas desenvolvidos.
Num esforço para manter o comércio em crescimento e
administráveis os défices em transacções correntes,
os
estados do terceiro mundo, muitas vezes pressionados pelo FMI e Banco Mundial,
aplicaram medidas de austeridade (especialmente cortes draconianos em programas
sociais) para reduzir o crescimento económico (e as
importações). Eles também desregularam os mercados de
capitais, privatizaram a actividade económica, e afrouxaram os regimes
que regulavam o investimento estrangeiro num esforço para atrair o
financiamento necessário para compensar os défices existentes.
Apesar de devastador para o povo trabalhador e para as possibilidades de
desenvolvimento nacional, estas políticas foram, como pretendido,
capazes de responder aos interesses do capital transnacional em geral e de um
pequeno mas influente sector do capital do terceiro mundo. Esta é a
realidade do neoliberalismo.
A dinâmica do capitalismo contemporâneo
Apesar de o termo "neoliberalismo" conseguir, sob vários
aspectos, apreender a essência das práticas e políticas
capitalistas contemporâneas, sob alguns aspectos importante é
também um termo problemático. Em particular, ele
estimula a visão de que existe uma ampla gama de opções
políticas sob o capitalismo, sendo o neoliberalismo apenas uma das
possibilidades. Os estados poderiam rejeitar o neoliberalismo, se quisessem, e
implementar políticas sociais mais democráticas e
intervencionistas, semelhantes àquelas empregadas nas décadas de
1960 e 1970. Infelizmente, as coisas não são tão simples.
O "congelamento" da actividade económica que é
geralmente identificado com o neoliberalismo não é tanto uma
má escolha política pois é forçada como uma
resposta estrutural da parte de muitos estados do terceiro mundo a
tensões e contradições geradas pelo capitalismo. Dito de
outra forma, é o capitalismo (como um sistema dinâmico e
explorador), ao invés do neoliberalismo (como um conjunto de
políticas), que devem ser desafiados e ultrapassados.
Os teóricos da corrente dominante habitualmente consideram o
comércio internacional, as finanças e o investimento como
processos separados. Eles estão de facto interrelacionados. E, como
realçado acima, o impulso capitalista por maior lucratividade geralmente
trabalhou para pressionar os estados do terceiro mundo para dentro de uma
liberalização e desregulação completa. Esta
dinâmica teve importantes consequências, especialmente, mas
não exclusivamente, para o terceiro mundo. Ela encorajou, em
particular, as corporações transnacionais a avançarem seus
objectivos através do estabelecimento e extensão de redes de
produção internacional. Isto conduziu a novas formas de
dominação sobre a actividade industrial do terceiro mundo que
envolve a sua remodelação e integração por cima das
fronteiras de modos que são cada vez mais destrutivos para as
necessidades sociais, económicas e políticas do povo trabalhador.
Durante as décadas de 1960 e 1970, a maior parte dos países do
terceiro mundo perseguiram estratégias de industrialização
através de políticas de substituição de
importações dirigidas pelo
estado e financiaram seus défices comerciais com empréstimos
bancários. Este padrão acabou subitamente no princípio da
década de 1980, quando instabilidades económicas nos
países capitalistas do mundo, especialmente nos Estados Unidos, levaram
ao ascenso das taxa de juros e à recessão global. Os custos dos
países tomadores de empréstimos do terceiro mundo levantaram voo
e os rendimentos das exportações mergulharam, disparando a
"crise da dívida" do terceiro mundo. Com o repagamento da
dívida em causa, os bancos reduziram muito seus empréstimos, o
que conduziu a um contínuo aprofundamento dos problemas
económicos e sociais do terceiro mundo.
Para ultrapassar estes problemas, os estados do terceiro mundo procuraram novos
caminhos para impulsionar exportações e novas fontes de fundos
internacionais. Progressivamente, eles acabaram por ver o investimento directo
estrangeiro orientado para a exportação como a resposta. A
competição por este investimento era feroz. País
após país fez mudanças nos seus regimes de investimento, a
grande maioria delas concebida para criar um ambiente mais liberalizado,
desregulamentado e "amistoso para os negócios". As
corporações transnacionais responderam avidamente a estas
mudanças, muitas das quais elas e os seus governos ajudaram a promover.
E, ao longo dos anos 1991-98, o IDE tornou-se a maior fonte única de
entradas de capital líquido no terceiro mundo, representando 34 por
cento do total.
[17]
As novas tecnologias tornaram possível às
corporações transnacionais embaratecer os custos de
produção de muitos bens através da
segmentação e divisão geográfica dos seus processos
de produção. Elas portanto utilizaram seus investimentos para
localizar os segmentos de produção com trabalho intensivo —
em particular a produção ou montagem de partes e componentes
— no terceiro mundo. Isto foi especialmente verdadeiro para os produtos
electrónicos e eléctricos e vestuário, e certos bens
tecnologicamente avançados tais como instrumentos ópticos.
O resultado foi o estabelecimento ou a expansão de numerosas redes de
produção internacionais estruturadas verticalmente, muitas das
quais estendidas sobre vários países diferentes. De acordo com a
UNCTAD, "foi estimado, com base nas tabelas de input-output de um certo
número de países da OCDE e mercados emergentes, que o
comércio baseado na especialização dentro de redes de
produção vertical representa mais de 30 por cento das
exportações mundiais, e que cresceu em até 40 por cento
nos últimos 25 anos".
[18]
Apesar da competição feroz no terceiro mundo para atrair IDE, as
corporações transnacionais tenderam a concentrar seus
investimentos em apenas uns poucos países. Em geral, o capital
americano enfatizou a América do Norte (NAFTA), ao passo que o capital
japonês focou o Extremo Oriente e o europeu a Europa Central. Os
países que "perderam" na competição do IDE
geralmente foram forçados a administrar os seus problemas de
comércio e finanças com austeridade. Aqueles países que
"venceram" habitualmente experimentaram uma
transformação relativamente rápida. Mais especificamente,
tornaram-se grandes exportadores de manufacturas, especialmente de produtos de
alta tecnologia como transístores e semi-condutores, computadores,
partes de computadores e máquinas de escritório, equipamento de
telecomunicação e suas partes, e maquinaria eléctrica.
Em consequência deste desenvolvimento, a fatia das
exportações do terceiro mundo constituídas por
manufacturas elevaram-se de 20 por cento na década de 1970 e
princípios da de 1980 para 70 por cento no fim da de 1990.
[19]
A participação do terceiro mundo nas exportações
manufactureiras saltou de 4,4 por cento em 1965 para 30,1 por cento em 1993.
[20]
Os economistas da corrente dominante afirmam que este aumento nas
exportações de manufacturados demonstra os benefícios da
liberalização, e assim a importância do acordo de
liberalização estilo OMC para o desenvolvimento. Contudo, este
argumento identifica falsamente IDE e exportação de manufacturas
com desenvolvimento, adulterando seriamente a dinâmica de
acumulação do capital transnacional. A realidade é que a
participação em redes de produção controladas por
corporações transnacionais pouco fez para sustentar a
elevação de padrões de vida, estabilidade económica
ou perspectivas de desenvolvimento nacional.
Há muitas razões para este fracasso. Primeiro, aqueles
países que tiveram êxito em atrair IDE habitualmente fizeram-no no
contexto da liberalização e desregulação das suas
economias. Isto geralmente resultou na destruição das suas
indústrias internas pela competição das
importações, provocando desemprego, um aumento rápido nas
importações, e esvaziamento industrial. Segundo, as actividades
localizadas no terceiro mundo raramente transferem qualificações
ou tecnologia, ou encorajam ligações industriais internas. Isto
significa que estas actividades raramente são capazes de promover um
processo de desenvolvimento dinâmico e integrado nacionalmente.
Além disso, as exportações produzidas são altamente
dependentes das importações, o que portanto reduz muito os
rendimentos do comércio exterior.
Finalmente, os processos de acumulação transnacionais tornam o
crescimento do terceiro mundo cada vez mais dependente da procura externa. Na
maior parte dos casos, o mercado primário final para estas redes
é os Estados Unidos, o que significa que o crescimento do terceiro mundo
acaba por depender cada vez mais da capacidade de os Estados Unidos sustentarem
défices comerciais cada vez maiores — uma proposição
cada vez mais dúbia.
Poucos países escaparam a estes problemas. A UNCTAD, por exemplo,
estudou os desempenhos económicos de "sete dos mais
avançados países em desenvolvimento" ao longo do
período 1981-86. Hong Kong (China), Malásia, México,
República da Coreia, Singapura, Província da China de Formosa, e
Turquia. Estes estão entre os mais bem sucedidos exportadores de
manufacturas do terceiro mundo. Mas, porque grande parte da sua actividade
exportadora é organizada dentro de redes de produção
controladas por corporações transnacionais, os ganhos para o bem
estar do trabalhador ou para o desenvolvimento nacional foram limitados.
Exemplo: o valor acrescentado médio da manufactura para o grupo como um
todo permaneceu sistematicamente abaixo do valor das exportações
manufacturadas ao longo de todo o período, com o rácio a declinar
de 76 por cento em 1981 para 55 por cento em 1996. E, embora o rácio
médio de exportações de manufacturas do grupo em
relação ao PIB tenha ascendido agudamente, seu rácio
médio de valor acrescentado manufactureiro em relação ao
PIB geralmente permaneceu imutável.
[21]
Além disso, enquanto o grupo como um todo geralmente manteve um duro
equilíbrio no comércio de bens manufacturados até finais
da década de 1980, depois daquele ano as importações
cresceram muito mais depressa do que as importações. A
experiência do México talvez simbolize melhor a bancarrota desta
estratégia de crescimento: "entre 1980 e 1997 a fatia do
México nas exportações mundiais de manufacturados aumentou
dez vezes, ao passo que a sua fatia no valor acrescentado manufactureiro global
caiu em mais de um terço, e sua fatia no rendimento mundial (em
dólares correntes) [caiu] cerca de 13 por cento".
[22]
China: O caso mais recente de êxito neoliberal
O fracasso do capitalismo para proporcionar desenvolvimento não é
devido a uma falta de dinamismo; na realidade o extremo oposto é que
é verdade. Ao intensificar o desenvolvimento e a aplicação
de nova produção e relacionamento de trocas dentro e entre
países, este dinamismo provoca rápidas alterações
nas fortunas económicas dos países, criando um grupo de
"vencedores" constantemente em mutação (e retrocesso) e
um (cada vez maior) grupo de "perdedores", mascarando a
conexão entre os dois. Mesmo o Extremo Oriente tem estado sujeito
às instabilidades da dinâmica capitalista, tal como o demonstra a
crise asiática de 1997-98 que devastou antigos "actores
estrela" como a Coreia do Sul, Indonésia, Tailândia e
Malásia. Depois de rapidamente se distanciarem destes países (e
das suas antigas louvações ao seu crescimento), a maior parte dos
neoliberais passou a abraçar ansiosamente um novo campeão: a
China.
[23]
De acordo com a sabedoria convencional, a China tornou-se o maior recipiente de
investimento directo estrangeiro do terceiro mundo, o maior exportador de
manufacturas e a economia em crescimento mais rápido, em grande parte
porque o seu governo adoptou uma estratégia de crescimento baseada no
privilégio à empresa privada e às forças do mercado
internacional. Em resposta a esta nova estratégia, o IDE líquido
na China cresceu de US$ 3,5 mil milhões em 1990 para US$ 60,6 mil
milhões em 2004. As filiais de manufacturadoras estrangeiras agora
representam aproximadamente um terço do total de vendas de
manufacturados da China. Elas também produzem 55 por cento das
exportações do país e uma porcentagem significativamente
mais elevada das suas exportações de tecnologia superior. Em
consequência destas tendências, o rácio das
exportações em relação ao PIB do país
ascendeu firmemente, de 16 por cento em 1990 para 36 por cento em 2003.
[24]
Assim, o crescimento da China tornou-se cada vez mais dependente da
actividade organizada de exportação das corporações
transnacionais.
O investimento estrangeiro na verdade transformou a China numa plataforma
exportadora em crescimento rápido, com alguma capacidade de
produção interna significativa. Ao mesmo tempo, muitas das
limitações desta estratégia de crescimento, as quais foram
destacadas acima, também são visíveis na China. Exemplo:
a actividade de exportação dominada pelo estrangeiro pouco fez
para apoiar o desenvolvimento da produção nacionalmente integrada
ou das redes de oferta tecnológica.
[25]
Além disso, como o estado chinês continua a perder seu
planeamento e capacidade directiva, e os recursos do país são
cada vez mais incorporados em redes estrangeiras em grande parte com a
finalidade de satisfazer procuras no mercado externo, o potencial de
desenvolvimento autónomo do país está a ser perdido.
O crescimento da China enriqueceu um relativamente pequeno mas numericamente
significativo grupo de chineses com rendimento elevado, os quais desfrutam de
oportunidades de consumo expandidas. Contudo, estes ganhos foram em grande
parte suportados
(underwritten)
pela exploração da grande maioria do povo trabalhador da China.
Exemplo: em consequência das políticas chinesas de
liberalização do estado, as empresas possuídas pelo estado
despediram 30 milhões de trabalhadores ao longo do período entre
1998 e 2004. Com as taxas de desemprego com dois dígitos, poucos destes
antigos trabalhadores do estado foram capazes de encontrar um reemprego
adequado. De facto, 21,8 milhões deles dependem actualmente da
"pensão mínima vital média" do governo para a
sua sobrevivência. Em Junho de 2005, esta pensão era igual a
aproximadamente US$ 19 por mês; em comparação, o
rendimento médio mensal de um trabalhador urbano era aproximadamente
de US$ 165.
[26]
Enquanto a nova produção de exportação dominada
pelo estrangeiro gerou novas oportunidades de emprego, a maior parte destes
postos de trabalho são extremamente mal pagos. Um consultor do U.S.
Bureau of Labor Statistics estimou que os trabalhadores fabris chineses ganham
uma média de sessenta e quatro centavos [de dólar] por hora
(incluindo benefícios).
[27]
Em Guangdong, onde são produzidas aproximadamente um terço das
exportações da China, os salários base na indústria
manufactureira foram congelados durante a última década.
Além disso, poucos, se é que algum, destes trabalhadores
têm acesso a habitação barata, cuidados de saúde,
pensões ou educação.
[28]
A transformação económica da China não só
decorreu com altos custos para o povo trabalhador chinês como
também intensificou (assim como beneficiou) as
contradições do desenvolvimento capitalista em outros
países, incluindo os do Extremo Oriente. Exemplo: os êxitos
exportadores da China nos mercados capitalistas avançados, em particular
os dos Estados Unidos, expulsaram outros produtores do Extremo Oriente para
fora daqueles mercados. Por necessidade, eles reorientaram sua actividades
exportadora para a produção de peças e componentes para
uso das corporações transnacionais voltadas para a
exportação que operam na China. Assim, todo o Extremo Oriente
está a ser tecido em conjunto num regime de acumulação
regional
que transpõe muitas fronteiras e dessa forma reestrutura a actividade e
os recursos nacionais para longe das necessidades internas. A actividade e os
recursos, ao invés, estão a ser organizados para servir mercados
de exportação fora da região sob a direcção
de corporações transnacionais cujos interesses estão
sobretudo na redução do custo sem se importarem com as
consequências sociais ou ambientais.
[29]
O muito mais lento crescimento pós-crise dos países do Extremo
Oriente, e as pressões engrandecidas pela competitividade que
estão a esmagar padrões de vida por toda a região,
proporcionam uma prova forte de que este novo arranjo das
relações económicas regionais é incapaz de promover
um processo estável de desenvolvimento a longo prazo. Enquanto isso, a
explosão de exportações da China também acelerou o
esvaziamento industrial das economias japonesa e americana, assim como o
insustentável défice comercial estadunidense.
Em algum ponto os desequilíbrios (económicos e políticos)
gerados por este processo de acumulação tornar-se-ão
demasiado grandes, e terá de haver correcções. Na medida
em que a lógica da competição capitalista continuar
não desafiada, pode-se esperar que os governos administrem os processos
de ajustamento com políticas que provavelmente piorarão as
condições para os trabalhadores tanto no terceiro mundo como nos
países capitalistas desenvolvidos. Também se pode esperar que os
advogados do neoliberalismo abracem este processo de ajustamento como recurso
para "descobrir" a sua próxima estória de êxito,
cuja experiência será então citada como prova da
superioridade das forças do mercado.
Nosso desafio
Como vimos, argumentos que se dizem capazes de demonstrar que as
políticas de livre comércio / livre mercado transformarão
as actividades e as relações económicas de maneira a
beneficiar universalmente o povo trabalhador estão baseadas sobre
teorias e simulações que distorcem a actuação real
do capitalismo. A realidade é que números cada vez maiores de
trabalhadores estão a ser capturados por processos transnacionais de
acumulação de capital cada vez mais unificados. A riqueza
está a ser gerada mas os povos trabalhadores em todos os países
envolvidos estão a ser confrontados uns contra os outros e a sofrerem
consequências semelhantes, incluindo o desemprego e a pioria das
condições de vida e de trabalho.
O povo trabalhador e as suas comunidades está empenhado em crescente,
embora desigual, resistência à situação. Embora
cada vez mais efectiva, esta resistência ainda permanece em grande medida
defensiva e politicamente sem foco. Uma razão para isto é que a
teoria neoliberal continua a proporcionar uma poderosa cobertura
ideológica para a globalização capitalista, apesar do
facto de ela ser gerada e concebida para o avanço dos interesses
de classe capitalistas. A outra razão é a natureza
dinâmica do capitalismo contemporâneo, o qual tende a mascarar sua
natureza destrutiva. Portanto, como participantes na resistência,
devemos trabalhar para assegurar que as nossas muitas lutas sejam travadas de
maneiras que ajudem o povo trabalhador a entender melhor a natureza dos
processos de acumulação que estão a remoldar nossas vidas.
Deste modo podemos iluminar as raízes capitalistas comuns dos problemas
que enfrentamos e a importância de construir movimentos comprometidos com
a transformação social radical e a solidariedade (internacional).
Notas
1-
Citado em Ha-Joon Chang,
Kicking Away the Ladder: Development Strategy in Historical Perspective
(London: Anthem Press, 2002), 15.
2- William Cline, "Doha Can Achieve Much More than Skeptics Expect,"
Finance and Development
(March 2005), 22.
3- Significativamente, a maior parte dos teóricos neoliberais não
incluem o livre movimento das pessoas nos seu argumento.
4- Discussão adicional sobre a fraqueza teórica das teorias
subjacentes do livre comércio podem ser encontradas em Arthur MacEwan,
Neo-Liberalism or Democracy: Economic Strategy, Markets, and Alternatives for
the 21st Century
(New York: Zed Press, 1999), chapter 2; Graham Dunkley,
The Free Trade Adventure: The WTO, the Uruguay Round and Globalism—A
Critique
(New York: Zed Press, 2000), chapter 6; and Anwar Shaikh, "The Economic
Mythology of Neoliberalism," in Alfredo Saad-Filho, ed.,
Neoliberalism: A Critical Reader
(London: Pluto Press, 2005).
5- Drusilla Brown, Alan Deardoff, & Robert Stern,
CGE Modeling and Analysis of Multilateral and Regional Negotiating Options,
Discussion Paper 468 (University of Michigan School of Public Policy Research
Seminar in International Economics, 2001),
http://www.fordschool.umich.edu/rsie/workingpapers/
Papers451-475/r468.pdf.
6- The World Bank,
Global Economic Prospects 2002
(Washington D.C.: World Bank, 2002), xiii.
7- Peter Dorman,
The Free Trade Magic Act,
Briefing Paper (Washington, D.C., Economic Policy Institute, 2001), 2.
8- World Bank, Global Economic Prospects 2002, (Washington, D.C.: World Bank
Publications, 2001), 166.
9- As restrições que são eliminadas incluem tarifas de
importação, subsídios de exportação e
subsídios à produção interna.
10- World Bank,
Global Economic Prospects 2002,
167.
11-
Este resultado é em grande parte um reflexo dos pressupostos do
modelo do Banco Mundial. Como o sector agrícola no terceiro mundo
é protegido por tarifas relativamente elevadas e supostas ineficientes,
sua liberalização produz os maiores ganhos para o terceiro mundo.
Esta visão da produção agrícola do terceiro mundo
ignora todas as considerações culturais e ecológicas.
12- Mark Weisbrot & Dean Baker, The Relative Impact of Trade Liberalization on
Developing Countries, Briefing Paper (Washington, D.C., Center for Economic and
Policy Research, 2002), 1.
13- World Bank,
Global Economic Prospects 2005
(Washington D.C.: World Bank, 2005), 127.
14- UNCTAD,
Trade and Development Report 1999
(New York: United Nations, 1999), vi.
15- UNCTAD,
Trade and Development Report 1999
, vi.
16- Mark Weisbrot, Dean Baker, & David Rosnick,
The Scorecard on Development: 25 Years of Diminished Progress
(Washington, D.C., Center for Economic and Policy Research, 2005), 1.
17- UNCTAD,
Trade and Development Report 2002
(New York: United Nations, 2002), 103.
18- UNCTAD,
Trade and Development Report 2002,
63.
19- UNCTAD,
Trade and Development Report 2002,
51.
20- UNCTAD,
Trade and Development Report 2005
(New York: United Nations, 2005), 131.
21-
21- UNCTAD,
Trade and Development Report 2002,
77.
22- UNCTAD,
Trade and Development Report 2002,
80.
23- Para uma discussão da ascensão da China como estória
de êxito neoliberal ver Martin Hart-Landsberg & Paul Burkett,
China and Socialism: Market Reform and Class Struggle
(New York: Monthly Review, 2005), especially chapter 1.
24- Martin Hart-Landsberg & Paul Burkett, "China and the Dynamics of
Transnational Accumulation: Causes and Consequences of Global
Restructuring,"
Historical Materialism
(forthcoming 2006).
25- Hart-Landsberg & Burkett, "China and the Dynamics of Transnational
Accumulation."
26-
China Labor Bulletin,
"Subsistence Living for Millions of Former State Workers" (September
7, 2005).
27- Edward Cody, "Workers In China Shed Passivity, Spate of Walkouts
Shakes Factories,"
Washington Post,
November 27, 2004.
28- Para mais discussão das consequências sociais destrutivas das
políticas de estado chinesas para o povo trabalhador bem como da sua
resistência crescente a estas políticas ver Hart-Landsberg &
Burkett,
China and Socialism,
chapter 3.
29- Esta reestruturação é examinada em pormenor em
Hart-Landsberg & Burkett,
China and Socialism,
chapter 4, and "China and the Dynamics of Transnational
Accumulation."
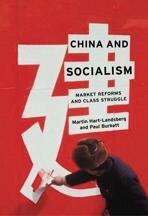 [*]
Martin Hart-Landsberg ensina ciências económicas no Lewis & Clark
College em Portland, Oregon. É autor de cinco livros, incluindo
China and Socialism: Market Reforms and Class Struggle
(Monthly Review Press, 2005) e
Development, Crisis, and Class Struggle: Learning from Japan and East Asia
(St.
Martin Press, 2000), ambos escritos em parceria com Paul Burkett.
[*]
Martin Hart-Landsberg ensina ciências económicas no Lewis & Clark
College em Portland, Oregon. É autor de cinco livros, incluindo
China and Socialism: Market Reforms and Class Struggle
(Monthly Review Press, 2005) e
Development, Crisis, and Class Struggle: Learning from Japan and East Asia
(St.
Martin Press, 2000), ambos escritos em parceria com Paul Burkett.
Excertos do mesmo autor:
Introduction: China and Socialism
Challenging Neoliberal Myths: A Critical Look at the Mexican Experience
O original encontra-se em
http://www.monthlyreview.org/0406hart-landsberg.htm
, Volume 57, Nº 11, Abril/2006. Tradução de JF.
Este artigo encontra-se em
http://resistir.info/
.
|
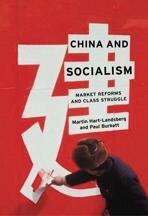 [*]
Martin Hart-Landsberg ensina ciências económicas no Lewis & Clark
College em Portland, Oregon. É autor de cinco livros, incluindo
China and Socialism: Market Reforms and Class Struggle
(Monthly Review Press, 2005) e
Development, Crisis, and Class Struggle: Learning from Japan and East Asia
(St.
Martin Press, 2000), ambos escritos em parceria com Paul Burkett.
[*]
Martin Hart-Landsberg ensina ciências económicas no Lewis & Clark
College em Portland, Oregon. É autor de cinco livros, incluindo
China and Socialism: Market Reforms and Class Struggle
(Monthly Review Press, 2005) e
Development, Crisis, and Class Struggle: Learning from Japan and East Asia
(St.
Martin Press, 2000), ambos escritos em parceria com Paul Burkett.