O imperialismo nu e cru
por John Bellamy Foster
[*]
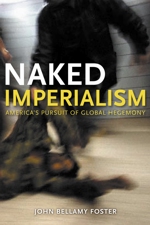 As acções globais dos Estados Unidos desde 11 de Setembro de 2001
são consideradas frequentemente como um "novo militarismo" e
um "novo imperialismo". No entanto, o militarismo e o imperialismo
não são novidade nos Estados Unidos, que têm sido uma
potência expansionista – continental, hemisférica e global
– desde a sua fundação. O que mudou é a nudez com que
está a ser promovido, e a extensão ilimitada das
ambições americanas a nível do planeta.
As acções globais dos Estados Unidos desde 11 de Setembro de 2001
são consideradas frequentemente como um "novo militarismo" e
um "novo imperialismo". No entanto, o militarismo e o imperialismo
não são novidade nos Estados Unidos, que têm sido uma
potência expansionista – continental, hemisférica e global
– desde a sua fundação. O que mudou é a nudez com que
está a ser promovido, e a extensão ilimitada das
ambições americanas a nível do planeta.
Max Boot, membro senior do Council on Foreign Relations, afirma que o
"maior perigo" que os Estados Unidos enfrentam no Iraque e em todo o
mundo "é não utilizarmos todo o nosso poder com medo da
palavra 'imperialismo'... Dada a bagagem histórica que a palavra
'imperialismo' acarreta, o governo dos EUA não precisa de usar esse
termo. Mas devia adoptar a sua prática decididamente". Os Estados
Unidos, diz ele, deviam estar "preparados para adoptar a regra imperial
sem pedir desculpas". Se Washington não está a planear
manter "bases permanentes no Iraque... devia estar... Se isso levantar
engulhos sobre o imperialismo americano, paciência". ("
American Imperialism?: No Need to Run from the Label
,"
USA Today,
May 6, 2003). De igual modo, Deepak Lal, professor de Estudos de
Desenvolvimento Internacional na Universidade James S. Coleman da
Califórnia, em Los Angeles, afirma: "A tarefa primordial da Pax
Americana deve ser encontrar forma de criar uma nova ordem no Médio
Oriente... Há muita gente que afirma de forma acusadora que um tal
rearranjo do statuos quo seria um acto de imperialismo e seria fortemente
motivado pelo desejo de controlar o petróleo do Médio Oriente.
Mas, longe de ser condenável, o imperialismo é precisamente o que
é necessário para repor a ordem no Médio Oriente".
("
In Defense of Empires
," in Andrew Bacevich, ed.,
The Imperial Tense,
2003).
Estas opiniões, embora provenham de neoconservadores, estão
inteiramente em consonância com a tendência predominante da
política externa americana. Com efeito, há pouco desacordo nos
círculos dirigentes americanos sobre as tentativas actuais para expandir
o Império Americano. Para Ivo Daalder e James Lindsay, membros seniores
na Brookings Institution, "a verdadeira discussão... não
é sobre ter um império, mas qual deve ser a sua forma". (
New York Times,
May 10, 2003). Michael Ignatieff, director do Centro Carr para a
Política dos Direitos Humanos da Universidade de Harvard na Escola do
Governo John F. Kennedy, afirma sem equívocos: "Este novo
imperialismo... é humanitário em teoria mas imperial na
prática; cria 'sub-soberania', na qual os estados são
independentes em teoria mas não o são de facto. Afinal de contas,
a razão por que os americanos estão no Afeganistão, ou nos
Balcãs, é para manter a ordem imperial em zonas essenciais aos
interesses dos Estados Unidos. Estão ali para manter a ordem contra uma
ameaça de barbárie". Como "último estado militar
ocidental" e o seu último "império", os Estados
Unidos têm a responsabilidade de "estruturar e impor a ordem
imperialmente" em "analogia com Roma... Acordámos agora
perante os bárbaros... Retribuímos a visita aos bárbaros e
outras mais se seguirão". ("
The Challenges of American Imperial Power
,"
Naval War College Review,
Spring 2003).
Tudo isto reflecte as realidades do poder imperial americano. No seu
preâmbulo da Estratégia de Segurança Nacional dos Estados
Unidos, publicada no outono de 2002, o presidente George W. Bush declarou que,
desde a queda da União Soviética passara a haver "um modelo
único sustentável para o sucesso nacional: liberdade, democracia
e livre iniciativa", tal como o que está incorporado de uma forma
concreta no capitalismo dos EUA. Qualquer sociedade que rejeitasse o guia desse
modelo estaria condenada ao fracasso – e, era ímplícito,
seria considerada como uma ameaça à segurança dos Estados
Unidos. O corpo principal do documento que se seguia era uma
declaração aberta do objectivo de Washington quanto ao
domínio estratégico de todo o planeta num futuro não
especificado. Anunciava a intenção dos EUA de entrarem em guerra
"antecipativa" (ou preventiva) com as nações que
ameaçassem ou pudessem constituir no futuro uma ameaça directa ao
domínio dos EUA – ou que pudessem ser consideradas uma
ameaça indirecta pelos perigos que levantassem a amigos ou aliados dos
EUA em qualquer parte do globo. Seriam desencadeadas acções
preventivas, realçava a nova Estratégia de Segurança
Nacional, para garantir que jamais alguma potência pudesse no futuro
rivalizar com os Estados Unidos em capacidade militar. A 13 de Abril de 2004, o
presidente Bush proclamou que os Estados Unidos precisavam de "partir para
a ofensiva e manter-se na ofensiva", travando uma batalha impiedosa contra
todos aqueles que fossem considerados seus inimigos.
Desde 11 de Setembro de 2001, os Estados Unidos travaram batalhas no
Afeganistão e no Iraque, expandiram o alcance global do seu sistema de
bases militares, e aumentaram o nível dos seus gastos militares
até ao ponto que agora gastam quase tanto com as forças armadas
como todas as outras nações do mundo no seu conjunto. O
jornalista Greg Easterbrook, exaltando a guerra relâmpago dos EU no
Iraque, proclamou no
New Tork Times
(27/Abril/2003) que as forças militares americanas são "as
mais fortes que o mundo jamais viu... mais fortes do que a Wehrmacht em 1940,
mais fortes que as legiões no auge do poder romano".
Inúmeros críticos da esquerda americana reagiram declarando,
"Temos que expulsar estes sacanas". Argumentam que o governo dos EUA
sob a administração Bush foi conquistado por uma pandilha de
neoconservadores que impuseram uma nova política de militarismo e
imperialismo. Por exemplo, o sociólogo Michael Mann da Universidade da
Califórnia em Los Angeles, afirma no final do seu
Incoherent Empire
(2003) que "um golpe neoconservador de galinhas-falcões...
apoderou-se da Casa Branca e do Departamento da Defesa" com a subida de
George W. Bush à presidência. Para Mann, a solução
final é muito simplesmente "pôr os militaristas na rua".
Os argumentos aqui apresentados apontam para uma outra conclusão. O
militarismo e imperialismo americanos têm raizes profundas na
história e na lógica político-económica capitalista
dos EUa. Até mesmo os defensores do imperialismo estão hoje
dispostos a reconhecer que os Estados Unidos têm sido um império
desde o seu início. "Os Estados Unidos", escreve Boot em "
American Imperialism?
", "têm sido um império desde pelo menos 1893, quando
Thomas Jefferson comprou o Território da Lousiana. Durante o
século XIX, o 'império da liberdade', como lhe chamou Thomas
Jefferson, estendeu-se a todo o continente". Posteriormente os Estados
Unidos conquistaram e colonizaram territórios além-mar na guerra
hispano-americana de 1898 e na brutal guerra filipino-americana que se travou
logo a seguir – justificada como uma tentativa de exercer o "fardo do
homem branco"
[1]
. Depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos e outros grandes estados
imperialistas abdicaram dos seus impérios políticos formais, mas
mantiveram impérios económicos informais apoiados na
ameaça e frequentemente na realidade de uma intervenção
militar. A Guerra Fria obscureceu esta realidade neocolonial mas nunca a
escondeu inteiramente.
O crescimento do império não é estranho nos Estados Unidos
nem um mero florescimento da política de determinados estados. É
o resultado sistemático de toda a história e lógica do
capitalismo. Desde o seu nascimento nos séculos XV e XVI que o
capitalismo é um sistema globalmente expansivo – um sistema que
está dividido hierarquicamente entre metrópole e satélite,
entre centro e periferia. O objectivo do sistema imperialista de hoje, tal como
no passado, é arranjar economias periféricas para o investimento
dos países capitalistas centrais, garantindo assim um fornecimento
permanente de matérias-primas a baixos preços, e um fluxo
líquido de lucros económicos da periferia para o centro do
sistema mundial. Além disso, o terceiro mundo é encarado como uma
fonte de mão-de-obra barata, constituindo um exército de reserva
global de mão-de-obra. As economias da periferia estão
estruturadas para satisfazer as necessidades externas dos Estados Unidos e dos
outros países capitalistas centrais, em vez das suas próprias
necessidades internas. Isto resultou (com algumas excepções
dignas de nota) nas condições de dependência
interminável e de escravidão de endividamento das regiões
mais pobres do mundo.
Se o "novo militarismo" e o "novo imperialismo" afinal
não são assim tão recentes, mas estão em
consonância com toda a história dos EUA e do capitalismo mundial,
levanta-se então uma questão crucial: Porque é que o
imperialismo dos EUA se tornou mais evidente nos últimos anos até
ao ponto de ser redescoberto subitamente tanto pelos seus proponentes como
pelos seus opositores? Há alguns anos apenas alguns teóricos da
globalização com raízes na esquerda, como Michael Hardt e
Antonio Negri no seu livro
Empire
(2002), defenderam que a época do imperialismo tinha acabado, que a
guerra do Vietname fora a última guerra imperialista. Contudo, hoje em
dia, o imperialismo é mais abertamente defendido pela estrutura do poder
dos EUA do que em qualquer época desde os fins do século XIX.
Esta viragem só pode ser compreendida se examinarmos as mudanças
históricas que ocorreram nas últimas três décadas
desde o fim da guerra do Vietname.
Quando finalmente acabou a guerra do Vietname, em 1975, os Estados Unidos
tinham sofrido uma enorme derrota no que, sem contar com a Guerra Fria
ideológica, foi sem dúvida uma guerra imperialista. A derrota
coincidiu com um súbito abrandamento na taxa de crescimento da economia
capitalista americana e mundial no princípio dos anos 70, quando
reapareceu a velha ameaça secular de estagnação do
sistema. A grande exportação de dólares para o estrangeiro
associada com a guerra e com o crescimento do império criou um
gigantesco mercado eurodólar, que desempenhou um papel fundamental na
decisão do presidente Richard Nixon de desligar o dólar do ouro
em Agosto de 1971, acabando com o padrão dólar-ouro. Isto marcou
o declínio da hegemonia económica dos EU. A crise
energética que atingiu os Estados Unidos e outros importantes estados
industriais quando os países do Golfo Pérsico cortaram as suas
exportações de petróleo em resposta ao apoio ocidental a
Israel na guerra de Yom Kippur de 1973, revelou a vulnerabilidade dos EUA dada
a sua dependência do petróleo estrangeiro.
O que os conservadores rotularam de "Síndrome do Vietname"
– ou seja, a relutância da população americana em
apoiar intervenções militares dos EUA nos países do
terceiro mundo – impediu que os Estados Unidos neste período
reagissem à crise mundial pondo em marcha a sua colossal máquina
militar. Em consequência, as intervenções dos EUA foram
reduzidas e abriram-se rapidamente brechas no sistema imperialista: a
Etiópia em 1974, as colónias africanas de Portugal (Angola,
Moçambique e Guiné-Bissau) em 1974-75, Granada em 1979, a
Nicarágua em 1979, o Irão em 1979 e o Zimbabué em 1980.
A derrota mais grave sofrida pelo imperialismo americano no fim dos anos 70 foi
a Revolução Iraniana de 1979 que derrubou o Xá do
Irão, um pilar do domínio militar americano no Golfo
Pérsico e do seu petróleo. Ocorrendo na sequência da crise
energética, o Médio Oriente tornou-se uma
preocupação prioritária da estratégia global dos
EUA. O presidente Jimmy Carter publicou em Janeiro de 1980 o que viria a ser
conhecido pela Doutrina Carter: "Qualquer tentativa de uma força
exterior para assumir o controlo da região do Golfo Pérsico
será considerada como um ataque aos interesses vitais dos Estados Unidos
da América, e tal ataque será repelido pelos meios que forem
necessários, incluindo a força militar". Isto foi redigido
em termos de estabelecer um paralelo com a Doutrina Monroe, que definira as
exigências dos EUA sobre o domínio das Américas, e fora
utilizado como um "princípio legal" assumido para justificar
as invasões militares americanas noutros estados do hemisfério. A
Doutrina Carter dizia, com efeito, que os Estados Unidos reivindicavam o
domínio militar do Golfo Pérsico, o qual seria executado
totalmente pelo império americano "pelos meios que forem
necessários". Esta afirmação do poder dos EUA no
Médio Oriente foi acompanhado pelo início da guerra patrocinada
pela CIA contra as tropas soviéticas no Afeganistão (a maior
guerra secreta da história), na qual os Estados Unidos alistaram
forças islâmicas fundamentalistas incluindo Osama Bin Laden numa
guerra santa ou jihad contra as forças soviéticas de
ocupação. As repercussões desta guerra e a subsequente
Guerra do Golfo deveriam conduzir directamente aos ataques terroristas de 11 de
Setembro de 2001.
Durante a era de Reagan nos anos 80, os Estados Unidos aumentaram a sua
ofensiva, renovando a corrida ao armamento da Guerra Fria ao mesmo tempo que
procuravam subverter as revoluções dos anos 70. Para além
de prosseguir a guerra secreta contra os soviéticos no
Afeganistão, forneceram ajuda militar e económica ao Iraque de
Saddam Hussein, apoiando-o na guerra Irão-Iraque de 1980-1988;
aumentaram o seu envolvimento militar directo no Médio Oriente,
intervindo sem sucesso no Líbano no princípio dos anos 80
(só retiraram depois do bombardeamento devastador de 1983 sobre os
aquartelamentos dos
marines
); e patrocinaram operações secretas destinadas a submeter
estados hostis e movimentos revolucionários em todo o globo. As
principais guerras secretas foram instigadas contra os sandinistas na
Nicarágua e contra as forças revolucionárias na Guatemala
e em El Salvador. Em 1983 os Estados Unidos invadiram a pequena ilha de Granada
e, sob o presidente George H. W. Bush, sucessor de Reagan, invadiram o
Panamá em Dezembro de 1989 numa campanha para reassumir o controlo da
América Central.
Mas foi o colapso do bloco soviético em 1989 que proporcionou a
verdadeira mudança para o imperialismo dos EUA. Como escreveu Andrew
Bacevich em
American Empire
(2002), "tal como a vitória em 1898 [na guerra hispano-americana]
transformou as Caraíbas num lago americano, também a
vitória em 1989 [na Guerra Fria] pôs o globo inteiro ao alcance
dos Estados Unidos; daí em diante os interesses americanos deixaram de
ter limites" (177). Subitamente, com a retirada da cena mundial da
União Soviética (ela própria em vias de se desmantelar no
verão de 1991), abriu-se a possibilidade de uma
intervenção militar americana em grande escala no Médio
Oriente. Isto ocorreu quase de imediato a seguir à Guerra do Golfo, com
início na primavera de 1991. Os Estados Unidos, embora cientes de
antemão da iminente invasão do Kuwait pelo Iraque, não se
opuseram com firmeza senão depois de ela se ter concretizado (ver a
transcrição da declaração de Saddam Hussein e a
resposta do embaixador americano April Glaspie,
New York Times International,
23/Setembro/1990). A invasão pelo Iraque ofereceu aos Estados
Unidos um pretexto para uma guerra de grande escala no Médio Oriente.
Morreram entre 100 a 200 mil soldados iraquianos na Guerra do Golfo e pelo
menos 15 mil civis iraquianos foram mortos directamente nos bombardeamentos
americanos e britânicos do Iraque
(Research Unit for Political Economy,
Behind the Invasion of Iraq
, 2003). Ao comentar o que considerava ter sido um dos principais ganhos da
guerra, o presidente Bush declarou em Abril de 1991, "Graças a
Deus, derrotámos a Síndrome do Vietname".
No entanto, na altura, os Estados Unidos preferiram não tirar partido da
sua superioridade e invadir e ocupar o Iraque. Embora houvesse sem
dúvida inúmeras razões para essa decisão, incluindo
o facto de que isso provavelmente não seria apoiado pelos membros
árabes da coligação da Guerra do Golfo, a principal
razão foi a mudança geopolítica resultante do colapso do
bloco soviético. Nessa altura, a União Soviética estava
ainda titubeante. A incerteza quanto ao futuro da União Soviética
e da esfera geopolítica que ela tinha tido sob controlo era tão
grande que, na altura, Washington não podia permitir-se o compromisso de
tropas que uma ocupação continuada do Iraque teria acarretado. O
fim da União Soviética só chegou meses depois.
Durante o resto dos anos 90, os Estados Unidos (principalmente sob o presidente
Democrata Bill Clinton) envolveram-se em importantes intervenções
militares no Corno de África, no Médio Oriente, nas
Caraíbas, e na Europa de Leste. Isto culminou em 1999 com a guerra na
Jugoslávia (Kosovo) na qual os Estados Unidos, rebocando a NATO,
efectuaram bombardeamentos durante onze semanas, seguidos da
inserção de tropas terrestres da NATO. Alegadamente travada para
fazer parar uma "limpeza étnica", a guerra nos Balcãs
foi geopoliticamente uma guerra para o alargamento do poder imperial dos EUA
numa área anteriormente sob influência soviética.
Já no fechar do século XX a elite do poder nos Estados Unidos se
tinha virado portanto para uma política de imperialismo aberto num grau
nunca antes visto desde os primeiros anos do século – com o
império dos EUA agora concebido no âmbito do planeta. Mesmo quando
começou a surgir um forte movimento antiglobalização,
principalmente com os protestos em Seattle em Novembro de 1999, a elite
governante dos EUA já estava a movimentar-se decididamente em
direcção a um imperialismo para o século vinte e um, um
imperialismo que haveria de promover a globalização neoliberal,
embora sob o domínio mundial dos EUA. "A mão escondida do
mercado", opinou Thomas Friedman, colunista de política
estrangeira do
New York Times,
galardoado com o prémio Pulitzer, "nunca funcionará sem um
punho escondido – o McDonald's não pode florescer sem um McDonnel
Douglas, o construtor dos F-15. E o punho escondido que mantém a
protecção das tecnologias de Silicon Valley chama-se
Exército, Força Aérea, Marinha e Fuzileiros Navais dos
Estados Unidos." (
New York Times Magazine,
March 28, 1999). O "punho escondido", no entanto, só em
parte estava escondido, e viria a mostrar-se ainda mais nos anos que se
seguiram.
Evidentemente, a mudança para um imperialismo mais abertamente
militarista ocorreu gradualmente, por fases. Durante a maior parte dos anos 90,
a classe dirigente americana e a instituição de segurança
nacional travaram um debate de bastidores sobre o que fazer, agora que o
desaparecimento da União Soviética tinha deixado os Estados
Unidos como a única superpotência. Naturalmente, nunca houve
dúvidas sobre o que iria ser o principal empurrão
económico para o império global dominado pelos Estados Unidos.
Os anos 90 assistiram ao fortalecimento da globalização
neoliberal: a remoção de barreiras ao capital em todo o mundo
com medidas que reforçavam directamente o poder dos ricos países
capitalistas do centro da economia mundial vis-à-vis os países
pobres da periferia. Um passo fundamental foi a introdução da
Organização Mundial do Comércio para acompanhar o Banco
Mundial e o Fundo Monetário Internacional enquanto
organizações que reforçavam as regras do jogo do
monopólio capitalista. Para a maior parte do mundo, um imperialismo
económico mais explorador acabava de mostrar a sua horrível
cabeça. Contudo, para os poderes que estavam no centro da economia
mundial, a globalização neoliberal era olhada como um sucesso
retumbante – não obstante os sinais de instabilidade financeira
global como os revelados pela crise financeira asiática de 1997-98.
Contudo, os círculos dirigentes dos EUA continuavam a debater a forma e
a extensão a que os Estados Unidos deviam levar a sua superioridade do
momento – utilizando o seu grande poder militar como meio de promover a
supremacia global dos EUA no novo mundo "unipolar". Se o
neoliberalismo tinha surgido em resposta à estagnação
económica, transferindo os custos da crise económica para os
pobres de todo o mundo, o problema do declínio da hegemonia
económica dos EUA parecia exigir uma resposta um tanto diferente: a
reafirmação do poder dos EUA como um colosso militar do sistema
mundial.
Imediatamente depois do colapso da União Soviética, o
Departamento de Defesa, sob a administração de George H. W. Bush,
iniciou a reapreciação da política de segurança
nacional dos EUA à luz da mudança da situação
global. O relatório, terminado em Março de 1992 e conhecido por
Guia de Planeamento da Defesa, foi escrito sob a supervisão de Paul
Wolfowitz, na altura subsecretário da política no Departamento da
Defesa. Indicava que o principal objectivo de segurança nacional dos
Estados Unidos tinha que ser o de "impedir o aparecimento de qualquer
potencial competidor global" (
New York Times,
March 8, 1992). O debate que se seguiu no seio da elite governante americana
nos anos 90 centrou-se menos sobre se os Estados Unidos deviam procurar uma
primazia global do que sobre se devia adoptar uma abordagem mais multilateral
("xerife e ajudantes", como baptizou Richard Haass) ou uma abordagem
unilateral. Alguns dos actores principais que viriam a fazer parte da futura
administração de George W. Bush, incluindo Donald Rumsfeld e Paul
Wolfowitz, ficaram de organizar o Projecto para o Novo Século Americano.
Estes, na expectativa de Bush ganhar a Casa Branca, e a pedido do então
candidato à vice-presidência Dick Cheney, produziram um documento
sobre política externa, intitulado Reconstrução das
Defesas da América (Setembro de 2002), reafirmando a estratégia
unilateral e abertamente agressiva do Guia de Planeamento de Defesa de 1992.
Na sequência do 11 de Setembro de 2001, esta abordagem acabou por ser a
política oficial dos EUA na Estratégia de Segurança
Nacional dos Estados Unidos de 2002. O soar dos tambores de guerra para a
invasão do Iraque coincidiu com a publicação desta nova
declaração de segurança nacional – na realidade a
declaração de uma nova guerra mundial.
É vulgar, conforme já afirmámos, que os críticos
atribuam estas mudanças dramáticas apenas à conquista dos
centros de comando políticos e militares do estado americano por uma
pandilha neoconservadora (elevada ao poder pelas contestadas
eleições de 2000) a qual, aproveitando a oportunidade fornecida
pelos ataques terroristas de 11 de Setembro de 2001, conduziu a uma ofensiva
imperial global e a um novo militarismo. No entanto, a expansão do
império americano, na sequência da morte da União
Soviética, já estava, como demonstrado anteriormente, bem
avançada no tempo e foi um projecto bipartidário logo de
início. Sob a administração Clinton, os Estados Unidos
travaram guerra nos Balcãs, anteriormente parte da esfera
soviética na Europa de Leste, enquanto iniciavam também o
processo de estabelecer bases militares na Ásia Central, anteriormente
parte da própria União Soviética. Nos finais dos anos 90
o Iraque estava a ser bombardeado diariamente. Quando John Kerry, quando foi
candidato presidencial Democrata nas eleições de 2004, repetia
que iria continuar a guerra no Iraque e a guerra contra o terrorismo, na
verdade ainda com maior determinação e mais recursos militares
– e que só discordava quanto ao grau com que os Estados Unidos
adoptavam uma postura de vigilante solitário em oposição
à postura de xerife e ajudantes – estava apenas a dar continuidade
ao que fora a postura dos Democratas quanto ao império durante e depois
dos anos 90: um imperialismo total mas escondido.
Do ponto de vista mais profundo proporcionado por uma crítica
histórico-materialista do capitalismo, nunca houve dúvidas quanto
à direcção que o imperialismo americano iria tomar na
sequência da queda da União Soviética. O capitalismo, pela
sua própria lógica, é um sistema globalmente expansivo. O
sistema não consegue ultrapassar a contradição entre as
suas aspirações económicas transnacionais e o facto de
politicamente se manter enraizado em determinados estados nações.
No entanto, as tentativas fracassadas feitas por estados individuais para
ultrapassar esta contradição também fazem parte da sua
lógica fundamental. Nas actuais circunstâncias mundiais, quando
um estado capitalista possui um monopólio virtual dos meios de
destruição, esse estado não consegue resistir à
tentação de tentar apropriar-se do domínio de espectro
total e de se transformar no estado global de facto que governa a economia
mundial. Como observou o conhecido filósofo marxista István
Mészáros em
Socialism or Barbarism?
(2001) – escrito, significativamente, antes de George W. Bush se tornar
presidente: "O que hoje está em jogo não é o
controlo de uma determinada parte do planeta – por muito grande que seja
– que coloca em desvantagem, sem deixar de as tolerar, as
acções independentes de alguns rivais, mas sim o controlo da
totalidade desse planeta por uma superpotência económica e militar
hegemónica, com todos os meios à sua disposição
– mesmo os do autoritarismo mais extremo e, se necessário, os
militarmente violentos."
Os perigos sem precedentes desta nova desordem global revelam-se nos
cataclismos igualmente sem precedentes a que o mundo está a ser levado
com a actual proliferação nuclear e as consequentes
hipóteses acrescidas da explosão de uma guerra nuclear e da
destruição ecológica do planeta. Isto é simbolizado
pela recusa da administração Bush em assinar o Acordo Abrangente
de Interrupção de Experiências para limitar o
desenvolvimento de armas nucleares e a recusa de assinar o Protocolo de Quioto
como primeiro passo para o controlo do aquecimento global. Como declarou
Robert McNamara, antigo secretário da Defesa americano (nas
administrações de Kennedy e de Johnson), num artigo intitulado
"
Apocalypse Soon
" na edição de Maio-Junho de 2005 de
Foreign
Policy
: "Os Estados Unidos nunca sancionaram a política de 'não
seremos os primeiros', nem durante os sete anos em que fui secretário
nem desde então a esta data. Estivemos e continuamos a estar preparados
para iniciar a utilização de armas nucleares – pela
decisão de uma pessoa, o presidente – seja um inimigo nuclear ou
não nuclear, sempre que considerarmos que isso é do nosso
interesse". A nação com a maior força militar
convencional e a disposição de usá-la unilateralmente para
aumentar o seu poder global é a mesma nação com a maior
força nuclear e a disponibilidade para a utilizar sempre que achar
apropriado – deixando inquieto o mundo inteiro. A nação que
mais que qualquer outra contribui para as emissões de dióxido de
carbono que provocam o aquecimento global (representando aproximadamente um
quarto do total mundial) tornou-se o maior obstáculo à
resolução do aquecimento global e dos crescentes problemas
ambientais mundiais – levantando a possibilidade do colapso da
própria civilização se a tendência actual continuar.
Os Estados Unidos estão a tentar exercer uma autoridade soberana sobre o
planeta numa época de aprofundamento da crise global: a
estagnação económica, a crescente
polarização entre os ricos globais e os pobres globais, que
enfraquecem a hegemonia económica dos EUA, aumentam as ameaças
nucleares, e aprofundam o declínio ecológico. O resultado
é o aumento da instabilidade internacional. Estão a surgir no
mundo outras forças potenciais, como a Comunidade Europeia e a China,
que poderão vir a desafiar o poder dos EUA, a nível regional e
mesmo a nível global. As revoluções no terceiro mundo,
longe de acabarem, estão a ganhar um novo ímpeto, simbolizadas
pela Revolução Bolivariana da Venezuela com Hugo Chavez. As
tentativas dos EUA de apertar as suas garras imperiais sobre o Médio
Oriente e sobre o seu petróleo defrontaram-se com uma resistência
iraquiana feroz, aparentemente impossível de deter, gerando
condições para um esgotamento imperial. Com os Estados Unidos a
brandir o seu arsenal nuclear, a proliferação nuclear continua.
Novas nações, como a Coreia do Norte, estão a aderir ou
podem vir a aderir brevemente ao "clube nuclear". A
repercussão terrorista das guerras imperialistas no terceiro mundo
é hoje uma realidade bem reconhecida, gerando um medo crescente de mais
ataques terroristas em Nova Iorque, Londres e noutros lugares quaisquer. Estas
grandes e sobrepostas contradições históricas, com
raízes no desenvolvimento combinado e irregular da economia capitalista
global aliadas à gula americana pelo domínio do planeta,
prenunciam o que é potencialmente o período mais perigoso da
história do imperialismo.
O percurso em que os EUA e o capitalismo mundial estão neste momento
empenhados aponta para um barbarismo global – ou pior. Contudo é
importante relembrar que nada no desenvolvimento da história humana
é inevitável. Ainda existe um caminho alternativo – a luta
global por uma sociedade humana, igualitária, democrática e
sustentável. O nome clássico para tal sociedade é
"socialismo". Tem que se iniciar uma luta renovada por um mundo de
verdadeira igualdade humana, agarrando o elo mais fraco do sistema e
simultaneamente as necessidades mundiais mais prementes – organizando um
movimento de resistência global contra o novo imperialismo nu e cru.
[*]
Editor da
Monthly Review.
Autor de
Marx's Ecology: Materialism and Nature
e de
The Vulnerable Planet.
Este texto é a introdução da obra
Naked Imperialism: America's Pursuit of Global Dominance,
de John Bellamy Foster, a ser publicado em Fevereiro de 2006 pela Monthly
Review Press. Uma versão diferente deste ensaio foi publicada
anteriormente como introdução a uma edição em turco
dos seus escritos sobre imperialismo, intitulada
Rediscovering Imperialism.
[1]
Título de um poema de Rudyard Kipling que encorajou os EUA a manterem as
Filipinas, considerando os nativos meio crianças, meio demónios.
O original encontra-se em:
http://www.monthlyreview.org/0905jbf.htm
.
Tradução de Margarida Ferreira.
Este artigo encontra-se em
http://resistir.info/
.
|