A colaboração portuguesa na agressão imperialista
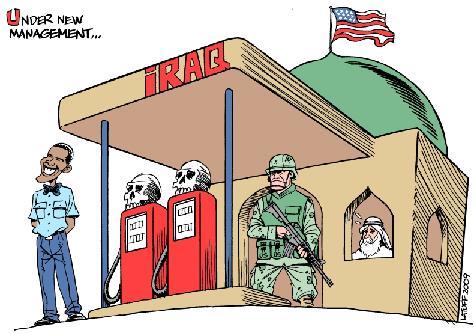 Como é sabido, em final de 2004, Durão Barroso foi premiado com o
cargo de presidente da Comissão Europeia.
Como é sabido, em final de 2004, Durão Barroso foi premiado com o
cargo de presidente da Comissão Europeia.
Na altura, toda a gente relacionou o facto – e bem – com o apoio do
governo português, que ele chefiava, à política
norte-americana de guerra ao Iraque.
O servilismo demonstrado por Barroso perante o amigo George foi tão
evidente que os aspectos propriamente políticos da questão, que
envolvem as classes dirigentes do país, ficaram por vezes ensombrados
pelo comportamento pessoal da personagem.
No entanto, temos hoje provas de que a colaboração das
autoridades portuguesas com as expedições militares dos EUA
vão muito para além dos traços de carácter dos
figurantes que em determinado momento estão em funções.
Sabe-se que desde 2001, data do ataque ao Afeganistão, o
território português foi atravessado por um sem número de
voos da CIA em violação de todas as regras do direito
internacional e humanitário.
Sabe-se como a base das Lajes tem sido intensamente usada pelas forças
dos EUA para as agressões cometidas no Próximo e Médio
Oriente.
Sabe-se que desde a guerra contra a Jugoslávia (que agora fez 10 anos)
foram regularmente enviadas forças portuguesas para os teatros de guerra
abertos pelos norte-americanos: destacamentos militares ou militarizados, meios
aéreos, material de guerra, instrutores, quadros diplomáticos,
consultores diversos.
Ou seja, desde 1999, pelo menos, todos os governos portugueses e todas as
autoridades do Estado se comprometeram activamente, tanto por atitudes
políticas como por acções práticas, nas guerras
promovidas ou apoiadas pelos EUA.
Concretamente: António Guterres, Durão Barroso, Santana Lopes,
José Sócrates, Jorge Sampaio, Cavaco Silva – só para
citar as figuras cimeiras – comprometeram-se de um modo ou de outro com as
guerras na Jugoslávia, no Kosovo, no Afeganistão, no Iraque e
até no Líbano e na Palestina.
A "aliança transatlântica"
Já depois de haver sinais inequívocos de que a guerra no Iraque
estava perdida para os EUA, o apoio aos norte-americanos ganhou novo
fôlego e, decerto modo, novos contornos por parte da UE – e, por
arrasto, de Portugal.
Para os interesses das potências europeias, que concorrem com os EUA em
territórios comuns e por interesses semelhantes, a derrota
norte-americana no Iraque constitui um risco e uma oportunidade.
Risco porque um descalabro fragoroso ameaçaria a estabilidade de todo o
sistema capitalista-imperialista mundial; e oportunidade porque a necessidade
de apoio por parte dos EUA abriu à UE a possibilidade de colocar
condições aos seus concorrentes norte-americanos.
A UE segue assim a política de amparar os EUA na queda para evitar males
irreparáveis, ao mesmo tempo que lhe disputa os terrenos de caça.
Como se lembram, em inícios de 2006 o presidente Bush encomendou um
relatório sobre o Iraque a uma equipa de democratas e republicanos.
Logo em Setembro desse ano, o Relatório Baker-Hamilton deu conta do
pântano em que os norte-americanos estavam metidos, e da incapacidade de
dele saírem por si sós.
Soaram então na UE as trombetas da "aliança
transatlântica" – agora pela voz, não de Blair, de Aznar
e de Berlusconi, mas pela voz dos dirigentes de países que em 2003 se
tinham mostrado desagradados com iniciativa guerreira de Bush.
Na verdade, reconheça-se, as condições tinham mudado, a
ponto de os interesses das potências europeias poderem ser defendidos de
outra maneira.
Coube então a José Sócrates, nem mais, um papel não
negligenciável: em Dezembro de 2006, perante o Congresso do Partido
Socialista Europeu (cujos membros permaneciam na maioria avessos a colaborar
com Bush) lançou um apelo veemente à
"renovação da aliança estratégica entre a
Europa e os EUA". "Aliança estratégica", sublinho.
O apelo foi saudado de imediato. Por exemplo, um membro do Instituto
Português de Relações Internacionais incentivou a ideia com
este argumento significativo:
O relatório Baker, ao mostrar o descalabro norte-americano, representou
um "triunfo histórico" de "todos os movimentos radicais
anti-ocidentais" contra a "superpotência mundial". Urgia
portanto apoiar os EUA, na pessoa de Bush e dos republicanos, não sendo
possível esperar pelas eleições presidenciais de 2008 na
expectativa de uma vitória democrata, porque então poderia ser
tarde demais.
Ou seja, quando em 2003 os EUA resolveram lançar-se ao assalto do
Iraque, confiantes de que tinham força para o fazer praticamente
sozinhos, houve correntes das classes dirigentes europeias de então que
apostaram no apoio à aventura, calculando que poderiam tirar daí
alguns frutos. No nosso caso, foi Durão Barroso que fez o papel com a
complacência de Jorge Sampaio, contrariando uma bem expressiva
oposição da população portuguesa.
Três anos depois, quando a guerra se mostrou perdida para os EUA e
quando, portanto, seria a altura de fazer valer os princípios e as
razões dos que se opuseram à guerra, surgem outros representantes
das mesmas classes dirigentes que resolvem amparar os EUA – adiando, no
fundo, a solução definitiva da guerra, através de uma
espécie de reforma da política norte-americana no Iraque. Este
papel é, no nosso caso, desempenhado agora por José
Sócrates e pelo ministro Luís Amado, sob o olhar tolerante de
Cavaco Silva – fazendo de novo tábua rasa dos direitos da
população iraquiana e das razões dos que combateram a
agressão.
Não é só servilismo
Portanto: não é só servilismo o que move as autoridades
portuguesas; há da parte delas empenho político.
À luz deste empenho político, a importância da
colaboração portuguesa não pode ser medida pelo peso do
país nem pelo número de tropas enviadas.
Muita coisa se joga nas aparências.
Aparentemente, a liberdade de acção consentida aos
norte-americanos nas Lajes é só o cumprimento de um acordo.
Aparentemente, a tolerância com os voos da CIA resume-se à
concessão de mais umas escalas aéreas.
Aparentemente, o envio de destacamentos militares ou policiais, ou de
instrutores é só um auxílio à
pacificação e ao ordenamento do trânsito.
O julgamento que fazemos é político – leva em conta os
propósitos reais das intervenções militares e as suas
consequências tomadas no conjunto. A gravidade da cumplicidade portuguesa
mede-se pois pela dimensão inteira do crime em que colabora.
A ocupação do Iraque produziu nestes seis anos a completa
destruição física do país e a
desarticulação de todas as estruturas sociais. Isto traduz-se em
factos e em números pavorosos. Por exemplo:
- 5 500 intelectuais mortos ou presos
- 224 professores do secundário e 2334 professoras mortos
- 36 prisões com 400 mil presos (6500 menores e 10 mil mulheres)
- percentagem de detidos torturados: 100%
- 5 milhões de deslocados e refugiados
- 5 milhões de órfãos
- 3 milhões de viúvas
- 500 mil crianças sem abrigo
- 40% da população abaixo do limiar da pobreza
- corrupção instituída a partir de cima (só nos
ministérios da Defesa e Interior foram detectados 66 mil empregos
fantasmas por conta dos quais eram despendidos 5 mil milhões de
dólares por ano).
É este descalabro que está a ser apoiado pelas autoridades
portuguesas com o ar cândido de quem presta uma ajuda à
normalização da vida no Iraque.
Este apoio é na verdade um apoio à barbárie que acompanhou
a agressão ao Iraque nestes seis anos.
A Frente Nacional Iraquiana
Consequentemente – e aqui entro no segundo aspecto do que pretendo dizer
– este apoio aos EUA significa na realidade uma recusa de apoio aos
iraquianos. Por duas razões principais:
Uma é que o primeiro objectivo da população iraquiana
é ver-se livre da ocupação para poder reorganizar o
país e a vida de todos os dias. É esmagadora a percentagem de
iraquianos que – em sondagens, algumas organizadas pelos próprios
norte-americanos – rejeitam frontalmente a ocupação, vendo
nela a fonte das desgraças por que passam hoje.
Outra razão decorre do facto de existir, desde os primeiros meses de
ocupação, uma resistência (armada e não armada) com
largo apoio da população.
Essa resistência percorreu um caminho muito difícil por entre
divisões sectárias e confessionais, acções de
terror indiscriminado praticadas por grupos instigados e armados pelos
ocupantes ou por simples delinquentes, denúncia de
eleições fraudulentas, recusa de uma constituição
imposta de fora e de leis sem legitimidade.
É pouco divulgado entre nós que essa resistência,
multifacetada na sua origem, se consolidou e deu passos importantes no sentido
de se unificar e de criar estruturas de coordenação, sejam
operacionais sejam políticas.
A mais importante dessas estruturas esboçou-se desde finais de 2006 e
constituiu-se em 2007. Chama-se Frente Patriótica Nacional e
Islâmica e engloba organizações políticas e
militares, laicas e confessionais – entre as quais o Partido Baas
Árabe e Socialista, a Aliança Patriótica Iraquiana, o
Congresso Fundacional Iraquiano, comunistas, diversas
organizações patrióticas e dezenas de
organizações militares.
O programa comum desta Frente é o fim da ocupação, a
devolução da soberania ao povo iraquiano e a
reconstrução do país em bases democráticas e
laicas.
É, no fundo, um programa nacionalista-democrático semelhante aos
programas dos movimentos de libertação nacional dos
últimos 40-50 anos.
De uma forma geral, as diferentes forças patrióticas iraquianas
coincidem nos seguintes propósitos políticos:
- retirada total e incondicional das forças ocupantes como premissa da
devolução da soberania ao Iraque;
- formação de um governo provisório para gerir a
transição;
- elaboração de um novo texto constitucional;
- eleições gerais para referendar a nova
constituição e eleger uma assembleia nacional e um governo
legítimos.
A recusa das autoridades norte-americanas (e portuguesas) em reconhecer a
resistência iraquiana equivale, na época, à recusa em
reconhecer e negociar com as resistências vietnamita, ou angolana, ou
sul-africana, ou timorense, etc. É que a resistência iraquiana,
tal como estas outras resistências, hoje inquestionáveis, retira a
sua legitimidade do facto de representar o interesse colectivo da
população iraquiana: por se ter oposto à ilegalidade da
ocupação, por ter dado corpo ao direito de
insurreição que assiste a um povo privado da sua liberdade, por
ter formulado em propósitos políticos a via para a
reabilitação do Iraque.
A solução para a chamada "questão iraquiana"
passa por reconhecer a resistência e tratá-la portanto como o
legítimo interlocutor do povo do país.
Por isso insistimos em condenar no comportamento do governo e das autoridades
portuguesas tanto o apoio dado aos agressores norte-americanos e
britânicos, como o desapoio que isso implica em relação aos
legítimos representantes da população iraquiana – e
podemos dizer também por extensão: à
população afegã, libanesa, ou palestiniana.
Para terminar, cabe aqui reiterar o que a Audiência Portuguesa do
Tribunal Mundial sobre o Iraque concluiu nas duas sessões que realizou
em 2005 e em 2008 (e que lamentavelmente permanece actual):
- Condenar a invasão e a ocupação do Iraque e o apoio e
colaboração prestados pelos sucessivos governos de Portugal aos
agressores;
- Exigir ao Governo português a explícita e frontal
demarcação da política seguida pelos EUA no Iraque,
recusando a utilização da base das Lajes para fins de
manutenção da ocupação do Iraque, e desenvolvendo
esforços políticos e diplomáticos para repor a legalidade
internacional no Iraque, a começar pela retirada dos ocupantes,
nomeadamente das forças militarizadas portuguesas.
28/Março/2009
Intervenção em Médio Oriente: ocupação e
resistência. Colóquio pelo 6º aniversário da
invasão do Iraque, 13/Abril/2009
[*]
Membro do Tribunal Iraque
O original encontra-se em
http://tribunaliraque.info/pagina/artigos/depoimentos.html?artigo=421
Este artigo encontra-se em
http://resistir.info/
.
|
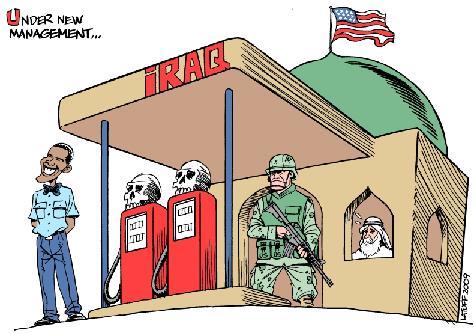 Como é sabido, em final de 2004, Durão Barroso foi premiado com o
cargo de presidente da Comissão Europeia.
Como é sabido, em final de 2004, Durão Barroso foi premiado com o
cargo de presidente da Comissão Europeia.