Um ardil da razão internacionalista
– O presente artigo é uma resposta à crítica de
Jacques Sapir ao livro
En finir avec l'Europe,
obra colectiva dirigida pelo autor. Posteriormente resistir.info
publicará a
tréplica de Sapir.
por Cédric Durand
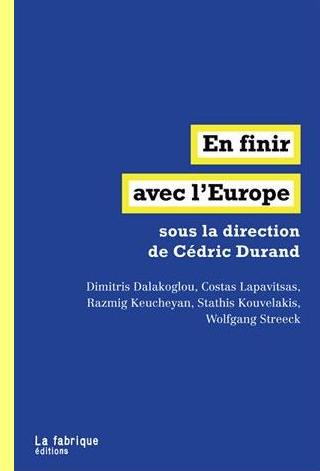 A resenha minuciosa e estimulante que Jacques Sapir propõe da obra
colectiva
En finir avec l'Europe
revela numerosos pontos de convergência quanto à
apreciação da conjuntura. A União Europeia é hoje o
lugar onde se impulsiona a radicalização das políticas
neoliberais; um espaço de tomada de decisão onde a
influência da vontade popular é sistematicamente mantida à
distância. Além disso, a criação do euro no quadro
da união económica e monetária alimentou
desequilíbrios insustentáveis que não podem ser
reabsorvidos de modo duradouro, seja ao preço de um ajustamento brutal
em baixa dos salários, de uma alta dos impostos indirectos e de uma
deterioração drástica dos serviços públicos
como se observa nos países da periferia.
A resenha minuciosa e estimulante que Jacques Sapir propõe da obra
colectiva
En finir avec l'Europe
revela numerosos pontos de convergência quanto à
apreciação da conjuntura. A União Europeia é hoje o
lugar onde se impulsiona a radicalização das políticas
neoliberais; um espaço de tomada de decisão onde a
influência da vontade popular é sistematicamente mantida à
distância. Além disso, a criação do euro no quadro
da união económica e monetária alimentou
desequilíbrios insustentáveis que não podem ser
reabsorvidos de modo duradouro, seja ao preço de um ajustamento brutal
em baixa dos salários, de uma alta dos impostos indirectos e de uma
deterioração drástica dos serviços públicos
como se observa nos países da periferia.
Esta constatação comum conduz a uma apreciação
compartilhada: a União Europeia e, mais especificamente, a união
económica e monetária são dispositivos de poder hostis aos
interesses da maioria da população europeia e devem ser
designados e combatidos como tais pela esquerda. Não há
salvação portanto no grande salto em frente hoje apresentado
pelos comentaristas europeus como a única saída para a crise. Bem
pelo contrário. Enquanto as classes dominantes estão
poderosamente organizadas e coordenadas à escala europeia (e, mais
amplamente, à escala internacional), os movimentos sociais e as
organizações de esquerda permanecem fragmentados geograficamente,
profundamente ancorados nos ritmos dos seus espaços nacionais.
Não dispondo de alavancas institucionais para investir no campo
estratégico europeu, os assalariados não influem de maneira
alguma na agenda integracionista que não pode senão lhes ser
desfavorável. É preciso portanto procurar uma forma de ruptura
com a UE o que implica, mecanicamente, vir a uma recentragem – pelo menos
temporária – num espaço nacional de definição
das políticas económicas e sociais.
É sobre a apreciação desta recentragem que há
divergência. A que título deve ela ser procurada? Retornemos ao
fragmento que Sapir qualifica de "mais desastroso": "A Europa
não é a questão principal para as esquerdas sociais e
políticas. Seu problema não é cuidar de uma
solução para a UE. O essencial é responder ao que
está em primeiro lugar na crise económica – o desemprego em
massa". O que há de escandaloso nesta afirmação.
Trata-se com efeito de uma recusa a adoptar uma posição de
princípio sobre a questão europeia. Isso conduz, por um lado, a
recusar a prescrição ministrada aos adversários da Europa
neoliberal de encontrarem uma solução europeia e de rejeitar o
pretexto europeu avançado de quando em quando para justificar o
alinhamento neoliberal disto que outrora foi social-democracia. Mas, por outro
lado, o posicionamento que se defende não faz do
Estado-nação uma tábua de salvação. Se a
estruturação dos movimentos sociais e das esquerdas
políticas ao nível europeu é insuficiente, suas
acções no seio do espaço nacional, se bem que mais
articuladas, permanecem num registo fundamentalmente antagónico.
É aqui que a analogia sedutora feita por Sapir com a
situação da burguesia descrita por Guizot parece profundamente
errónea. Naturalmente, como também o sublinham Marx e Engels:
"Cada etapa de desenvolvimento da burguesia acompanhava-se de um progresso
político correspondente. Corpo social oprimido pelo despotismo feudal,
associação armada a administrar-se ela própria na comuna,
aqui república urbana independente, ali terceiro estado à
mercê da monarquia, depois, durante o período manufactureiro
contrapeso da nobreza na monarquia feudal ou absoluta, pedra angular das
grandes monarquias, a burguesia, desde o estabelecimento da grande
indústria e do mercado, mundial, apoderou-se finalmente da soberania
política exclusiva no Estado representativo moderno".
A libertação das comunas corresponde com efeito exactamente a uma
etapa essencial na acumulação espacial de recursos institucionais
para esta força social. Mas esta acumulação repousa ela
própria numa acumulação de recursos económicos.
Ora, nada disso se passa para os assalariados. Como diz um refrão muito
conhecido, "não somos nada, sejamos tudo" é o problema
exclusivo dos assalariados, mas este nunca foi o da burguesia.
Os assalariados não exercem em parte alguma um poder económico
autónomo do capital, a sua acção é um poder
antagónico, de auto-defesa. Certamente, uma guerra social de longo prazo
permitiu contestar "a soberania política exclusiva" à
burguesia. Os direitos políticos, económicos e sociais adquiridos
com grandes lutas cristalizam relações de força;
entretanto, apesar destes avanços parciais sedimentados ao longo da
história das democracias ocidentais, os assalariados jamais chegaram a
romper com a sua posição subordinada nas relações
sociais capitalistas. De maneira muito diferente, os socialismos realmente
existentes, os regimes bolivarianos na América Latina, as
contra-sociedades comunistas em França e na Itália no
após-guerra, as Zonas de Autonomia Temporária dos anarquistas
contemporâneos, a economia social e solidária ou ainda as
instituições do Estado social conseguiram preservar parcialmente
e/ou temporariamente das experiências de vida dos imperativos da
reprodução do capital. Isto evidentemente é muito, mas
certamente não basta para se libertarem da incorporação
(subsomption)
real ao capital, ou seja, da incorporação à
própria existência da população no movimento geral e
global da acumulação do capital.
Dito de outra forma, sugerir que a libertação do
Estado-nação dos contrangimentos neoliberais da UE e da UEM
possa representar para os assalariados o mesmo tipo de ascensão em poder
que a emancipação das comunas para a burguesia é
perfeitamente abusivo. A hegemonia no seio do Estado-Nação na
Europa foi organizada em torno das forças do capital e assim permanece
até hoje, inclusive naturalmente fora da UEM (pensemos na
Grã-Bretanha onde o governo corta até o osso na questão da
austeridade) ou mesmo da UE (a Noruega ou a Suíça). Também
é preciso lembrar que o cesarismo burocrático europeu que
corresponde à crise contemporânea não é uma
invenção da UE. Jan-Werner Müller sublinha com razão
que "manter à distância pressões populares e, mais
geralmente, uma profunda desconfiança da soberania popular subentende
não só os inícios da integração europeia
como também a reconstrução política em geral da
Europa ocidental após 1945". Convencidas de que os
"totalitarismos" gémeos – nazismo e estalinismo –
eram o produtos dos "excessos" da democracia, as elites europeias
então optaram conscientemente por uma concepção restritiva
da democracia.
A libertação do Estado-nação do colete de
força neoliberal da UE não trás portanto, enquanto tal,
nenhuma garantia de política económica progressista. Entretanto,
considero que é realmente urgente que a esquerda assuma uma ruptura
clara com a construção europeia. É aqui que se vê
que o processo em neoclassicismo instruído por Jacques Sapir não
repousa sobre nada. O debate não se refere de forma alguma ao
carácter sequencial dos processos económicos, políticos e
sociais, mas antes à sequência que convém desencadear.
Para Sapir, a ruptura com o euro está em primeiro lugar. Ela é
não só uma condição de possibilidade de uma
política económica autenticamente de esquerda como até
antecede a definição do conteúdo desta. Os efeitos
políticos que implicam a ruptura europeia são portanto em grande
medida indeterminados, o que deixa perigosamente a possibilidade de fazer
actuar as molas nacionalistas.
Considero, ao contrário, que é preciso primeiro definir as
políticas económicas que correspondam à urgência da
situação, a saber 1) contra o desemprego, uma política de
financiamento público do emprego público em último recurso
e 2) contra a predação e o controle social exercidos pela
finança, a socialização das instituições de
crédito. Não é senão em torno de tais
proposições que identidades de classe fragmentadas podem se
coligar e dar um conteúdo de classe à ruptura com as
instituições europeias. Jacques Sapir tem razão quando
afirma que "é preciso pensar a aliança dos grupos sociais
(ou o "bloco histórico") que poder trazer uma alternativa
política na Europa. Esta aliança deve ser suficientemente
inclusiva para ser capaz de resistir às pressões, tanto internas
como externas, que se manifestarão aquando da execução
desta alternativa. Isso implica pensar esta aliança para além das
fronteiras das camadas interiores dos assalariados (operários e
empregados) mesmo que sejam elas que devem dar o tom desta
aliança". Mas se se deseja efectivamente que as camadas populares
exerçam a liderança deste novo bloco histórico, ou seja,
que o bloco histórico em vias de constituição se
homogeinize à esquerda, é preciso naturalmente que ele se
alimente de um conteúdo programático de esquerda! O projecto
desta aliança não pode é claro ser aquele virado para o
compromisso produtivista do passado, o "da reconstituição
das margens de autonomia da economia francesa em torno da defesa das
condições de reprodução ampliada do modelo social
francês". Trata-se ao contrário de articular respostas
imediatas na frente de batalha do emprego e contra a finança com, por um
lado, os princípios de um novo modelo de desenvolvimento adaptado a um
período que será marcado duradouramente por taxas de crescimento
do PIB muito fracas e, por outro lado, perspectivas de
organização espacial da economia combinando
relocalização, inserção razoável nas cadeias
globais de mercadorias e construção de [bases] imateriais globais
comuns.
Em suma, a viragem nacional que implica a ruptura com a Europa é para
mim sobretudo uma astúcia da razão internacionalista; um
movimento estratégico, não um alinhamento à quimera da
independência nacional.
Esta viragem é imposta pelo carácter dessincronizado dos ritmos
da luta das classes nos diferentes países europeus. Esta
dessincronização não provém apenas – nem mesmo
essencialmente – de heranças históricas distintas mas muito
mais do carácter desigual do desenvolvimento capitalista que resulta de
combinações produtivas idiossincráticas e alimenta
dinâmicas sociais e políticas singulares. Na Europa, até
à crise de 2007, pode-se assim distinguir pelo menos três regimes
de acumulação complementares mas inteiramente distintos. Na
periferia leste europeia, a lógica económica dominante é a
de um regime de proletarização pelo qual as
populações que viviam antes nas economias socialistas foram
progressivamente inseridas nas redes capitalistas transnacionais, o que se
traduz – uma vez passado o choque transicional e antes do da crise
financeira – por ganhos de produtividade importantes e altas de
salários. Na Alemanha, ao contrário, a pressão deste
exército de reserva favoreceu uma grande derrota dos assalariados que se
manifesta na estagnação dos salários e na brutal
liberalização do mercado de trabalho pelos reformas Schröder
(reformas hoje celebradas por François Hollande...). Nas periferias do
Sul da Europa, a dinâmica totalmente diferente: os excedentes dos
países do Norte foram reciclados sob a forma de fluxos financeiros que
permitiram nomeadamente uma alta dos créditos ao consumo e dos
créditos imobiliários, o que sustentou a actividade, o emprego e
os salários sem que a produtividade a acompanhasse. Lá, as
classes populares e médias puderam experimentar um breve período
de melhoria do seu nível de vida pelo qual hoje pagam um preço
pesadíssimo.
Estas temporalidades distintas dão um carácter nacional às
crises políticas subjacentes às relações de
força entre as classes. Além disso, as dinâmicas nacionais,
se bem que singulares, mais frequentemente não são discordantes.
Ao contrário, da Primavera dos povos de 1848 às
revoluções árabes de 2011, passando pelas
mobilizações de 1968 e a vaga dos levantamentos europeus de
1917-1923, a história testemunha o facto de que a
aspiração à liberdade e à igualdade é algo
extremamente contagioso. Simetricamente, os períodos de recuo dos
assalariados, a exemplo dos anos 1980, tendem a ser generalizados.
É sobre esta subtil articulação entre
dessincronização dos ritmos nacionais e experiência comum
de um momento histórico que se funda a astúcia da razão
internacionalista. Se toda experiência nacional é fortemente
constrangida pelo regime internacional que a ela se sobrepõe, um
acontecimento nacional ao mesmo tempo traz em si um potencial de
contaminação susceptível de transformar o regime
internacional. Assim, hoje, a questão de uma ruptura de esquerda com a
União Europeia coloca-se de maneira incontornável por duas
razões entrelaçadas: é, ao mesmo tempo, uma necessidade
para por em xeque a inserção no capitalismo globalizado que
defendem as classes dominantes de cada um dos países a expensas dos seus
povos e um ponto de passagem obrigatório para abalar a ordem neoliberal
europeia. A dinâmica de crise política e de inovação
social associada a uma tal ruptura repercutir-se-ia inevitavelmente bem
além do país que a iniciasse. Ela deveria certamente gerar para
este dividendos económicos e sociais imediatos, nomeadamente devido ao
abandono das políticas deflacionistas e de um melhor ajustamento das
taxas de câmbio. Mas poderia sobretudo desempenhar um papel propulsor
abrindo no cenário europeu e mundial novas perspectivas socialistas e
ecologistas para o século XXI.
31/Maio/2013
O original encontra-se em
http://russeurope.hypotheses.org/1306
Este artigo encontra-se em
http://resistir.info/
.
|
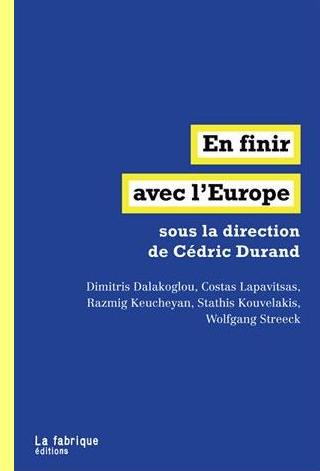 A resenha minuciosa e estimulante que Jacques Sapir propõe da obra
colectiva
A resenha minuciosa e estimulante que Jacques Sapir propõe da obra
colectiva