A militarização da neurociência
por Hugh Gusterson
Já vimos esta estória antes: o Pentágono interessa-se por
uma área de conhecimento da ciência em rápido
desenvolvimento e o mundo muda para sempre. E não para melhor.
Durante a Segunda Guerra Mundial, o campo científico foi a física
atómica. Receando que os nazis estivessem a trabalhar na bomba
atómica, o governo dos EUA montou o seu próprio projecto
relâmpago para lá chegar primeiro. O Projecto Manhatan era
tão secreto que o Congresso não sabia o que estava a financiar e
o vice-presidente Harry S. Truman não teve conhecimento dele até
a morte de Roosevelt o ter tornado presidente. Nesta situação de
extremo secretismo, não havia quase nenhum debate ético ou
político sobre a Bomba antes de esta ser lançada em duas cidades
por uma máquina burocrática em piloto automático.
Apesar das objecções de J. Robert Oppenheimer, alguns cientistas
do Projecto Manhatan organizaram uma discussão sobre as
implicações do "invento" para a
civilização, pouco antes da bomba ser testada. Outra mão
cheia distribuiu o
Relatório Franck
, contra o lançamento da bomba
nas cidades sem uma demonstração prévia e uma
advertência dos perigos duma corrida ao armamento atómico. Nenhuma
das iniciativas teve efeito visível. Acabámos num mundo em que os
EUA tinham duas cidades incineradas na sua consciência e a sua
perseguição de domínio nuclear criou um mundo de
matança nuclear e destruição mutuamente assegurada.
Hoje temos a oportunidade de fazer melhor. A ciência em questão
agora não é a física, mas a neurociência, e a
questão é se podemos controlar a sua militarização.
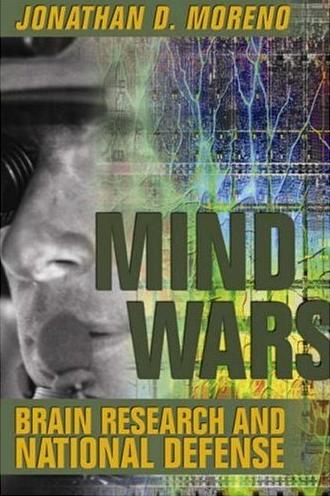 Segundo o fascinante e assustador novo livro de Jonathan Moreno,
Mind Wars: Brain Research and National Defense
Segundo o fascinante e assustador novo livro de Jonathan Moreno,
Mind Wars: Brain Research and National Defense
 , a Agência para Projectos de
Investigação em Defesa Avançada tem financiado
investigação nas seguintes áreas:
, a Agência para Projectos de
Investigação em Defesa Avançada tem financiado
investigação nas seguintes áreas:
Interfaces cérebro-máquina ("próteses
neuronais") que permitirão aos pilotos e soldados controlar armas
tecnologicamente avançadas apenas com o pensamento.
"Robôs vivos" cujo movimento pode ser controlado
através de implantes cerebrais. Esta tecnologia já foi testada
com sucesso em "ratos-robô" e poderá levar a animais
controlados remotamente para detecção de minas ou até a
soldados controlados remotamente.
"Capacetes de retorno cognitivo" que permitem a
monitorização remota do estado mental dos soldados.
Tecnologias de imagens por ressonância magnética
("impressões digitais cerebrais") para usar em
interrogatórios ou em detecção
(screening)
de terroristas nos aeroportos. Bastante distante das questões sobre as
suas taxas de erro, tais tecnologias levantariam a questão da
possível violação da Quinta Emenda, contra a
auto-incriminação.
Armas de vibração ou outros neuro-perturbadores que provocam a
confusão nos processos de pensamento dos soldados inimigos.
"Neuro-armas" que usam agentes biológicos para excitar a
libertação de neurotoxinas (a Convenção das Armas
Biológicas e de Toxinas bane a acumulação destas armas
para propósitos ofensivos, mas não para
investigação "defensiva" dos seus mecanismos de
acção).
Novas drogas que possibilitem aos soldados deixar de dormir durante dias, a
apagar as memórias traumáticas, a suprimir o medo ou a reprimir
as inibições psicológicas contra o homicídio.
O livro de Moreno é importante, uma vez que tem havido pouca
discussão sobre as implicações éticas de tal
investigação e a ciência está num ponto
suficientemente precoce para que possa ainda ser redireccionada em resposta
à discussão pública.
Se for deixada em piloto automático, contudo, não é
difícil ver onde tudo isto nos vai levar. Durante a Guerra-fria, medos
infundados de uma diferença de capacidade entre as potências, ao
nível da posse de mísseis e de técnicas controlo da mente,
excitaram um sobre-desevolvimento de armas nucleares e a
realização não-ética de experiências
involuntárias em sujeitos humanos com LSD. Do mesmo modo, podemos
antecipar futuros medos das diferenças de desenvolvimento das
"neuro-armas" e esses medos justificarão uma corrida
precipitada à investigação (que provavelmente
envolverão experiências humanas não-éticas) que
apenas estimulará os nossos inimigos a fazer o mesmo.
Os líderes militares e científicos que pagam as
"neuro-armas" argumentarão que os EUA são o
único país nobre a quem poderão ser confiadas tais
tecnologias, enquanto outros países (excepto alguns aliados) não
terão esse direito. Vão também argumentar que estas
tecnologias salvarão vidas e que o engenho dos EUA irá permitir
dominar outros países na corrida às "neuro-armas".
Quando for tarde demais para voltar atrás, irão declarar surpresa
pelo facto de outros países se terem actualizado tão depressa e
por uma iniciativa que deveria assegurar o domínio americano, ter ao
invés levado a um mundo onde toda a gente esteja ameaçada pelos
soldados químicos e o "robô-terrorismo" saído do
Blade Runner.
Enquanto isso, cientistas individuais dirão a si próprios que se
eles não fizerem esta investigação outros a farão.
O financiamento da investigação será suficientemente
dominado por aqueles que concedem as autorizações militares, o
que provocará que alguns cientistas tenham de escolher entre aceitar o
financiamento militar ou desistir da sua escolha de campo de
investigação. E o muito real uso dual destas novas tecnologias (o
mesmo implante cerebral pode criar um soldado robô ou reabilitar um
doente que sofra de Parkinson) irá permitir aos cientistas dizerem a si
próprios que estão "realmente" a trabalhar em
tecnologias da saúde para melhorar o destino humano e que o
financiamento só por acaso vem do Pentágono.
Mas terá de ser mesmo assim? Apesar dos problemas óbvios de
controlo de um campo de investigação que é muito menos
capital-intensivo e susceptível a regimes de verificação
internacional do que a investigação de armas nucleares, é
possível que uma prolongada conversação internacional
entre neurocientistas, especialistas em ética e em segurança
possam prevenir o futuro distópico acima esboçado.
Infelizmente, no entanto, Moreno (p.163) cita Michael Moodie, um antigo
director do Instituto de Controlo de Armas Químicas e Biológicas,
quando este diz "As atitudes dos que trabalham nas ciências da vida
contrastam fortemente com as da comunidade nuclear. Físicos, desde o
início da era nuclear, incluindo Albert Einstein, compreenderam os
perigos da energia atómica e a necessidade de participar activamente na
gestão destes riscos. Os sectores das ciências da vida
estão a atrasar-se a este respeito. Muitos menosprezam a reflexão
sobre o risco potencial do seu trabalho".
Já é tempo de começar a conversar!
O original encontra-se no
Bulletin of Atomic Scientists
. Tradução de ACN.
Este artigo encontra-se em
http://resistir.info/
.
|
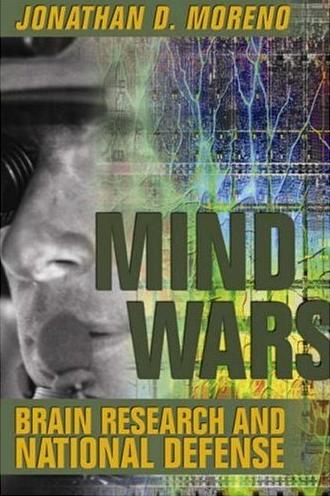 Segundo o fascinante e assustador novo livro de Jonathan Moreno,
Segundo o fascinante e assustador novo livro de Jonathan Moreno,