As limitações da política de combate à pobreza no
governo Lula
por Rosa Maria Marques
[1]
e Áquilas Mendes
[2]
É preciso sonhar,
mas com a condição de crer em nosso sonho,
de observar com atenção a vida real,
de confrontar a observação com nosso sonho,
de realizar escrupulosamente nossas fantasias”
(Lênin - Que fazer?)
Introdução
Houve um tempo em que essas palavras, impressas em cartazes coloridos, eram
avidamente procuradas pelos trabalhadores, durante as assembléias do
final dos anos 1970 e no início dos anos 1980. Depois, as legendas foram
mudadas, pois estava em curso a construção do "sonho"
que tomou o nome de Partido dos Trabalhadores (PT). Passados 22 anos de sua
fundação, eis que o PT, em 2002, finalmente, elegeu Lula para
presidente da República. O sonho, antes de alguns, havia sido adotado
por 53 milhões de brasileiros que viam na eleição de Lula
a possibilidade de, finalmente, o país começar a mudar,
independentemente do que era dito na campanha eleitoral e do que estava escrito
em seu programa. Desejo de mudança que significava a ruptura com o
passado, pois parecia não ser mais possível a continuidade do
consórcio entre as oligarquias locais e os "donos do mundo",
tal o nível da exploração dos trabalhadores, a
desigualdade de renda e do patrimônio, e a deterioração dos
serviços públicos, os mais elementares, tais como
educação e segurança.
Nem bem assumido o poder, aquele que havia sido eleito para mudar mostrou-se
mais eficiente na condução da continuidade, do que os
próprios representantes das classes dominantes brasileiras. Para isso
contava com o apoio da maioria das direções sindicais, incluindo
a Central Única dos Trabalhadores (CUT), com a força do PT e com
um incontável
número de militantes que passaram a integrar o aparelho do estado
federal. Pela primeira vez na história brasileira vimos, de forma
escancarada, a criação de um verdadeiro amálgama entre
governo, sindicatos e partido, o dos "trabalhadores". Esse
amálgama, que se traduziu no rolo compressor que passou por cima das
posições históricas dos movimentos sindical e sociais, foi
que possibilitou a aprovação da reforma da previdência
social dos servidores públicos; a mudança do processo
decisório sobre questões do sistema financeiro nacional, o que
poder vir a facilitar o surgimento da tão falada autonomia do Banco
Central; a manutenção de elevadas taxas de juros reais, entre
outras. A facilidade com que essas proposições foram aprovadas
deveu-se ao fato de que a capacidade de resistência dos trabalhadores
tornou-se quase nula, pois estavam manietados como um dos resultados do
entrelaçamento entre governo, sindicato e partido. Foi essa facilidade
de assumir a agenda neoliberal e fazer passar suas proposições,
posto que as classes dominantes já tinham esgotado sua capacidade disso
fazer diretamente, que as levou a apoiarem financeira e abertamente sua
eleição.
E a razão desse apoio não tardou a se manifestar. No campo
estritamente da proteção social, mal assumido o governo, Lula
encaminhou proposta ao Congresso Nacional que modificava as
condições de acesso e o nível das aposentadorias dos
servidores públicos, além de instituir uma
"contribuição" sobre as aposentadorias, ferindo um
princípio básico da política social. Ao mesmo tempo,
concretizando o que já havia sido anunciado tão logo saiu o
resultado da eleição, definiu como prioritário o combate
à pobreza, o que seria feito através do chamado Fome Zero.
O objetivo deste artigo é analisar no que consiste o combate à
pobreza desenvolvido pelo presidente Lula. Para isso, em primeiro lugar,
descreve-se o sistema de proteção social existente no Brasil,
pré-existente a sua ascensão ao poder e, por isso, fruto de
construção anterior a seu governo. Numa segunda parte, analisa-se
o programa carro-chefe do governo na área social, teoricamente
desenvolvido para combater a pobreza. Depois, descreve-se os principais
traços do mercado de trabalho e da distribuição de renda
no Brasil, com o intuito de se ter um parâmetro para avaliar a
importância dos mecanismos de transferência de renda hoje
existentes no país. Por último, apresenta-se as
conclusões.
1 – A garantia de renda no campo da segurança Social
1.1 – A renda mínima na Previdência Social
"O movimento político e social contra a ditadura militar - que
culmina na democratização do país e na ascensão
à presidência da república de José Sarney, em 1985
– teve na discussão e elaboração de uma nova
constituição importante momento, mobilizando as
atenções do conjunto da nação. Estava em jogo a
definição das bases do novo regime, agora democrático.
Entre essas bases, a questão social assumiu importância
ímpar, pois se fazia necessário dar passos concretos para
resgatar a enorme dívida social herdada do regime anterior"
(Marques e Mendes, 2005, p. 4).
Entre os vários avanços introduzidos na
Constituição de 1988, um dos mais importante foi o
estabelecimento da correspondência entre o piso previdenciário e o
salário mínimo, isto é, a definição de
que o valor pago a título de aposentadoria não poderia ser menor
do que o salário mínimo. Em termos previdenciários, isso
seria o equivalente a uma renda de base, tal como existe em sistemas de outros
países. Ao ser feito isso, deixou a Previdência Social de ser
balizada exclusivamente pelo critério do mérito, isto é,
voltada para os trabalhadores que tivessem contribuído ao longo de sua
vida ativa. Antes da promulgação da constituição de
1988, o benefício era calculado com base no valor das
contribuições, sendo garantido um mínimo de valor
inferior
ao do salário mínimo. Depois de instituído o piso de um
salário mínimo, inclusive para os trabalhadores rurais que
não haviam previamente contribuído, dois critérios
definidores do acesso aos benefícios previdenciários ficaram
imbricados: o do mérito e o da cidadania.
Dessa forma, paralelamente aos trabalhadores contribuintes com aposentadoria
calculada basicamente a partir de suas contribuições, passaram a
co-existir os trabalhadores rurais e aqueles com salários muito baixos
que recebem o piso de um salário mínimo, valor pago
independentemente da ausência de contribuições ou do fraco
esforço contributivo anterior. Destaca-se que, atuarialmente, quem
contribui sobre um salário mínimo não forma
provisão suficiente para garantir o piso no momento da aposentadoria.
O componente "cidadão", agora presente no interior da
Previdência Social, nada mais é, então, do que a
extrapolação, no campo da proteção social, do mesmo
entendimento sobre o que deve ser o valor mínimo pago a um trabalhador
ativo: que qualquer salário abaixo dele é considerado imoral pela
sociedade
[4]
.
A importância do piso correspondente ao salário mínimo nos
benefícios pagos pela Previdência Social brasileira é
claramente evidente quando vemos que, em fevereiro de 2005, a quantidade de
benefícios de valor igual a um salário mínimo representou
58% do total de benefícios pagos no mês. Desses, 42% foi recebida
por trabalhadores urbanos e 58% por trabalhadores rurais. Em termos absolutos,
foram 11.883.977 benefícios de valor igual ao salário
mínimo. Desnecessário dizer que a imensa maioria desses
benefícios se refere a aposentadorias, pois essas constituem 64,01% do
total de benefícios pagos. Em termos de volume de recursos envolvidos,
foram gastos R$ 3,081 mil milhões, representando 32% das despesas totais
com benefícios realizadas pelo Regime Geral da Previdência Social
(MPAS, 2005).
Esses números seriam suficientes para indicar que o piso de um
salário mínimo é um poderoso instrumento para a
redução da pobreza no Brasil. Mas estudo realizado por
técnicos do Ministério da Previdência e Assistência
Social (MPAS) verificou que, para o ano de 1999, caso não fossem pagos
os benefícios previdenciários, o número de pessoas com
renda abaixo da linha de pobreza, passaria de 34% para 45% (Brant, 2001). Isso
significa que em 1999, os benefícios pagos pela Previdência Social
eram responsáveis por diminuir em 11 pontos percentuais a
população miserável do país.
O Gráfico 1 apresenta a evolução da pobreza no Brasil no
período 1988-1999, considerada ou não a presença
dos benefícios previdenciários. Nele fica evidente que, em 1988,
antes portanto da vigência do piso de valor igual a um salário
mínimo, a Previdência Social era responsável por manter
5,6% da população acima da linha de pobreza. Em 1999, essa
importância já era de 11%. Segundo esse mesmo estudo, somente o
aumento dos gastos previdenciários foi responsável por 67% da
redução da população situada abaixo da linha de
pobreza, entre 1988 a 1999.
[6]
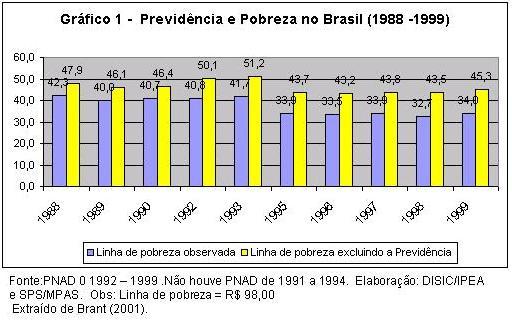
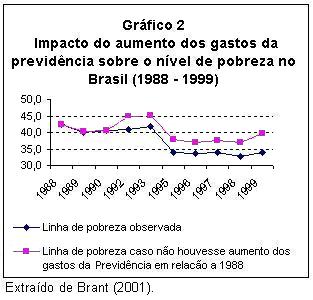 Beltrão
et alli
(2005) analisaram os efeitos da extensão do direito ao piso aos
trabalhadores rurais nas condições de vida dos
beneficiários e de suas famílias. Um dos destaques revelados por
essa pesquisa é que, no período 1992 a 2002, as famílias
de três gerações ou mais invertem a tendência de
queda observada nos dez anos anteriores (de 17,5% passaram a 19,3% das
famílias rurais). Essas famílias são compostas,
principalmente, por chefe idoso, filhos e netos, sendo que 57,7% desses filhos
são homens. Segundo esses pesquisadores, "esse padrão de
co-residência e suporte intergeracional está associado, entre
outras razões, à redução de oportunidades
econômicas para a população jovem.....(Beltrão
et alli,
op.cit p. 18)", em outras palavras, ao desemprego.
Beltrão
et alli
(2005) analisaram os efeitos da extensão do direito ao piso aos
trabalhadores rurais nas condições de vida dos
beneficiários e de suas famílias. Um dos destaques revelados por
essa pesquisa é que, no período 1992 a 2002, as famílias
de três gerações ou mais invertem a tendência de
queda observada nos dez anos anteriores (de 17,5% passaram a 19,3% das
famílias rurais). Essas famílias são compostas,
principalmente, por chefe idoso, filhos e netos, sendo que 57,7% desses filhos
são homens. Segundo esses pesquisadores, "esse padrão de
co-residência e suporte intergeracional está associado, entre
outras razões, à redução de oportunidades
econômicas para a população jovem.....(Beltrão
et alli,
op.cit p. 18)", em outras palavras, ao desemprego.
Essa pesquisa também indica que a ampliação da cobertura
junto aos rurais, contribuiu em muito para a redução da pobreza
rural. Seguem as evidências dessa realidade:
"Desde 1982, a maior proporção de famílias pobres e
indigentes era encontrada entre as famílias
sem
idosos e a menor nas
de
idosos. Entre 1982 e 1992, essas proporções declinaram nos dois
tipos de famílias que continham idosos e aumentaram naquelas
sem
idosos. Dessa forma, as famílias
de
idosos continuaram a ser as menos pobres, aumentando o hiato com a
situação de pobreza das famílias
sem
idosos. Nos anos 1990, a pobreza e a indigência declinaram em todos os
tipos de famílias, com uma redução mais intensa nas
famílias
de
idosos, ampliando ainda mais o hiato existente desde 1982" (Op. cit, p.
18). (Tabela 1).
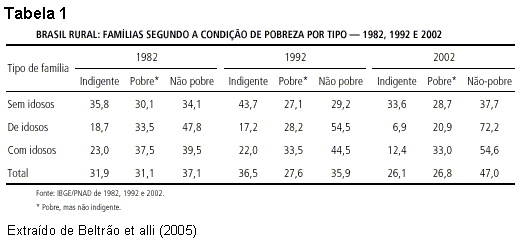
Esse conjunto de informações mostra que os constituintes
introduziram dispositivos/direitos no corpo da Previdência Social que
tiveram grande impacto sobre o nível de pobreza no país.
Destaca-se, mais uma vez, que se tratou de uma constituinte pós ditadura
militar, mas com claro domínio de representantes de partidos burgueses.
1. 2 – A garantia da renda mínima no campo da Assistência
Social
Para aqueles que não contribuíram à Previdência
Social, que não são trabalhadores rurais e que integram
família de baixa renda, o sistema de proteção social
brasileiro prevê, ainda, o pagamento de um benefício,
também de valor igual ao salário mínimo, no campo da
Assistência Social. Esse benefício, embora regulamentado alguns
anos depois da promulgação da Constituição de 1988,
nela foi definido. Nesse caso o risco velhice toma o nome de Benefício
de Prestação Continuada (BPC) e é concedido a pessoas com
65 anos ou mais
[8]
, que apresenta renda média mensal familiar inferior a 25% do
salário mínimo vigente.
Essa última condição é considerada baixa entre os
especialistas da área, mais rígidas do que as exigidas
para a concessão de um salário mínimo aos trabalhadores
rurais, deixando de proteger segmento importante da população
idosa, que também não conta com a cobertura da Previdência
Social
[9]
. Os trabalhadores rurais, para terem acesso ao piso de um salário
mínimo, apenas necessitam comprovar que trabalharam durante o
período definido na legislação e, evidentemente, terem
atingido a idade mínima para a aposentadoria.
O Benefício de Prestação Continuada beneficiou, em 2003,
1.701.240 pessoas, a um custo de R$ 4,533 mil milhões. Em 2004, o BPC
foi pago a 2.061.013 beneficiários (1.127.849 portadores de
deficiência e 933.164 idosos), a uma despesa de R$ 5,814 mil
milhões. Tal como vimos para a Previdência Social, em
vários municípios os benefícios pagos constituem
importante fonte de recursos. Apenas para exemplificar, pesquisa realizada em
2005 demonstrou que, em Caxias, no Estado do Maranhão, localizado na
região nordeste do país, o valor recebido pelos
beneficiários do BPC corresponde a 78% da Receita Disponível
(impostos, mais transferências constitucionais); a 102% do Sistema
Único de Saúde (SUS); é 9,5 vezes maior do que o ICMS
(imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços) e
15 pontos percentuais superior aos recursos do Fundo de
Participação do Município (FPM). Caxias tem 139.736
habitantes, dos quais 74% moram na zona urbana; registra Índice de
Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) abaixo da média nacional e
desenvolve atividades na sua maioria junto ao setor terciário da
economia. Nessa pesquisa, Caxias está representando 11 municípios
homogêneos, isto é, município nordestino, com
população de 100 mil a 500 mil habitantes, IDH – M abaixo
da média, urbano e com atividades concentradas no setor terciário
(Marques,
et alli,
2005).
Essa é a realidade para diferentes tipos de municípios
localizados na região nordeste, sabidamente a mais pobre do Brasil, mas
também se reproduz, com menor impacto, mesmo nas regiões sudeste
e sul, onde o nível de pobreza é mais reduzido.
É importante salientar que o BPC, embora esteja no campo da
Assistência Social, pois exige teste de meios, constitui um direito, o
que o diferencia em relação a outras políticas chamadas de
assistenciais.
2 - Fome Zero – Bolsa Família.
De acordo com o Projeto Fome Zero: uma Proposta de Segurança Alimentar
para o Brasil, a população com renda abaixo da linha de pobreza,
que seria objeto de sua atenção prioritária, atingia
44,043 milhões de pessoas, envolvendo 9,32 milhões de
famílias. Em outras palavras, o tamanho da pobreza absoluta correspondia
a 27,8% da população total do país; 19,1% da
população das regiões metropolitanas, 25,5% das
áreas urbanas não-metropolitanas e 46,1% da
população rural. Em relação às
famílias, correspondia a 21,9% das famílias brasileiras. Mas
segundo outra metodologia de cálculo, o tamanho da pobreza é
ainda maior, atingindo 57,7 milhões de pessoas (IBRE, 2001). Embora a
diferença diga respeito a milhões de pessoas, destaca-se que,
independentemente do número adotado, a pobreza absoluta no Brasil atinge
parcela extremamente significativa de sua população. O tamanho
dessa pobreza torna problemático, inclusive, a utilização
do termo "focalizado" para as políticas dirigidas a essa
população. É claro que no sentido restrito não se
tratam de políticas universais, mas o tamanho da
população-alvo é "desmesurado".
Mesmo antes de seu início, especialistas da área social
criticaram duramente determinados aspectos do Projeto Fome Zero, especialmente
com relação às idéias relacionadas ao
Cartão, instrumento da transferência de renda que seria destinada
às famílias em situação de extrema pobreza. Na sua
concepção original, o Cartão somente poderia ser utilizado
para compra de alimentos, e estes seriam previamente definidos pelo governo.
É claro que essa definição não seria gratuita,
estando vinculada à preocupação de desenvolver certas
culturas locais, entre outros aspectos. De qualquer forma, a
determinação de que a renda recebida deveria ser gasta somente em
alimentação indicava desconhecimento com relação ao
comportamento das famílias mais pobres. Como é sabido,
empiricamente, que pessoas vivendo abaixo da linha de pobreza dirigem
praticamente todo o acréscimo de renda para a compra de alimentos. Mas
existem pesquisas que comprovam esse conhecimento "popular". Para se
ter uma idéia, estudo sobre o impacto de outros programas de
transferência de renda mostrou que, para famílias com renda mensal
per capita
inferior a R$ 90,00, para cada 1 real (R$ 1,00) de benefício recebido,
89 centavos são gastos em alimentos (MS, 2003). Além disso, o
dirigismo da compra pareceu, apesar de suas boas intenções, estar
fundado na idéia de que o povo pobre não sabe comprar, sendo de
um autoritarismo a toda prova.
Passados alguns meses, durante os quais seu principal representante foi objeto
de constantes críticas com relação ao Fome Zero, o que
levou a seu afastamento, o programa ficou basicamente concentrado no chamado
Programa Bolsa Família, muito embora a "marca" Fome Zero
continue a fazer parte dos
sites
do governo e, em seu
site
específico estejam arroladas atividades desenvolvidas por diferentes
ministérios, tais como incentivo à agricultura familiar, o Plano
Nacional de Reforma Agrária, entre vários outros.
Segundo os órgãos oficiais do governo, o Bolsa Família foi
criado para atender duas finalidades básicas: enfrentar o maior desafio
da sociedade brasileira, que é o de combater a miséria e a
exclusão social, e também promover a emancipação
das famílias mais pobres. Antes de sua criação pelo
governo Lula, haviam vários programas voltados à família
de renda abaixo da linha de pobreza, tal como o Bolsa Escola, Bolsa
Alimentação, Cartão Alimentação e o
Auxílio Gás. A unificação de todos esses programas
deu origem ao Bolsa Família.
O Bolsa Família, ao contrário do piso previdenciário e do
BPC,
não constitui um direito. Como seu nome designa, trata-se de um
programa, fruto de decisão do executivo federal. Em dezembro de 2004,
estava implantado em 5.533 municípios, atingindo portanto 99,50% do
total existente no país, atingindo
6.571.842 famílias, a um gasto mensal R$ 439,9 milhões (R$ 5,3
mil milhões anuais). Pesquisa realizada por Marques
et alli
(2004) estimou que, em dezembro de 2003, quando "somente" 4.103.016
famílias recebiam o Bolsa Família, a população
atingida, considerando a média de pessoas por família em cada
estado do Brasil, era de 16 milhões e 512 mil brasileiros. O Quadro 1
apresenta a definição do público-alvo e o valor pago pelo
Bolsa Família.
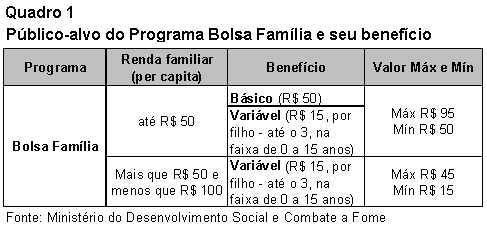
Como seria de esperar, 69,1% da população beneficiária
estava localizada no Nordeste. Nessa região, o percentual da
população beneficiária sobre o total da
população dos municípios é bastante elevado,
variando de 13% a 45%. Este último percentual é atingido em
municípios com população de até 20 mil e urbana,
com IDH - M abaixo da média nacional e atividade econômica
predominantemente no setor terciário, mas também em
municípios com população entre 20 a 100 mil, localizada
mais na zona rural, com um IDH - M abaixo da média nacional e cujas
atividades econômicas são predominantemente realizadas no setor
terciário.
É claro que o
resultado observado na região Nordeste é, antes de tudo, reflexo
da situação de pobreza em que vivem os habitantes de seus
municípios. Mas a importância assumida pelo Bolsa Família
no Nordeste não significa que nas demais não se encontrem grupos
de municípios nos quais parcela significativa da população
seja beneficiária do programa. Exemplo disso ocorre em Itaguatins
(município de até 20 mil habitantes, com IDH - M abaixo da
média, predominantemente urbano e que desenvolve atividade
econômica terciária), no estado do Tocantins, localizado na
região norte, onde 38% de sua população é
beneficiária do Bolsa Família.
Já região Sul, com raras exceções, o percentual da
população beneficiária do Programa Bolsa Família
é relativamente baixo, refletindo a situação
sócio-econômica de sua população. Mesmo assim cumpre
o papel de sustentador de um determinado nível de renda. Em Porto
Alegre, por exemplo, capital do estado do Rio Grande do Sul, palco de
vários Fóruns Sociais, que apresenta nível de IDH – M
acima da média nacional, 5% de sua população é
beneficiária, o que não é desprezível.
Do ponto de vista da importância dos recursos transferidos, quanto menor
for a Receita Disponível do município (compreendida pelas
receitas próprias e pelas transferências constitucionais), maior
será a importância relativa do programa Bolsa Família.
Há casos, como em Pedra Branca, por exemplo (no estado nordestino do
Ceará, representando na pesquisa 57 municípios), onde os recursos
do Bolsa Família correspondem a 43% da Receita Disponível.
Em relação aos recursos federais, transferidos ao Sistema
Único de Saúde, os recursos do Bolsa Família chegam a ser
283% maior, como acontece no município de Vitória de Santo
Antão (localizado no estado de Pernambuco, no nordeste). Mesmo em Porto
Alegre, os recursos recebidos pelos 5% da população equivalem a
2% da Receita Disponível, 6% das transferências federais para o
SUS, 6% da arrecadação do ICMS e 31% dos recursos do Fundo de
Participação do Município.
Esses indicadores do Bolsa Família – em relação ao
total da população e da Renda Disponível dos
municípios brasileiros – mostram quão importantes são
os programas compensatórios na promoção da
distribuição da renda e da atividade econômica nos recantos
mais pobres do país. Persiste, no entanto, o fato de seus
benefícios não derivarem de um direito, de forma que esses podem
ser extintos pelo simples ato de vontade do governo de plantão.
3 – Mercado de Trabalho e Distribuição de Renda
Para podermos avaliar a dimensão da política de combate à
pobreza realizado nos dois primeiros anos do governo Lula, é preciso se
ter uma idéia de como se estrutura o mercado de trabalho no Brasil e
como é distribuída a renda nacional.
3.1 – Mercado de trabalho
Os trabalhadores brasileiros enfrentam uma realidade extremamente adversa. O
primeiro deles é, sem dúvida o desemprego. Em dezembro de 2004,
quando a economia acumulou um crescimento anual de 5,2%, na Região
Metropolitana de São Paulo (principal centro das atividades no
país) a taxa de desemprego aberto estava em 10%, isto é, 4,2
pontos percentuais acima do observado em dezembro de 1985. Se levarmos em conta
o desemprego oculto (trabalho precário e desemprego por desalento) a
taxa atingiu 17,3%, quando em dezembro de 1985 estava em 9,8%. Assim, mesmo
tendo o desemprego baixado em relação ao ano de 2003 (em dois
pontos percentuais para as duas taxas), a falta de trabalho nas últimas
décadas constitui uma realidade persistente e em alta,
situação que se reproduz em todos os cantos do país.
O segundo grande problema se refere ao nível de
formalização daqueles que têm a sorte de ainda contarem com
um trabalho. Em 2003, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios (PNAD), se levarmos em conta o trabalho principal, 53,9% dos
trabalhadores não contribuíam para nenhum tipo de cobertura
previdenciária, fosse ela pública ou privada. Além disso
significar que esse contingente está excluído da cobertura para o
momento da aposentadoria, implica em não estar regido pelos dispositivos
legais que regem a relação capital / trabalho, não tendo
direito, por exemplo, a férias remuneradas e ao 13º salário,
quando forem trabalhadores assalariados ou mesmo trabalhadores
domésticos. Essa mesma pesquisa mostra que essa realidade é um
pouco mais acentuada para as mulheres, pois 54,4 % delas são não
contribuintes. No caso dos homens esse percentual é de 53,4%.
Esses são os trabalhadores que pertencem ao chamado mercado informal. Em
geral são assalariados sem carteira assinada (documento que concretiza
seu vínculo à cobertura previdenciária e o acesso aos
direitos decorrentes das leis trabalhistas), aqueles que exercem atividades por
"conta própria" (o que pode representar desde alguém
que venda mercadorias nas ruas, a profissionais como eletricistas, chaveiros e
mesmo especializadas com título universitário) e os trabalhadores
domésticos.
A importância relativa dos assalariados sem carteira, dos
conta-própria e dos trabalhadores domésticos no mercado de
trabalho brasileiro pode ser visualizada na Tabela 2. Na primeira coluna,
levou-se em conta o total dos ocupados, isto é, incluiu-se os militares
e os funcionários públicos. Nesse caso, essas
ocupações atingem 58,1% dos ocupados. Se desconsiderados os
militares e os funcionários públicos estatutários, esse
percentual vai para 69,4%. Embora na tabela os empregadores estejam
somados aos conta-própria, isso não altera substantivamente o
resultado. Para se ter uma idéia, na população ocupada de
10 anos ou mais de idade, considerando a posição na
ocupação do trabalho principal, e levando em conta as atividades
de produção para consumo próprio e de
construção para uso próprio, os conta-própria
representavam 22,3% do total e os empregadores apenas 4,2%.
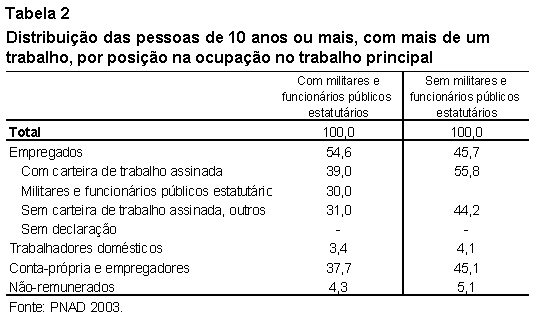
3.2 – Nível dos rendimentos e concentração de renda
A terceira grande dificuldade que enfrenta o trabalhador brasileiro é o
nível de sua renda. Em 2003, entre os ocupados, considerando um leque
de remuneração que inicia com valores menores do que o
salário mínimo e termina com 10 salários mínimos ou
mais, é patente que os trabalhadores brasileiros estão altamente
concentrados junto aos rendimentos mais baixos. A Tabela 3 mostra que 73,2% dos
ocupados recebiam até 3 salários mínimos, em 2003.
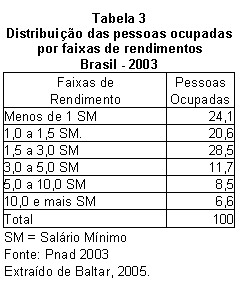 Além disso, é assustador verificar que 24,1% dos ocupados ganham
menos do que 1 salário mínimo e que 20,6% recebe de 1 a 1,5
salário mínimo. Uma das conclusões que se pode tirar
dessa distribuição é que, mesmo entre os ocupados,
há uma forte desigualdade de renda. Para se ter uma idéia, apenas
2,8% ganha entre mais do que 10 e menos do que 20 salários
mínimos; acima de 20 salários mínimos, apenas 1,3% dos
ocupados.
Além disso, é assustador verificar que 24,1% dos ocupados ganham
menos do que 1 salário mínimo e que 20,6% recebe de 1 a 1,5
salário mínimo. Uma das conclusões que se pode tirar
dessa distribuição é que, mesmo entre os ocupados,
há uma forte desigualdade de renda. Para se ter uma idéia, apenas
2,8% ganha entre mais do que 10 e menos do que 20 salários
mínimos; acima de 20 salários mínimos, apenas 1,3% dos
ocupados.
Em 2000, considerando todos os rendimentos (e não apenas o do trabalho)
o Índice de Gini era de 0,633. Dessa forma, o Brasil apresenta uma das
piores concentrações de renda do mundo, só sendo superado
por poucos países, tais como Serra Leoa, República
Centro-Africana e Suazilândia. A renda das famílias mais ricas
(renda familiar mensal, em 2000, acima de R$ 10.982,00 de setembro de 2003),
famílias que totalizam 1,162 milhão, corresponde a 75% do total
da renda nacional. Entre essas, as 5.000 famílias mais ricas absorvem
45% da renda nacional (Pochmann, 2004).
O quadro de desigualdade de renda no país é estrutural, mas, por
diversos motivos, tem-se agravado nas últimas décadas: enquanto
que a renda média da população mais rica era 10 vezes
maior do que a renda média da população brasileira em
1980, atualmente essa relação é de 14 vezes. Em
relação à renda dos 20% mais pobres, essa
relação aumenta para 80.
4 – Conclusões
Não há dúvida de que o governo Lula, com a
implantação em praticamente todos os municípios do Bolsa
Família, provocou melhora nas condições de vida de
milhões de brasileiros. Se considerarmos que a média da
família brasileira é formada por 3,62 membros, o Bolsa
Família atingiu, em março de 2005, 23 milhões e 755 mil
pessoas (número de famílias beneficiadas = 6.562.155
famílias), o que é um número bastante expressivo. Isso
significa que parcela da população brasileira situada abaixo da
linha de pobreza conseguiu ultrapassá-la, por meio do recebimento dessa
transferência.
Mas as condições mínimas de acesso ao Bolsa Família
exigem uma renda
per capita
inferior a R$ 50,00, o que é, sem dúvida muito baixo. Se
tomarmos como parâmetro o salário mínimo de R$ 260,00
[cerca de €89,66]
(vigente até 31 de abril de 2005) como a renda de uma família de
quatro membros (para ficarmos mais próximos do tamanho da família
da região nordeste (4,34 membros) e da região norte (4,01),
regiões sabidamente as mais pobres do país, a renda
per capita
fica em R$ 65,00. Se tomarmos como referência o novo salário
mínimo de R$ 300,00
[cerca de €103,45]
, o diferencial entre a renda
per capita
exigida pelo Bolsa Família e a referenciada ao salário
mínimo aumenta em R$ 10,00.
Isso significa que, mesmo sendo o Bolsa Família importante, posto que
modifica as condições de vida de parcela importante do povo
brasileiro, não está considerando sequer o parâmetro
salário mínimo. Como sabido, o salário mínimo
constitui um piso salarial legal, e qualquer pagamento abaixo dele é
considerado imoral pela sociedade. Segundo sua legislação
fundadora, o salário mínimo seria, ainda, um salário capaz
de manter o trabalhador e sua família. Evidentemente que seu valor real
foi deteriorado ao longo das décadas que nos separam da
adoção do primeiro salário mínimo no Brasil, de
forma que hoje está longe de corresponder ao mínimo
necessário para a sobrevivência de uma família de dois
adultos e duas crianças, tal como escrito naquela
legislação.
Assim, mesmo considerando que o salário mínimo perdeu o seu
sentido primeiro, passando hoje a representar o piso legal nacional, o fato de
o Bolsa Família não o ter como referencial implica que essa
política do governo Lula não leva em conta a necessidade de todos
terem o direito de poder contar com igual renda mínima, no caso, de
valor igual ao salário mínimo. O entendimento que o
salário mínimo corresponderia à renda mínima
necessária para alguém sobreviver decorre do fato óbvio
que não há diferença entre as necessidades básicas
de um assalariado e de um catador de caranguejos, por exemplo.
Talvez a diferença entre as condições de acesso do Bolsa
Família e as do piso previdenciário e do valor do
Benefício de Prestação Continuada seja explicada pelo fato
de esses últimos, que se constituem direitos, estarem fundamentados na
idéia do trabalho. Tanto um como outro são, em última
análise, um valor de base concedido a quem se retirou do mercado de
trabalho, isto é, corresponde à cobertura do risco velhice. No
caso dos beneficiários do Bolsa Família, essa
"condição" não está explícita,
pois trata-se de transferir renda à população extremamente
pobre, com idade inferior a 65 anos, posto que se tivessem essa idade, poderiam
requerer o BPC. Mas o Bolsa Família também tem como referencial o
trabalho (ou a perda da capacidade laboral devido à idade), pois
pressupõe a necessidade da família trabalhar para completar sua
renda.
Cabe perguntar em que condições os beneficiários do
Bolsa Família vão buscar essa complementação. A
resposta é uma só: nas mesmas condições em que
vinham fazendo antes, pois as determinações das rendas nos
grotões do país e mesmo na periferia das grandes capitais
não sofreram nenhuma alteração para melhor. A
história da acumulação brasileira indica que ela contempla
uma lógica perversa, de forma que, mesmo quando a economia cresce, se
aprofundam as desigualdades e aumenta a pobreza absoluta.
Mudar esses determinantes é, portanto, um imperativo para quem afirma
que deseja lutar contra a pobreza escandalosa que existe no país. O
combate à pobreza não pode se resumir à
transferência de renda, e ainda mais nas condições de
acesso em que está fundamentada. Evidentemente que a transferência
de renda para as famílias mais pobres deve ser vista como uma tarefa
emergencial, que nenhum governo poderia se furtar de fazer. Mas combater a
pobreza somente com o Bolsa Família, sem que esse programa esteja
associado a outras políticas, pode resultar, inclusive, no aumento de
seus "demandantes".
É por isso que não basta, também, para promover a
inclusão social e diminuir o nível de desigualdade, que o governo
estimule a geração de emprego e renda — o que dificilmente
se pode dizer que esteja fazendo, ao praticar elevadas taxas de juros e ao
perseguir elevados superávits operacionais para pagar o serviço
da dívida. Sem que seja promovida a reforma agrária e sem o
enfrentamento dos demais fatores determinantes da concentração de
renda e do patrimônio, o resultado será a manutenção
eterna de políticas compensatórias, que no caso brasileiro
não podem sequer ser chamadas de focalizadas
[12]
, estando mais para uma política de massa, do tipo de um grande
"holofote".
Ao mesmo tempo que se fazem necessárias medida que quebrem a
lógica perversa da acumulação capitalista brasileira,
é urgente a instituição, como um direito, da garantia de
determinado nível de renda para todos. Já chamava a
atenção o mestre Furtado (2002) que "para participar da
distribuição de renda, a população necessita estar
habilitada por um título de propriedade ou pela inserção
qualificada no sistema produtivo (p.16)." De forma contundente, para esse
autor isso seria possível por meio de uma reforma patrimonial.
No que se refere à renda, ela precisa ser entendida como um direito
derivado do conceito de cidadania, portanto garantida pela
constituição brasileira.Dessa forma, essa renda mínima, no
espírito original do projeto do senador Eduardo Suplicy, não
comporia uma política assistencial e sim faria parte dos direitos
"básicos" de qualquer cidadão brasileiro, tal como
são compreendidos o acesso aos cuidados com a saúde e o ensino
fundamental.
A garantia dessa renda não teria como propósito substituir o
sistema de proteção social atualmente existente, mas, ao
reconhecer a complexidade da realidade brasileira, de complementar o sistema
atual. Não seriam necessários muitos recursos para diminuir o
número de famílias localizadas abaixo da linha de pobreza. Mas
mesmo que um programa mais ambicioso (que se preocupe em garantir uma qualidade
de vida mais elevada, e não somente permitir que as famílias
pobres ultrapassem essa linha) envolvesse uma quantidade de recursos mais
significativa, essa deveria ser a prioridade em termos de política
social imediata, pois somente dessa maneira pode-se dizer que a sociedade
brasileira estaria verdadeiramente comprometida com o desenvolvimento do
país. Crescer sem distribuir a renda é não só
reproduzir o passado de desigualdades, como aprofundá-lo. Essas foram
sempre as palavras do mestre Furtado, deixando entre nós a
idéia-síntese: "o desenvolvimento verdadeiro só
existe quando a população em seu conjunto é beneficiada
(Op.cit, p.21)".
Para a sustentação dessa política, no entanto, seria
necessário que o Estado brasileiro recuperasse sua capacidade de
intervenção, o que exigiria rediscutir as
conseqüências do enorme esforço que tem sido feito nos
últimos anos para promover o superávit primário. Seria
necessário, ainda, que o sistema tributário fosse bastante
alterado, de maneira a promover as bases para uma redistribuição
de renda, angariando recursos para a promoção dessa e de outras
políticas, consideradas essenciais pela sociedade brasileira.
Existe uma relação estreita entre pobreza e
concentração de poder. É dessa compreensão que
decorre o entendimento que, no caso do Brasil, onde milhões de pessoas
vivem abaixo da linha da pobreza, os benefícios atualmente
assistenciais, que promovam redistribuição de renda, devem
superar o assistencialismo e constituírem parte dos direitos
básicos ou fundamentais de qualquer brasileiro. Essa mudança de
status,
além de garantir a continuidade dos programas, retira do
assistencialismo seu caráter de moeda política, o que
reforça a força dos poderosos entre os segmentos mais carentes da
população.
Tal proposição, no entanto, como já mencionado acima,
implica mudanças que se relacionam à ordem econômica e
política do país. Alterar o quadro estrutural brasileiro, que
reproduz sem parar os determinantes da pobreza significa enfrentar os
interesses dos beneficiários do processo que historicamente cria e
recria a pobreza e a desigualdade. O Programa das Nações Unidas
para o Desenvolvimento (PNUD), na apresentação do
Relatório do Desenvolvimento Humano 2004, está correto ao dizer
que:
"..... A menos que as pessoas pobres e marginalizadas – que na
maioria das vezes são membros de minorias religiosas, étnicas, ou
migrantes – possam influenciar ações políticas, a
nível local e nacional, não é provável que obtenham
acesso eqüitativo ao emprego, escolas, hospitais, justiça,
segurança e a outros serviços básicos." (PNUD, 2005,
p. V.)
Mas dificilmente pode-se afirmar que a democracia formal é
suficiente para garantir o acesso aos benefícios, ações e
serviços que compõem a proteção social, a
educação, entre outros aspectos a que deveriam ter direito
qualquer pessoa. Isso porque, para a população mais pobre,
não lhe falta somente a base material para levar uma vida digna, mas a
consciência ativa, portanto, a capacidade de fazer valer os direitos que
uma democracia formal garante em suas leis. No Brasil, há
inúmeros exemplos dessa realidade: desde o salário mínimo
não cumprido em grotões do país, até a dificuldade
de acesso a informações que expliquem o caminho
burocrático a ser percorrido para, ao final, garantir um
benefício.
Desnecessário dizer que a adoção de uma renda
mínima, que dificilmente poderia ser de valor diferente do que se
entende por um salário mínimo, exigiria a
redefinição do mínimo a ser pago ao trabalhador ativo. O
pretenso conflito entre o direito à renda mínima e o desejo de
trabalhar seria resolvido pela elevação do piso salarial e, quem
sabe, pela redução da desigualdade existente no país.
Bibliografia
BALTAR, Paulo "Salário Mínimo e Mercado de Trabalho".
Texto para o Seminário Salário Mínimo e Desenvolvimento,
Unicamp, 28 e 29 de abril de 2005.
BRANT, Roberto - Desenvolvimento Social, Previdência e Pobreza no Brasil.
In Conjuntura SOCIAL – A previdência Social Reavaliada nº I, v.
12, nº. 2, abr - jun, 2001. Brasília, MPAS, 2001
BELTRÃO, Kaizô Iwakami; CAMARANO, Ana Amélia e
LEITÃO E MELLO, Juliana.
Mudanças nas Condições de vida dos Idosos Rurais
Brasileiros: Resultados não-esperados dos Avanços da
segurança
Rural. Textos para Discussão 1066. Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada, Rio de Janeiro, 2005.
FURTADO, Celso. Em busca de novo modelo: reflexões sobre a crise
contemporânea. São Paulo: Paz e Terra, 2002.
INSTITUTO BRASILEIRO DE ECONOMIA – FGV –
www.ibre.fgv.br
- acesso em 29/julho/2004.
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios (PNAD-2003) –
www.ibge.gov.br
- acesso em 29/abril/2005.
MARQUES, Rosa. Maria. e MENDES, Áquilas. - Crescimento, Desenvolvimento
e Cidadania, 2005, mimeo
____;____; GUEDES, Marcel e HUTZ, Ana. A Importância do Bolsa
Família nos Municípios Brasileiros, relatório de pesquisa.
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME – MDS,
Brasília, 2004.
____;____;____;____.O Benefício de Prestação Continuada,
relatório de pesquisa. MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
COMBATE À FOME – MDS, Brasília, 2005.
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
http://www.mpas.gov.br
- acesso em 05/abril/2005.
MINISTÉRIO DA SAÚDE - Avaliação do Programa Bolsa
Alimentação – Estudo 2: Análise de Impacto
Preliminar. Brasília, Ministério da Saúde, 2003.
POCHMANN, M.; CAMPOS, A. ; BARBOSA, A . et all. "Atlas da Exclusão
Social, volume 3: Os Ricos no Brasil". São Paulo: Cortez, 2004.
PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO.
Relatório para o Desenvolvimento Humano 2004.
http://www.pnud.org.br/rdh/
Acesso em 15/março/2005
Notas:
1- Professora titular do Programa de Estudos Pós-Graduados em Economia
Política da PUCSP. Texto finalizado em 30 de abril
de 2005 para o V Colóquio Latino Americano de Economistas
Políticos, a ser realizado na Cidade do México, ao final de
outubro.
2- Professor da Faculdade de Economia da FAAP/SP e coordenador do Centro de
Estudos de Pesquisas de Administração Municipal.
3- A Segurança Social, segundo o artigo 195 da constituição
brasileira, compreende os ramos Previdência Social, Assistência
Social, Sistema Único de Saúde e o seguro-desemprego.
4- É importante destacar que neste artigo não se discute se o
valor do salário mínimo é suficiente ou não para as
despesas de um trabalhador, e muito menos de sua família.
5- Na época que o estudo foi feito, em junho de 2001, a Linha de Pobreza
foi definida em R$ 98,00 mensais, conforme metodologia utilizada pelo Instituto
de Pesquisas Econômicas Aplicadas.
6- O estudo também isolou o impacto da estabilidade dos preços.
7- O Benefício de Prestação Continuada (BPC) é
definido pela Lei 8.742, de 7 de dezembro de 1993, Lei Orgânica da
Assistência Social (LOAS).
8- O BPC também é concedido à pessoa portadora de
deficiência, quando essa lhe impede de ter vida independente e trabalhar
9- Em 2001, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Economia
(IBGE), 40,7 milhões de ocupados junto ao setor privado da economia
não eram contribuintes do Regime Geral da Previdência social ou a
qualquer tipo de outro regime, correspondendo a 57,7% da
população ocupada nesse setor, nesse ano. Esse contingente
integra o chamado mercado informal da economia brasileira.
10- Para esse cálculo, a equipe de Lula utilizou o critério de
linha de pobreza do Banco Mundial (U$ 1,08 por dia), ajustando para os
diferentes níveis regionais de custo de vida e pela existência ou
não de auto-consumo.
11- Essa afirmação se funda no fato de parcela importante dos
ocupados receberem até 1 salário mínimo, como visto na
página 13.
12- Embora tecnicamente o sejam, pois exigem teste de meios.
Esta comunicação encontra-se em
http://resistir.info/
.
|
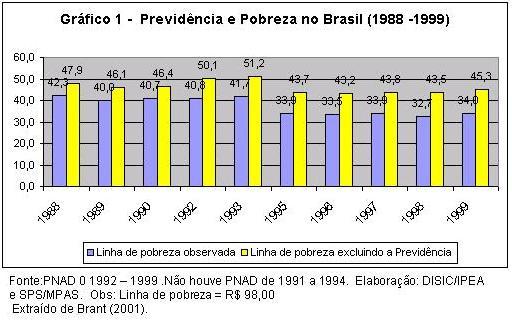
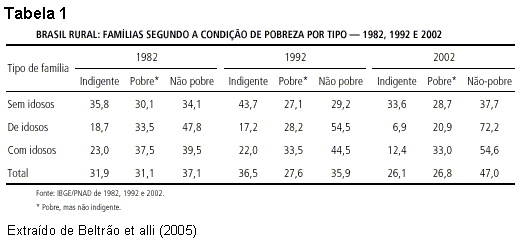
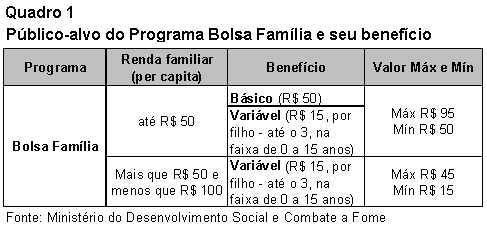
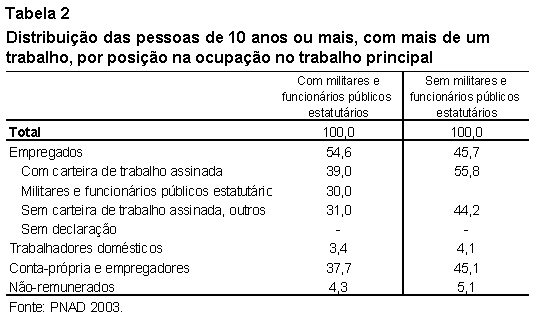
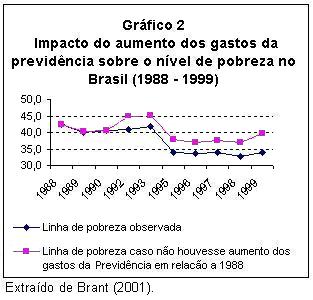 Beltrão
et alli
(2005) analisaram os efeitos da extensão do direito ao piso aos
trabalhadores rurais nas condições de vida dos
beneficiários e de suas famílias. Um dos destaques revelados por
essa pesquisa é que, no período 1992 a 2002, as famílias
de três gerações ou mais invertem a tendência de
queda observada nos dez anos anteriores (de 17,5% passaram a 19,3% das
famílias rurais). Essas famílias são compostas,
principalmente, por chefe idoso, filhos e netos, sendo que 57,7% desses filhos
são homens. Segundo esses pesquisadores, "esse padrão de
co-residência e suporte intergeracional está associado, entre
outras razões, à redução de oportunidades
econômicas para a população jovem.....(Beltrão
et alli,
op.cit p. 18)", em outras palavras, ao desemprego.
Beltrão
et alli
(2005) analisaram os efeitos da extensão do direito ao piso aos
trabalhadores rurais nas condições de vida dos
beneficiários e de suas famílias. Um dos destaques revelados por
essa pesquisa é que, no período 1992 a 2002, as famílias
de três gerações ou mais invertem a tendência de
queda observada nos dez anos anteriores (de 17,5% passaram a 19,3% das
famílias rurais). Essas famílias são compostas,
principalmente, por chefe idoso, filhos e netos, sendo que 57,7% desses filhos
são homens. Segundo esses pesquisadores, "esse padrão de
co-residência e suporte intergeracional está associado, entre
outras razões, à redução de oportunidades
econômicas para a população jovem.....(Beltrão
et alli,
op.cit p. 18)", em outras palavras, ao desemprego.
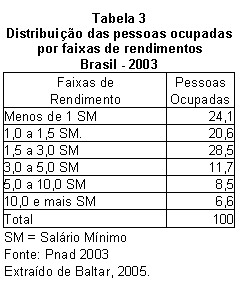 Além disso, é assustador verificar que 24,1% dos ocupados ganham
menos do que 1 salário mínimo e que 20,6% recebe de 1 a 1,5
salário mínimo. Uma das conclusões que se pode tirar
dessa distribuição é que, mesmo entre os ocupados,
há uma forte desigualdade de renda. Para se ter uma idéia, apenas
2,8% ganha entre mais do que 10 e menos do que 20 salários
mínimos; acima de 20 salários mínimos, apenas 1,3% dos
ocupados.
Além disso, é assustador verificar que 24,1% dos ocupados ganham
menos do que 1 salário mínimo e que 20,6% recebe de 1 a 1,5
salário mínimo. Uma das conclusões que se pode tirar
dessa distribuição é que, mesmo entre os ocupados,
há uma forte desigualdade de renda. Para se ter uma idéia, apenas
2,8% ganha entre mais do que 10 e menos do que 20 salários
mínimos; acima de 20 salários mínimos, apenas 1,3% dos
ocupados.