Energia e evolução humana
A vida no Planeta Terra é sustentada pela energia. Os organismos
autotróficos retiram a energia directamente da radiação
solar, e os organismos heterotróficos retiram energia dos
autotróficos. A energia
capturada lentamente por fotossíntese é armazenada na forma de
densos reservatórios que foram sendo acumulados ao longo da
história da Terra, ficando à disposição dos
heterotróficos, que podendo usar mais energia, evoluíram para os
explorar. O Homo
Sapiens pertence ao tipo heterotrófico; na verdade, a habilidade para
usar a energia extrasomaticamente (exterior ao corpo) permite ao humano usar
muito mais energia do que quaisquer outros heterotróficos que tenham
evoluído. O controlo do fogo e a exploração dos
combustíveis fósseis tornaram possível ao Homo Sapiens
libertar, num curto intervalo de tempo, vastas quantidades de energia
acumuladas muito antes do aparecimento da sua espécie.
Usando a energia extrasomática com o objectivo de modificar cada vez
mais o seu ambiente, e para fazer face às suas necessidades, a
população humana ampliou de tal maneira os seus recursos base,
que durante longos períodos estes recursos excederam as suas
exigências. Isto permitiu uma expansão de população
de uma forma extrema, semelhante às situações criadas com
a introdução de espécies não autóctones,
propiciando assim novos habitats, tal como é o caso dos coelhos na
Austrália ou dos besouros japoneses nos Estados Unidos. A actual
população mundial de mais de 5,5 mil milhões é
sustentada e continua a crescer devido ao uso de energia extrasomática.
Mas o esgotamento dos combustíveis fósseis, de que provêem
três quartos desta energia, está relativamente próximo, e
nenhuma outra fonte de energia que os possa vir a substituir é
tão abundante e barata. Numa perspectiva temporal, é
previsível o colapso da humanidade, em apenas mais uns poucos anos. Se
houver sobreviventes, eles não poderão continuar as
tradições culturais da actual civilização, as quais
requerem fontes de energia abundantes. Porém, não é
provável que as diversas comunidades possam persistir muito tempo sem
energia, cuja utilização constitui uma parte muito importante do
seu modus vivendi.
A espécie humana pode ser vista como tendo evoluído ao
serviço da entropia, e não é expectável que
sobreviva às acumulações densas de energia, que ajudou a
configurar o seu meio. Os seres humanos gostam de acreditar que controlam o seu
destino, mas quando se faz uma retrospectiva da história da vida na
Terra, a evolução do Homo Sapiens é apenas um
episódio passageiro que actua no sentido do promover o equilíbrio
energético do planeta.
Desde Malthus, pelo menos, existe a noção clara de que os meios
de subsistência não crescem tão rápido quanto a
população. Ninguém alguma vez gostou da ideia de que a
fome, a peste e a guerra são o modo de a natureza reparar o
desequilíbrio -- o próprio Malthus sugeriu que a
realização de "rastreios preventivos", os quais servem
para reduzir a taxa de natalidade, poderiam ajudar a prolongar o intervalo
entre tais eventos (1986, vol. 2, pág., 10 [1826, vol. 1, pág.,
7]).
[1]
E no entanto, nos duzentos anos seguintes ao de Malthus pousar a caneta,
não houve nenhum cataclismo mundial. Mas, simultaneamente, durante esses
dois séculos, a população mundial cresceu
exponencialmente, enquanto recursos insubstituíveis iam sendo
consumidos. Será inevitável algum tipo de ajustamento.
Hoje, muitas pessoas que se preocupam com as elevadas taxas de crescimento
demográfico e com a degradação ambiental, acreditam que as
acções humanas podem evitar uma catástrofe. As
opiniões dominantes, sustentam que uma população
estável, que não ponha em causa a "capacidade de
encaixe" ambiental, seria indefinidamente sustentável, e que este
estado de equilíbrio pode ser alcançado por uma
combinação do controlo da natalidade, conservação
ambiental e confiança nos recursos "renováveis".
Infelizmente, a implementação mundial de um programa rigoroso de
controlo de natalidade é politicamente impossível. A
conservação ambiental não é eficaz enquanto as
taxas demográficas continuarem a aumentar. E nenhum recurso é
verdadeiramente renovável.
[2]
Além disso, o ambiente não tem a obrigação de
manter constante a população de qualquer espécie de
organismo vivo por um período indefinido de tempo. Se toda natureza
estivesse em equilíbrio perfeito, todos as espécies teriam uma
população constante, sustentada indefinidamente pela sua
própria capacidade de sobrevivência. Mas a história da vida
envolve a competição entre espécies, com espécies
novas que evoluem, e velhas que desaparecem. Neste contexto, seria de esperar
que as populações das diversas espécies fossem
variáveis, e para as que foram estudadas, isso, na realidade, acontece
(textos de ecologia como Odum 1971, e Ricklefs 1979).
A noção de equilíbrio na natureza é uma parte
integrante da cosmologia ocidental tradicional. Mas a ciência não
encontrou tal equilíbrio. De acordo com a Segunda Lei da
Termodinâmica, a energia flui de áreas de maior
concentração para áreas de menor
concentração, e os processos locais seguem este comportamento. Os
organismos vivos podem acumular energia temporariamente, mas com o decorrer do
tempo o que prevalece é a entropia. As diversas formas de vida que
cobrem a Terra têm vindo a acumular energia desde há três
mil milhões de anos, não o podendo fazer indefinidamente. Cedo ou
tarde, a energia acumulada deverá ser libertada. Este é o
contexto bioenergético no qual o Homo Sapiens evoluiu, e que é
determinante tanto para o crescimento selvagem de população
humana, como para o seu colapso iminente.
ENERGIA EM EVOLUÇÃO
Nós estamos sujeitos, enquanto seres orgânicos, ao processo
natural pelo qual a Terra aceita energia do sol para posteriormente a libertar.
Existe vida na Terra há pelo menos 3500 milhões anos e tem
havido, durante este período de tempo, uma evolução clara
e constante no modo como a energia tem sido utilizada. As primitivas formas de
vida podem ter obtido energia através de moléculas
orgânicas que se tenham acumulado no ambiente, mas os autotróficos
fotossintéticos, capazes de processar por fotossíntese a energia
da luz solar, evoluíram rapidamente, tornando possível às
diversas formas de vida escaparem ao seu limitado nicho. A existência de
autotróficos criou um espaço para os heterotróficos, que
processam a energia que foi antes capturada pelos autotróficos.
Não está claro o mecanismo pelo qual se iniciou a
fotossíntese, embora consista numa combinação de dois
sistemas que podem ser encontrados isoladamente em algumas formas de vida ainda
existentes. No entanto as algas azul-verdes que estão entre os
organismos mais antigos documentados por via fóssil, já
utilizavam este processo a duas fases, eventualmente extensivo até
às plantas verdes. Esta é uma sucessão complexa de eventos
que têm um resultado simples. O dióxido de carbono (que havia em
abundância na atmosfera primitiva da terra) reage com a água, por
intermédio da energia proveniente da luz, fixando carbono e libertando
oxigénio, sendo que uma parte dessa energia é retida enquanto o
carbono e o oxigênio permanecerem separados. As plantas libertam esta
energia, em função das necessidades do seu processo
metabólico. (Starr & Taggart, 1987).
Com o decorrer do tempo, a vida na Terra expandiu-se, de forma que,
independentemente do momento que se considere, cada vez mais energia era
armazenada na matéria viva. Assim, a energia adicional, em pequenos
incrementos, proveniente da matéria viva, foi acumulada abaixo da
superfície terrestre em depósitos que se tornaram carvão,
petróleo e gás natural, como também em pedras sedimentares
que contêm cálcio e carbonato de magnésio derivados de
conchas. De todo o carbono que teve um papel no processo da vida, apenas uma
reduzida quantidade foi separada deste modo, mas no decurso de milhões e
milhões de anos, acabou por atingir um montante considerável.
Cada vez mais carbono foi acumulado debaixo do chão, conjuntamente com
um crescimento de oxigênio na atmosfera da terra. Esta
separação de carbono e oxigênio numa atmosfera primitiva,
na qual gás carbónico e água eram abundantes, representa
uma vasta acumulação da energia solar do passado terrestre.
A vida evolui no sentido de explorar todas as possibilidades
disponíveis, e da mesma maneira que os autotróficos desenvolveram
melhores técnicas para capturar e armazenar a energia do sol, os
heterotróficos desenvolveram melhores técnicas para se
aproveitarem disso. A locomoção independente estava adaptada
à procura de nutrientes, embora isso consumisse um pouco mais de
energia, quando comparado com a situação de estar sujeito
à acção dos elementos. Na linha evolutiva, aos peixes de
sangue frio e aos anfíbios seguiram-se as espécies de sangue
quente, que colhem os benefícios de permanecerem activas em ambientes de
mais baixas temperaturas, consumindo ainda mais energia no processo. O
desenvolvimento da predação abriu acesso a uma provisão de
alimento de alta energia com um investimento energético adicional para
obter isso. Ao longo da história da vida, e na medida em que
reservatórios crescentemente densos de energia iam ficando
disponíveis, as espécies que utilizaram quantidades crescentes de
energia, evoluíram (veja Simpson, 1949, pp. 256-57). Este é o
contexto natural do Homo Sapiens, a espécie mais consumidora de energia
que o mundo já conheceu.
O ANIMAL HUMANO
A quantidade de energia utilizada pela humanidade, é uma
consequência da capacidade que tem de adaptação à
sua característica extrasomática. Esta capacidade torna
possível aos seres humanos ajustarem-se a uma grande variedade de
circunstâncias modernas, sem que tenham de esperar, durante o processo
evolutivo, pelo passar de muitas gerações, com o objectivo de
mudar ou adaptar os seus próprios organismos. Uma
comparação entre as formas somáticas e
extrasomáticas de adaptação à vida, mostrará
quão notável uma habilitação deste tipo é
importante, isto é: Se dentes longos e afiados forem adequados a um
predador, animais com dentes que são ligeiramente mais longos e mais
afiados, terão uma ligeira vantagem reprodutiva, de forma que os genes
responsáveis pelo aparecimento de dentes mais longos e mais afiados,
terão maior probabilidade de vingar, e assim, ao longo do tempo, os
dentes de uma população virão a ser, pouco a pouco, mais
longos e mais afiados. Em contraste, um caçador humano pode imaginar uma
ponta da flecha mais longa, mais afiada; ele pode fabricar, facilmente esta
ponta de flecha, com base na sua destreza manual; e se esta for realmente mais
eficiente que as pontas de flecha rombas, que eram as mais utilizadas
até então, os seus semelhantes, adoptarão, desde logo, o
novo modelo. A diferença principal entre os dois meios de
adaptação é a rapidez: A espécie humana pode
adaptar-se, em termos relativos, num reduzido instante de tempo.
A adaptação extrasomática é possível porque
a espécie humana é, na linguagem actual da era do computador,
programável. A adaptação somática, é
semelhante à construção de um computador de
geração antiga para executar melhor uma determinada tarefa, face
a um computador, dessa mesma geração, previamente programado para
esse objectivo. A adaptação extrasomática, equivale
à escrita de um programa novo para executar melhor a tarefa, sem ter que
construir hardware novo. O uso de idiomas, com a sua relação
arbitrária entre sinais e referências, torna possível uma
variedade larga de software diferente.
A programabilidade -- a capacidade para aprender -- não é
exclusiva dos seres humanos, mas eles desenvolveram muito mais essa capacidade
adicional, do que qualquer outra espécie. A programabilidade,
provavelmente, desenvolveu-se como uma resposta evolutiva face à
necessidade de flexibilidade. A capacidade para tirar partido de uma variedade
de recursos diferentes, é uma característica marcante da
espécie humana, sendo que para mamíferos placentários,
esta capacidade surgiu de formas ancestrais da ordem insectívora que
presumivelmente comiam insectos, sementes, rebentos, ovos, e outros animais.
Quando os nossos antepassados hominídeos desceram das árvores
para explorar as savanas africanas, a flexibilidade era novamente vantajosa. O
Homo Habilis e os seus companheiros eram pequenos caçadores furtivos,
que aproveitavam o que podiam das carcaças que sobejavam do repasto dos
leopardos, complementando a sua dieta, com frutas e raízes (veja
Binford, 1981); Eles viveram com base no seu engenho, e a
selecção natural favoreceu o hardware que permitiria um
rápido percurso da inteligência.
A programabilidade -- e a respectiva capacidade para a adaptação
extrasomática -- tornou possível, para os seres humanos,
anteciparem uma longa tendência evolutiva, tornando-a imensamente mais
rápida. A humanidade, constitui o grupo mais recente, do tipo
heterotrófico, que utiliza quantidades crescentes de energia, mas difere
de outras espécies, nessa capacidade para utilizar mais energia sem
recurso a um processo evolutivo, necessariamente longo. No decurso da breve
história da humanidade, maiores quantidades de energia foram
progressivamente utilizadas pelas mesmas espécies biológicas (ver
White, 1949, capítulo 13).
ENERGIA EXTRASOMÁTICA
Algumas inovações humanas determinaram o destino da energia,
canalizado-a através de processos metabólicos. O desenvolvimento
das armas por exemplo, tornou esse processo possível pois possibilitou a
concentração de energia somática para obter alimentos de
alto teor energético e com muita maior eficiência. O homem
tornou-se um caçador. Esta pode ter sido a inovação que
permitiu ao Homo Erectus prosperar e sair do seu berço africano,
prosseguindo o processo até aos trópicos do Velho Mundo (Binford,
1981, pág., 296). Da mesma forma, o uso de roupas proporcionou a
conservação da energia corporal que ajudou a tornar
possível a conquista de regiões mais temperadas.
Mas a inovação mais notável do ser humano foi o uso da
energia extrasomática, em que a energia é produzida para a
realização de fins humanos, mas externos aos corpos de seus
utilizadores. E a fonte mais importante de energia extrasomática, sem
dúvida, é o fogo. O fogo foi usado pelo Homo Erectus no norte da
China há mais de 400 mil anos, e existem evidências claras que
sugerem que possa ter sido usado ainda muito antes disso (Gowlett, 1984, pp.
181-82). Com o uso de fogo, deixou de ser necessário um grande
esforço para rasgar a carne; ela poderia então ser cozinhada
até ficar tenra. O fogo poderia ser usado para escavar um tronco ou
endurecer a ponta de uma vara. O fogo poderia ser utilizado como cobertura numa
acção de defesa e poderia servir para afugentar abelhas. O fogo
poderia manter os animais ferozes à distância.
A exploração da força animal teve um importante papel na
densificação da população, estando por isso na raiz
daquilo a que chamamos hoje de civilização. Os animais puxaram o
arado, transportaram os produtos para comercializar, e forneceram o complemento
enriquecido de proteína a uma dieta de cereais. A força do vento
foi utilizada desde muito cedo para transporte de carga através da
água. Mas o fogo permaneceu a fonte mais importante de energia
extrasomática, e tornou possível o desenvolvimento da
cerâmica e da metalurgia.
Porém, até muito recentemente, não houve nenhuma
inovação significativa na utilização do
combustível usado para fazer fogo. Durante centenas de milhares de anos
o fogo era feito com tecidos de organismos recentemente mortos, principalmente
madeira. O desenvolvimento do carvão aumentou a densidade
energética da madeira sem a tratar, e deu uma contribuição
importante para a metalurgia. Só alguns milénios depois, é
que foi aplicado este mesmo processo de queima em atmosfera redutora ao fabrico
de carvão. Em Inglaterra, desde a conquista normanda que o carvão
tem vindo a ser usado para o aquecimento dos espaços de
habitação, mas o desenvolvimento do carvão e a sua
consequente utilização no fabrico do aço, veio a originar
a revolução industrial. Passado um curto período de
evolução, começaram também a ser explorados o
petróleo e o gás natural, e o Homo Sapiens iniciou a
dissipação dos ricos depósitos de energia orgânica
que haviam sido acumulados desde o surgimento da vida na Terra. Se o lento
crescimento destes depósitos, face à entropia universal, pode ser
comparado ao armazenamento de água a montante de uma represa,
então o aparecimento de espécies capazes de dissiparem aquela
energia, rebentaram com a represa.
ENERGIA E RECURSOS
De acordo com o
American Heritage Dictionary,
recurso é "Uma provisão disponível que pode ser
utilizada quando necessária" e ainda são "Meios que
podem ser usados com vantagem". Por outras palavras, os recursos incluem
todas as coisas encontradas na natureza, e que as pessoas usam para sua
sobrevivência, mas também para qualquer outro propósito.
Trata-se de um conceito muito amplo, tal como é requerido pela natureza
da definição de "animal". Os recursos usados por outros
animais consistem primariamente em alimentos e mais uns quantos materiais tais
como aqueles que são usados na construção dos ninhos. Mas
para o Homo Sapiens, quase tudo pode "ser usado com vantagem".
Para que algo possa ser considerado um recurso, deve estar concentrado ou
organizado de um modo particular, e separado ou separável da sua matriz.
O minério de ferro é considerado um recurso de modo distinto da
terra de jardim, embora ambos contenham ferro. De igual forma, a madeira de um
tronco de carvalho é, de certo modo, um recurso distinto daquele que
é a madeira dos seus ramos.
Usar um recurso significa dispersá-lo. Quando extraímos pedra
calcária de uma pedreira e as utilizamos na construção de
monumentos públicos, ou quando mineramos carvão e o queimamos
para mover turbinas, estamos a usar um recurso concentrado, e seguidamente a
dispersá-lo. Quanto à grande massa contínua de pedra
calcária extraída, depois é pulverizada na forma de
vários blocos discretos dispersos em redor e por diferentes locais; e
quanto ao carvão, depois de uma forma breve, emitir calor e iluminar,
transforma-se numa pequena quantidade de cinza e numa grande quantidade de
gás. Podem ser acumulados e armazenados recursos temporariamente, mas o
seu uso real resulta sempre na sua dispersão.
Os recursos são usados pelas suas propriedades materiais ou pela energia
neles contida. A bauxita é um recurso material, enquanto o
carvão é um recurso energético. Alguns recursos podem ser
usados de qualquer modo; por exemplo, a madeira pode ser usada como um material
de construção ou queimada num fogão de lenha, e pode ser
usado petróleo no fabrico de plásticos ou na
alimentação dos motores de automóveis.
A exploração de qualquer recurso requer um investimento em
energia; consome-se energia na exploração de uma pedreira ou de
um poço de petróleo. A exploração de recursos
energéticos requer que exista um retorno do investimento aplicado; a
menos que a energia que eles libertam seja consideravelmente maior do que a
energia consumida para os explorar, eles não terão um valor
suficiente para serem explorados.
Considera-se que nada é um recurso a menos que possa ser usado; os
recursos são definidos pela tecnologia que torna possível a sua
exploração. Desde sempre que a exploração de um
recurso exigiu o consumo de energia, e a evolução da tecnologia
significa a aplicação de energia num crescente número de
substâncias de forma que elas possam ser "usadas com vantagem".
Desde o curto espaço de tempo em os humanos começaram a viver nas
cidades, tem sido usada cada vez mais energia na exploração de
cada vez mais recursos.
A EXPLOSÃO DA POPULAÇÃO
O custo da energia limitou o desenvolvimento tecnológico até ao
momento em que os combustíveis fósseis começaram a ser
utilizados, ou seja, até há pouco menos de trezentos anos. Os
combustíveis fósseis contêm tanta energia que, mesmo quando
ineficientemente utilizados, possibilitam aos investimentos realizados, obter
importantes lucros. Quando se queima carvão para mover dínamos,
por exemplo, apenas 35% de sua energia é transformada em energia
eléctrica no final da cadeia de transformação
energética (Ross & Steinmeyer, 1990, pág., 89). Apesar desse
baixo rendimento, a quantidade de energia eléctrica correspondente
à energia despendida por uma pessoa num dia de trabalho, e que
corresponde à queima de cerca de 1.000 calorias obtidas através
da alimentação por ela ingerida, pode ser comprada por menos de
dez centavos (Loftness, 1984, pág., 2).
[3]
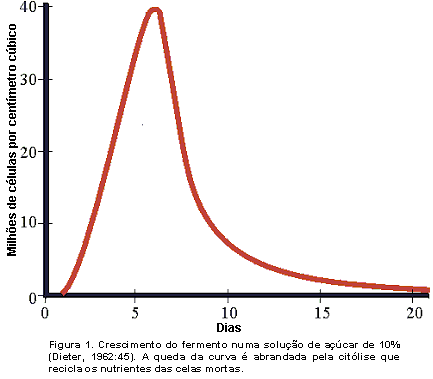 A energia abundante e barata proporcionada pelos combustíveis
fósseis tornou possível para os humanos a
exploração de uma variedade incrível de recursos,
ampliando efectivamente os seus recursos base. Em particular, o desenvolvimento
da agricultura mecanizada permitiu que relativamente poucos agricultores
conseguissem trabalhar vastas áreas de terra, produzindo
abundância de produtos alimentares e tornando possível um
crescimento descontrolado da população.
A energia abundante e barata proporcionada pelos combustíveis
fósseis tornou possível para os humanos a
exploração de uma variedade incrível de recursos,
ampliando efectivamente os seus recursos base. Em particular, o desenvolvimento
da agricultura mecanizada permitiu que relativamente poucos agricultores
conseguissem trabalhar vastas áreas de terra, produzindo
abundância de produtos alimentares e tornando possível um
crescimento descontrolado da população.
Todas as espécies têm tendência a se expandir na medida em
que os recursos, os predadores, os parasitas, e as condições
físicas, permitem essa expansão. Quando uma espécie
é introduzida num novo habitat com recursos abundantes, acumulados antes
de sua chegada, a população expande-se rapidamente até
todos os recursos serem completamente usados. Na produção de
vinho, por exemplo, a população de células do fermento no
sumo de uva fresco cresce exponencialmente até que os nutrientes sejam
esgotados, ou até que, resultantes do processo, se tornem tóxicos
(Figura 1).
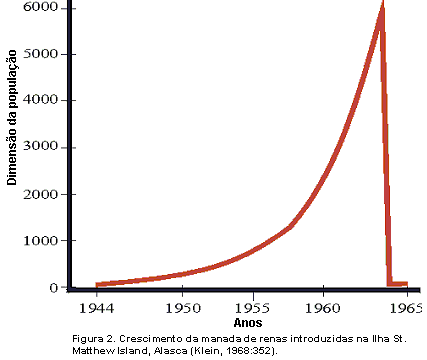 Um exemplo que caracteriza os mamíferos é dado pela rena da Ilha
St. Matthew, no Mar de Bering (o Klein, 1968). Esta ilha teve um tapete de
líquenes de mais de quatro polegadas [10 cm] de espessura, numa
situação em que não existiam renas, até que em 1944
foi introduzida uma manada de 29 animais. Antes de 1957 a
população tinha aumentado para 1.350 animais; e antes das 1963 o
seu número era de 6.000. Mas os líquenes desapareceram
entretanto, e ao longo do inverno seguinte a manada morreu. Com a chegada da
primavera, apenas restavam 41 fêmeas e um macho aparentemente
disfuncional (Figura 2).
[4]
Um exemplo que caracteriza os mamíferos é dado pela rena da Ilha
St. Matthew, no Mar de Bering (o Klein, 1968). Esta ilha teve um tapete de
líquenes de mais de quatro polegadas [10 cm] de espessura, numa
situação em que não existiam renas, até que em 1944
foi introduzida uma manada de 29 animais. Antes de 1957 a
população tinha aumentado para 1.350 animais; e antes das 1963 o
seu número era de 6.000. Mas os líquenes desapareceram
entretanto, e ao longo do inverno seguinte a manada morreu. Com a chegada da
primavera, apenas restavam 41 fêmeas e um macho aparentemente
disfuncional (Figura 2).
[4]
O uso da energia extrasomática, e especialmente a energia dos
combustíveis fósseis, tornou possível aos humanos
explorarem uma riqueza de recursos que fora acumulada antes da sua
evolução. Esta situação teve como resultado o
crescimento da população típico das espécies
introduzidas (Figura 3).
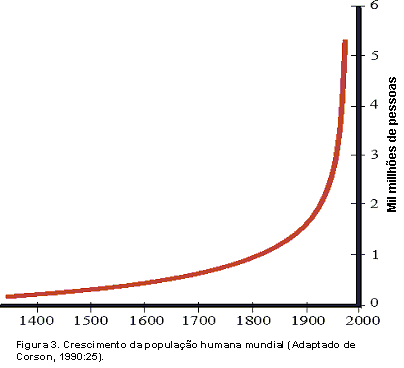 Por volta de 8.000 AC, a população mundial seria cerca de cinco
milhões. Pela altura do tempo de Cristo, era de 200 a 300
milhões. Antes de 1650, era de 500 milhões, e antes de 1800 era
mil milhões. A população mundial atingiu os dois mil
milhões em 1930. No início dos anos sessenta era de três
mil milhões; em 1975 era quatro mil milhões; e apenas onze anos
depois já era cinco mil milhões (McEvedy & Jones, 1978,; Ehrlich
& Ehrlich, 1990, pp. 52-55). Esta evolução não pode
continuar indefinidamente; o colapso é inevitável. A única
pergunta é quando.
Por volta de 8.000 AC, a população mundial seria cerca de cinco
milhões. Pela altura do tempo de Cristo, era de 200 a 300
milhões. Antes de 1650, era de 500 milhões, e antes de 1800 era
mil milhões. A população mundial atingiu os dois mil
milhões em 1930. No início dos anos sessenta era de três
mil milhões; em 1975 era quatro mil milhões; e apenas onze anos
depois já era cinco mil milhões (McEvedy & Jones, 1978,; Ehrlich
& Ehrlich, 1990, pp. 52-55). Esta evolução não pode
continuar indefinidamente; o colapso é inevitável. A única
pergunta é quando.
O ABASTECIMENTO ENERGÉTICO
Hoje, a energia extrasomática usada pelas pessoas por todo o mundo
representa o trabalho de cerca de 280 mil milhões de homens. Ou seja,
é como se cada homem, cada mulher, e cada criança em todo o mundo
tivessem 50 escravos. Numa sociedade tecnológica, como os Estados
Unidos, cada pessoa tem mais de 200 desses tais "escravos fantasma".
[5]
A maior parte desta energia provém dos combustíveis
fósseis que satisfazem quase 75% das necessidades energéticas
mundiais (ver nota 5). Mas os combustíveis fósseis estão a
ser esgotados cem mil vezes mais rapidamente do que estão a ser formados
(Davis, 1990, pág., 56). Às taxas actuais de consumo, as reservas
conhecidas de petróleo terão desaparecido em cerca de 35 anos; o
gás natural em 52 anos; e o carvão em uns 200 anos, PRIMED, 1990,
pág., 145).
[6]
 Não é de supor que as reservas adicionais, a serem ainda
descobertas, venham a alterar significativamente esta situação.
Recentes avanços nas ciências geológicas permitiram
incrementar a fiabilidade dos diagnósticos de localização
de hidrocarbonetos fósseis, e a superfície da Terra tem sido
analisada com grande detalhe utilizando a informação recolhida
dos satélites em órbita. Estes números são no
entanto optimistas porque a procura de energia não permanecerá
às taxas actuais; espera-se que cresça a um ritmo acelerado.
Quanto mais concentrado estiver um recurso, tanto menos energia se consome na
sua utilização; e quanto menos concentrado estiver um recurso,
tanto mais energia se consome na sua utilização. Por conseguinte,
os depósitos mais ricos de qualquer recurso são os primeiros a
serem usados, sendo a seguir explorados os depósitos crescentemente
menos concentrados, mas a um custo cada vez mais elevado. Quando um
minério de alto teor vai desaparecendo, vai sendo necessária cada
vez mais energia para minerar e refinar os minérios de baixo teor.
Quando vai desaparecendo a madeira antiga, será necessário cada
vez mais energia para fazer madeira e papel de árvores mais pequenas.
Quando os recursos piscatórios mundiais vão desaparecendo,
será necessário cada vez mais energia para encontrar e pescar o
peixe restante. E quando a camada superior da terra mundial é perdida
— a uma taxa de 75 mil milhões de toneladas por ano (Myers, 1993,
pág., 37) — será necessário cada vez mais energia
para compensar a fertilidade diminuída, da terra agrícola
remanescente.
Não é de supor que as reservas adicionais, a serem ainda
descobertas, venham a alterar significativamente esta situação.
Recentes avanços nas ciências geológicas permitiram
incrementar a fiabilidade dos diagnósticos de localização
de hidrocarbonetos fósseis, e a superfície da Terra tem sido
analisada com grande detalhe utilizando a informação recolhida
dos satélites em órbita. Estes números são no
entanto optimistas porque a procura de energia não permanecerá
às taxas actuais; espera-se que cresça a um ritmo acelerado.
Quanto mais concentrado estiver um recurso, tanto menos energia se consome na
sua utilização; e quanto menos concentrado estiver um recurso,
tanto mais energia se consome na sua utilização. Por conseguinte,
os depósitos mais ricos de qualquer recurso são os primeiros a
serem usados, sendo a seguir explorados os depósitos crescentemente
menos concentrados, mas a um custo cada vez mais elevado. Quando um
minério de alto teor vai desaparecendo, vai sendo necessária cada
vez mais energia para minerar e refinar os minérios de baixo teor.
Quando vai desaparecendo a madeira antiga, será necessário cada
vez mais energia para fazer madeira e papel de árvores mais pequenas.
Quando os recursos piscatórios mundiais vão desaparecendo,
será necessário cada vez mais energia para encontrar e pescar o
peixe restante. E quando a camada superior da terra mundial é perdida
— a uma taxa de 75 mil milhões de toneladas por ano (Myers, 1993,
pág., 37) — será necessário cada vez mais energia
para compensar a fertilidade diminuída, da terra agrícola
remanescente.
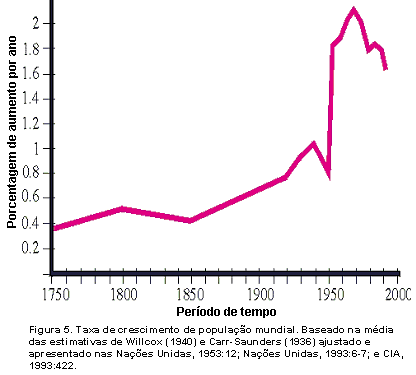 O sistema que sustenta a população mundial já está
sob stress. O crescimento per capita do consumo de energia, que tem estado a
aumentar continuamente desde o advento dos combustíveis fósseis,
começou a desacelerar há cerca de 20 anos atrás — e o
aumento crescente dessa desaceleração desde então, sugere
que não haverá nenhum crescimento por volta do ano 2000
(Figura 4). A agricultura está em dificuldade; utiliza-se cada vez mais
fertilizante para compensar a terra arável perdida (Ehrlich & Ehrlich,
1990, pág., 92), sendo que quase um quinto da população
mundial é subnutrida (Corson, 1990, pág., 68). Na realidade, a
taxa de crescimento da população humana da terra já
começou a decrescer (Figura 5).
O sistema que sustenta a população mundial já está
sob stress. O crescimento per capita do consumo de energia, que tem estado a
aumentar continuamente desde o advento dos combustíveis fósseis,
começou a desacelerar há cerca de 20 anos atrás — e o
aumento crescente dessa desaceleração desde então, sugere
que não haverá nenhum crescimento por volta do ano 2000
(Figura 4). A agricultura está em dificuldade; utiliza-se cada vez mais
fertilizante para compensar a terra arável perdida (Ehrlich & Ehrlich,
1990, pág., 92), sendo que quase um quinto da população
mundial é subnutrida (Corson, 1990, pág., 68). Na realidade, a
taxa de crescimento da população humana da terra já
começou a decrescer (Figura 5).
As pessoas que acreditam que uma população estável pode
viver em equilíbrio com a capacidade produtiva do ambiente, devem
considerar que a desaceleração do crescimento de
população e do consumo de energia não senão uma
evidência de se estar num processo de tendência para um
equilíbrio. Mas quando se compreende o processo que foi
responsável pelo crescimento da população, torna-se claro
que o fim do crescimento representa o início do colapso. A
população humana cresceu exponencialmente esgotando os limitados
recursos, tal qual como o fermento num barril ou como as renas na Ilha St.
Matthew, e, sendo assim, prevê-se um destino semelhante.
FALSAS ESPERANÇAS
Para a substituição dos combustíveis fósseis, e na
medida em que vão escasseando, qualquer fonte de energia alternativa
deverá ter como requisitos ser barata e abundante, e que a tecnologia
para a sua exploração esteja completamente desenvolvida e capaz
de ser utilizada em todo o mundo, de modo que fosse possível uma
mudança de fonte energética num espaço de tempo bastante
curto. Nenhuma fonte de energia conhecida satisfaz estas exigências.
A segunda fonte de energia mais importante dos dias de hoje, depois dos
combustíveis fósseis, é a conversão de biomassa. No
entanto a queima de toda a madeira do mundo, de todo o etanol que se possa
acrescentar à gasolina, e de todos os desperdícios
agrícolas utilizados como combustível, só representam 15%
da energia consumida mundialmente (WRI/IIED, 1988, pág., 111). Com a
agravante de que a conversão de biomassa tem pouco potencial de
crescimento, uma vez que compete por terra fértil com as colheitas de
produtos alimentares e com a produção de madeira.
A produção hidráulica fornece actualmente cerca de 5,5% de
toda a energia consumida.
[ver nota 5]
O seu potencial poderá ser até cinco vezes mais (Weinberg &
Williams, 1990, pág., 147), mas isso não é suficiente para
substituir os combustíveis fósseis, e por outro lado as grandes
barragens submergiriam terras agrícolas férteis.
A produção de energia eléctrica através da
cisão
(fission)
nuclear tem vindo a aumentar, mas este tipo de energia ainda só
representa cerca de 5,2% de toda a energia que o mundo necessita
[ver nota 5]
. Os reactores de cisão nuclear poderiam ter uma cota parte bastante
maior, especialmente se fossem utilizados
reactores reprodutores rápidos (fast-breeder)
[7]
No entanto qualquer um com um reactor reprodutor rápido pode fabricar
armas nucleares, pelo que existe uma considerável pressão
política para impedir a sua proliferação. A
confiança pública em todos os tipos de reactores é baixa,
e o seu custo de construção é alto. Estes constrangimentos
sociais tornam improvável a contribuição da cisão
nuclear para a satisfação das necessidades energéticas
mundiais que aumentarão quinze vezes nos próximos anos.
A fusão termonuclear controlada é uma solução
atractiva para a resolução dos problemas de energia mundiais,
pois o "combustível" a usar é o deutério que
pode ser extraído da água dos oceanos. A energia de um por cento
do deutério nos oceanos de todo o mundo seria aproximadamente 500 mil
vezes superior a toda a energia disponível nos combustíveis
fósseis. Mas a fusão controlada é ainda experimental, a
tecnologia para sua comercialização não tem contudo sido
desenvolvida, e a primeira unidade não estará operacional antes
de 2040 (Browne, 1993, pág., C12).
Os visionários apoiam o potencial do vento, das ondas, das marés,
da conversão da energia térmica dos oceanos, e das fontes
geotérmicas. Todos estes tipos de aproveitamento energético
poderiam fornecer uma porção da energia em determinadas
localidades, mas nenhum pode fornecer 75% das necessidades energéticas
mundiais. Os sistemas de colectores térmicos solares só
são viáveis em lugares quentes e solarengos, e os
fotovoltáicos são demasiado ineficientes para suplantar a energia
barata disponível dos combustíveis fósseis.
Enquanto não existir uma fonte de energia capaz de tomar o lugar dos
combustíveis fósseis, a sua disponibilidade diminuída
poderá ser compensada através de um regime de
conservação de energia combinada com uma utilização
de fontes de energia alternativas. Porém isto não
resolverá o problema. Enquanto a população continuar a
crescer, é fútil pensar na conservação da energia;
com a taxa de crescimento actual (1,6% por ano), uma redução de
25% de consumo dos recursos energéticos, seria anulada em apenas dezoito
anos. Por outro lado, qualquer utilização combinada de fontes de
energia alternativas que permita continuar o crescimento da
população só pode adiar o dia do ajuste de contas.
OS MECANISMOS DO COLAPSO
Os mecanismos operativos do colapso da população humana
serão a fome, o conflito social, e a doença. Estes desastres
principais foram reconhecidos muito antes de Malthus e foram representados na
cultura ocidental como os cavaleiros do apocalipse
[8]
. Eles são a consequência da escassez de recursos e da densidade
populacional.
A fome será o resultado directo da diminuição dos recursos
energéticos. A densa população de hoje está
dependente da agricultura mecanizada e do transporte eficiente para o
aprovisionamento dos seus bens alimentares. A energia é usada desde a
produção, passando pela operação dos equipamentos
agrícolas, e pelo transporte dos bens alimentares, até à
sua comercialização final. Na medida em que vão sendo
usados recursos energéticos menos eficientes, os bens alimentares
tornam-se mais dispendiosos, e o círculo de consumidores privilegiados
para os quais um fornecimento adequado irá estar disponível
continuará a diminuir.
O conflito social é outra consequência do custo crescente da
energia. Tudo o que as pessoas querem necessita de energia para as produzir, e
quando a energia ficar mais cara, menos pessoas terão acesso aos bens
que desejam. Quando os bens são abundantes, mas particularmente quando
aumenta a capacidade individual de acesso aos bens, as tensões sociais
são contidas: As populações etnicamente diversas sentem
frequentemente que isso é a base para viver em harmonia, os governos
nessa altura podem até ser ineficazes, podem reduzir a capacidade de
reacção, sendo necessário dispender pouco esforço
para manter a tranquilidade doméstica. Mas quando os bens se tornam
escassos, e especialmente quando o acesso individual aos bens diminui
continuamente, as tensões étnicas aparecem, os governos tornam-se
autoritários, e os bens são adquiridos, cada vez mais, por meios
criminosos.
Uma escassez de recursos também incapacita os sistemas de saúde
pública, pois a concentração da população
leva a uma proliferação de doenças contagiosas. O
desenvolvimento de grandes densidades populacionais ao longo de história
humana levou ao surgimento de doenças contagiosas que evoluíram
para as dizimar. A varíola e o sarampo eram aparentemente desconhecidos
até ao segundo e terceiros séculos DC, quando estas
doenças devastaram a população da bacia mediterrânea
(McNeill, 1976, pág., 105). No século XIV, uma grande
concentração populacional na Europa e na China proporcionou um
nicho hospitaleiro para a Peste Negra. Hoje, com uma população
extremamente densa e com todas as partes do mundo ligadas através das
viagens aéreas, novas doenças como SIDA difundiram-se
rapidamente, e um vírus tão mortal quanto este, mas ainda mais
facilmente transmissível, poderia aparecer a qualquer momento.
A fome, os conflitos sociais e a doença interagem de formas complexas.
Se a escassez fosse o único mecanismo do colapso, as espécies
poderiam ser extintas de modo bastante súbito. Uma
população que cresce em resultado de recursos abundantes mas
finitos, como é o caso da rena da Ilha de St. Matthew, tende a esgotar
esses recursos completamente. Até que os indivíduos descubram
que os recursos restantes não serão adequados para a
próxima geração, a próxima geração
já nasceu. E, na sua luta pela sobrevivência, a última
geração consumirá até a última
porção, de forma que nada restará que possa sustentar nem
mesmo uma pequena população. Mas a escassez raramente actua
só. Ela é exacerbada pelos conflitos sociais que interferem com
a produção e distribuição dos bens alimentares, e
que por sua vez debilitam as defesas naturais através das quais os
organismos lutam para fugir à doença.
Paradoxalmente, a doença pode agir para poupar recursos. Por exemplo, se
uma nova epidemia reduzir a população humana a um pequeno
número de pessoas que foram resistentes a essa doença, antes de
todos os recursos mundiais serem severamente esgotados, então as
espécies podem ser capazes de sobreviver mais algum tempo.
APÓS A QUEDA
Mas mesmo que umas poucas pessoas consigam sobreviver ao colapso da
população mundial, a civilização não
conseguirá. A complexa associação das
características culturais, das quais os humanos modernos são
tão orgulhosos, é uma consequência da abundância de
recursos, e não pode sobreviver muito tempo ao seu esgotamento.
Como civilização entende-se, numa deriva da sua
definição, o hábito de viver em aglomerados densos, que
surgem na medida do crescimento da população e em resposta
à existência de recursos abundantes. Muitas coisas parecem fluir
normalmente quando as pessoas vivem nas cidades, ou noutro qualquer lugar que
se considere civilizado, o que significa a existência de um sistema
político consolidado, de uma especialização
económica, de uma estratificação social, de algum tipo de
arquitectura monumental, e um florescimento de esforços
artísticos e intelectuais (Childe, 1951).
Casos localizados de tal elaboração cultural sempre estiveram
associados ao rápido crescimento populacional. As razões para a
abundância de recursos que proporcionaram este crescimento variam de caso
para caso. Em alguns exemplos, sucedeu que uma população se
deslocou para uma nova região ainda com recursos por explorar; noutros
casos deu-se o desenvolvimento ou a adopção de novas culturas
agrícolas, de novas tecnologias, ou de novas estratégias sociais
destinadas ao aumento da produção. Mas os sumérios, os
gregos, os romanos, o maias, e até mesmo os habitantes da Ilha da
Páscoa, todos eles experimentaram uma onda de actividade criativa
à medida em que as suas populações cresciam rapidamente.
E em todos os casos esta fase criativa, alimentada pela mesma abundância
que promoveu o crescimento da população, acabou por terminar
quando o crescimento cessou. Não há necessidade de procurar
razões esotéricas para o declínio da Grécia ou a
queda de Roma; em ambos os casos, o crescimento de população
esgotou os recursos que haviam proporcionado tudo isto. Depois da Idade de
Ouro a população da Grécia recuou continuamente durante
mais de mil anos, de 3 milhões para aproximadamente 800 mil pessoas. A
população do Império Romano caiu de 45 ou 46
milhões, no seu apogeu, para cerca de 39 milhões por volta do ano
600 DC, e a da parte europeia do império foi reduzida em 25% (McEvedy &
Jones, 1978).
Mesmo se a população mundial pudesse ser mantida constante, em
equilíbrio com os recursos "renováveis", o impulso
criativo, que foi responsável pelas realizações humanas
durante o período de crescimento, chegaria a um fim. E do rápido
colapso, que é o mais provável que aconteça,
restará no melhor dos casos um punhado de sobreviventes. Estas pessoas
poderiam sobreviver, durante algum tempo, sustentando-se dos destroços
de civilização, mas logo se aperceberiam de que teriam de mudar
para um tipo de vida mais simples, tal como no passado aconteceu aos
caçadores e agricultores das comunidades de subsistência. Eles
não teriam recursos para construir grandes obras públicas ou
avançar a investigação científica. Eles não
poderiam deixar alguns indivíduos permanecerem improdutivos, a escrever
romances ou compor sinfonias. Depois de algumas gerações eles
poderiam mesmo vir a acreditar que os escombros entre os quais viviam seriam os
restos de cidades construídas por deuses.
Ou pode-se demonstrar impossível, mesmo para uns poucos sobreviventes,
subsistirem com os escassos recursos deixados na esteira de
civilização. As crianças das sociedades altamente
tecnológicas, nas quais cada vez mais por esse mundo afora as pessoas se
inserem, não saberiam como subsistir por si mesmas através da
caça e da agricultura de subsistência. Além disso, a
riqueza representada pelos animais selvagens, que já foram o suporte das
sociedades de caçadores, teriam desaparecido, e a camada superior da
terra
(topsoil)
destruída pelos tractores teria um fraco rendimento com a
utilização da enxada. As espécies que se tornaram
dependentes de tecnologias complexas para mediar sua relação com
o ambiente podem não sobreviver muito tempo à perda dessa
tecnologia.
NA ESCURIDÃO
Para Malthus, o desequilíbrio entre o crescimento da
população e os meios de subsistência poderia ser corrigido
de vez em quando através de desastres naturais, mas a espécie
humana poderia, em princípio, sobreviver indefinidamente. Malthus
não sabia que o universo era governado pela Segunda Lei da
Termodinâmica; não entendia a dinâmica populacional de
espécies introduzidas; e não percebeu que os humanos, tendo
evoluído para além dos recursos base aos quais agora recorrem,
são efectivamente uma espécie introduzida no seu próprio
planeta.
A curta estadia da espécie humana na Terra marca um momento decisivo na
história da vida deste planeta. Antes do aparecimento do Homo Sapiens,
ocorria a retenção da energia mais rapidamente do que a sua
dissipação. Então deu-se a evolução dos
seres humanos e, com a sua capacidade para dissipar muito da energia que fora
armazenada, reestabeleceram parcialmente o equilíbrio energético
do planeta. A evolução de espécies como o Homo Sapiens
será provavelmente uma parte integrante do processo da vida, que pode
acontecer em qualquer lugar no universo. Com o desenvolvimento da vida, os
organismos autotróficos expandem-se criando assim um lugar para os
organismos heterotróficos. Se a energia orgânica for armazenada em
quantidades significativas, ligada a processos geológicos que levem a
isso, então o aparecimento de uma espécie que possa libertar essa
energia, será um elemento perturbador. Tal espécie, evoluiu ao
serviço da entropia, e rapidamente recolocará o seu planeta num
baixo nível energético. Num instante da evolução, a
espécie explode e desaparece.
Se a passagem do Homo Sapiens pela fase de evolução alterar
significativamente a atmosfera da Terra, então pode-se dar virtualmente
a extinção rápida de todos os seres. Mas mesmo que isto
não aconteça, a ascensão e a queda do Homo Sapiens
eliminará muitas das espécies. Foi estimado que estão a
ser extintas a uma taxa de 17.500 espécies por ano (Wilson, 1988,
pág., 13), e nos próximos vinte e cinco anos podem ser extintas
um quarto das espécies existentes em todo o mundo (Raven, 1988,
pág., 121).
Trata-se de uma redução radical da diversidade biológica,
embora a vida tenha sobrevivido a outros cataclismos, como o grande colapso no
final do Permiano (último período da era Paleozóica).
Porém, é improvável que qualquer coisa que se
pareça bastante com o ser humano possa aparecer de novo. Os recursos que
fizeram dos humanos aquilo que são actualmente, desaparecerão, e
provavelmente não haverá tempo para que o sol possa repor novos
depósitos de combustíveis fósseis de forma a ser
possível o surgimento de novos seres inteligentes e carnívoros
para evoluir. O universo parece ter tido um começo sem igual, uns dez ou
vinte mil milhões de anos atrás (Hawking, 1988, pág.,
108). Desde aquele tempo que uma estrela teve que viver e morrer para fornecer
os materiais para o sistema solar -- o qual tem vários milhares de
milhões de anos. Talvez a vida não pudesse ter acontecido mais
cedo. Talvez o Homo Sapiens não pudesse evoluir mais cedo. Ou mais
tarde. Talvez tudo tenha o seu próprio tempo, uma janela de oportunidade
que se abre durante algum tempo, e que depois se fecha.
AGRADECIMENTOS
Quero agradecer o conselho e o encorajamento de Virgínia Abernethy,
Thomas Eisner, Paul W. Friedrich, Warren M. Hern, David Pimentel, Roy A.
Rappaport, Peter H. Raven, e Carl Sagan que fizeram a revisão
prévia deste documento.
NOTAS
(1) Na versão do seu ensaio de 1798, Malthus propõe que a
população cresce geometricamente enquanto os produtos de
subsistência crescem aritmeticamente. Em edições
posteriores, ele propunha que o crescimento aritmético seria a
hipótese possível mais optimista; ele estava bem informado para
prever a actual diminuição de disponibilidade de terras
férteis.
(2) A distinção entre "não renovável" e
"renovável" é arbitrária. O petróleo
é considerado não renovável, porque quando usado,
desaparece; enquanto a luz solar é considerada renovável, porque
a sua energia pode ser usada hoje e o sol brilhará de novo amanhã.
Mas se considerarmos um tempo suficiente, as florestas de hoje poderiam
transformar-se no petróleo de amanhã, e num um instante
astronómico de tempo, o próprio sol esgotar-se-á.
Só em termos de tempo humano é que se pode dizer que se trata de
um recurso energético renovável; e mesmo assim não
é claro como se deveria medir o tempo humano. A madeira é
considerada frequentemente como sendo um recurso renovável, porque se
uma árvore é cortada, outra crescerá em seu lugar. Mas se
uma árvore é retirada da montanha em vez de a deixar apodrecer
lá, os nutrientes que nutririam a sua sucessora não vão
estar disponíveis. Se a madeira for continuamente removida, a
fertilidade da floresta diminui, e dentro de alguns gerações
humanas a floresta desaparecerá.
(3) Loftness na verdade diz seis centavos. Mudei este valor para dez
centavos como correcção da inflação.
(4) Quando os recursos explorados por uma espécie introduzida
são organismos vivos, estes podem-se reproduzir -- e podem eventualmente
evoluir no sentido de criar mecanismos de defesa que proporcionem um
equilíbrio entre o predador e a presa (ver Pimentel, 1988).
Porém, a camada arável, os minerais, e os combustíveis
fósseis explorados pelos seres humanos não têm esta
capacidade. Eles parecem-se mais com a quantia finita de açúcar
num barril ou com os líquenes abundantes mas de lento crescimento na
Ilha St. Matthew.
(5) A produção mundial de energia resultante de
combustíveis fósseis em 1992 era 302.81 x 1015 BTU, enquanto a
energia produzida por reactores nucleares era 21.23 x 1015 BTU, e a produzida
por fontes hidroeléctricas era 22.29 x 1015 BTU (Energy Information
Administration, 1993:269). Estima-se que a biomassa represente aproximadamente
15% da energia extrasomática mundial (WRI/IIED, 1988:111). As restantes
fontes de energia dão apenas uma contribuição
secundária (Corson, 1990:197). Assim, a energia extrasomática
total usada mundialmente deve estar na ordem de 407.45 x 1015 BTU por ano. A
população mundial é cerca de 5.555 mil milhões (a
CIA, 1993:422). A energia despendida por um indivíduo durante um dia de
trabalho considera-se ser 4.000 BTU (Loftness 1984:2, 756). O consumo de
energia nos Estados Unidos é cerca de 82.36 X 1015 BTU (Energy
Information Administration, 1993:5). A população norte-americana
é de 258 milhões (a CIA, 1993:404).
[NT: 1000 BTU = 0,293 kWh]
(6) Estas são as reservas conhecidas em 1988, de acordo com a taxa de
consumo de 1988. Subtraí seis anos aos valores citados para estar de
acordo com o tempo já decorrido.
(7) Loftness (1984:48) menciona a mesma quantidade de urânio, usado num
reactor reprodutor rápido, produzirá 60 vezes a energia de um
reactor da água-leve. Hafele (1990:142) diz que serão 100 vezes
no máximo.
(8) De acordo com uma interpretação tradicional, os quatro
cavalos representam a guerra, a escassez, a peste, e o Cristo retornado. O
texto original (Revelações 6:2-8) não está contudo
muito claro.
(NT1) Podemos distinguir dois tipos de desenvolvimento da vida: a que depende,
da absorção "directa" da energia disponível,
cuja principal fonte reside na radiação solar, sendo neste
sentido auto-sustentável (autotróficos) e, por outro lado, da que
depende da anterior para o seu próprio desenvolvimento, apresentando por
isso, características de dependência energética
(heterotroficos).
REFERENCIAS
Binford, Lewis R. (1981). Bones: Ancient men and modern myths. New York:
Academic Press,
Brain, C. K. (1981). The hunters or the hunted? An introduction to African cave
taphonomy. Chicago: The University of Chicago Press.
Browne, Malcolm W. (1993). Reactor passes point of no return in uphill path to
fusion energy. New York Times, Dec. 7, 1993, pp. C1 & C12.
Central intelligence Agency (CIA). (1993). The World Factbook 1993. Washington,
DC: Central Intelligence Agency.
Childe, V. Gordon. (1951). Social evolution. London: Watts.
Corson, Walter H., (Ed.). (1990). The global ecology handbook: What you can do
about the environmental crisis. Boston: Beacon Press.
Davis, Ged R. (1990). Energy for planet earth. Scientific American 263(3),
55-62.
Dieter, Georg. (1962). Biologische Strukturen und ihre Ver5nderungen in Raum
und Zeit, dargestellt an der Kinetik von Vermehrung, Sterben und Zytolyse bei
Saccharomyces cerevisiae. Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades bei der
Landwirtschaftlichen Fakultat der Justus Leibig-Universitat. Fotodruck:
Mikrokopie G.m.b.H. Monchen 2, Weinstr. 4.
Dorf, Richard C. (1981). The energy fact book. New York: McGraw-Hill,
Energy Information Administration. (1993). Annual energy review 1992. Report
no. DOE/ EIA-0384(92). Washington, DC: U.S. Department of Energy.
Ehrlich, Paul R., & Ehrlich, Anne H. (1990). The Population explosion. New
York: Simon and Schuster.
Gowlett, John A. 1. (1984). Mental abilities of early man: A look at some hard
evidence. in R. Foley (Ed.). Hominid evolution and community ecology, pp.
167-92. London: Academic Press.
Hafele, Wolf. (1990). Energy from nuclear power. Scientific American 263(3),
137-44,
Hawking, Stephen. (1988). A brief history of time: From the Big Bang to black
holes. New York: Bantam,
Klein, David R. (1968). The introduction, increase, and crash of reindeer on
St. Matthew Island. Journal of Wildlife Management 32(2), 350-67.
Loftness, Robert L. (1984). Energy handbook, 2nd ed. New York: Van Nostrand
Reinhold.
Malthus, Thomas Robert. (1986 [1826]). An essay on the principle of population.
The Works of Thomas Robert Malthus, Ed. E. A. Wrigley and D. Souden, vol. 2 and
3. London: William Pickering.
McEvedy, Colin, & Jones, Richard (1978). Atlas of world population history. New
York: Penguin.
McNeill, William H. (1 976). Plagues and peoples. Garden City, NY: Anchor Press.
Myers, Norman (Ed.). (1993). Gaia: An atlas of planet management, rev. ed.
Garden City, NY: Anchor/Doubleday.
Odum, Eugene P. (1971). Fundamentals of ecology. 3rd ed. Philadelphia: W. B.
Saunders Company.
Pimentel, D. (1988). Herbivore population feeding pressure on plant hosts:
Feedback evolution and host conservation. Oikos 53(3), 289-302.
Raven, Peter H. (1988). Our diminishing tropical forests. 1988. In E. 0. Wilson
(Ed.). Biodiversity, pp. 119-21. Washington: National Academy Press.
Ricklefs, Robert E. (1979). Ecology. 2nd ed. New York: Chiron Press.
Ross, Marc H., & Steinmeyer, Daniel (1990). Energy for industry. Scientific
American 263(3), 89-98.
Simpson, George Gaylord. (1949). The meaning of evolution. New Haven, CT: Yale
University Press.
Starr, Cecie, & Taggart, Ralph (1987). Biology: The unity and diversity of
life, 4th ed. Belmont, CA: Wadsworth.
United Nations. (1952-91). Energy statistics yearbook, New York: United Nations
(E/F.93.XVII.5).
_. (1953). The determinants and consequences of population trends. New York:
United Nations (5T/SOA/Ser.A/I 7).
_. (1993). World population prospects: The 1992 revision. New York: United
Nations (ST/ESA/SER.A/135).
Weinberg, Carl J., & Williams, Robert H.. (1990). Energy from the sun.
Scientific American 263(3), 147-55.
White, Leslie A.. (1949). The science of culture: A study of man and
civilization. New York: Farrar, Strauss and Giroux.
Wilson, E. O. (1988). The current state of biological diversity. In E. O.
Wilson (Ed.). Biodiversity, pp. 3-18. Washington, DC: National Academy Press.
World Resources Institute and International Institute for Environment and
Development (WRI/IIED). (1988). World Resources 1988-89. New York: Basic Books.
_. (1990). World Resources 1990-91. New York: Oxford University Press.
[*]
Da Universidade Cornell, EUA.
Publicado originalmente em
"Population and Environment: A Journal of
Interdisciplinary Studies",
Volume 16, Number 4, March 1995, pp. 301-19.
Transcrito em
http://dieoff.org/page137.htm
e em
http://www.energybulletin.net/3917.html
.
Tradução de MJS.
Este ensaio encontra-se em
http://resistir.info/
.
|
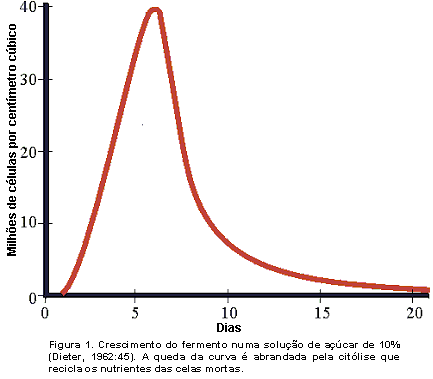 A energia abundante e barata proporcionada pelos combustíveis
fósseis tornou possível para os humanos a
exploração de uma variedade incrível de recursos,
ampliando efectivamente os seus recursos base. Em particular, o desenvolvimento
da agricultura mecanizada permitiu que relativamente poucos agricultores
conseguissem trabalhar vastas áreas de terra, produzindo
abundância de produtos alimentares e tornando possível um
crescimento descontrolado da população.
A energia abundante e barata proporcionada pelos combustíveis
fósseis tornou possível para os humanos a
exploração de uma variedade incrível de recursos,
ampliando efectivamente os seus recursos base. Em particular, o desenvolvimento
da agricultura mecanizada permitiu que relativamente poucos agricultores
conseguissem trabalhar vastas áreas de terra, produzindo
abundância de produtos alimentares e tornando possível um
crescimento descontrolado da população.
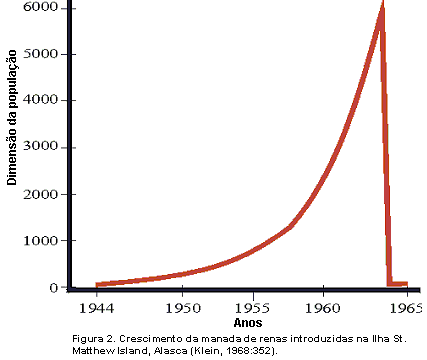 Um exemplo que caracteriza os mamíferos é dado pela rena da Ilha
St. Matthew, no Mar de Bering (o Klein, 1968). Esta ilha teve um tapete de
líquenes de mais de quatro polegadas [10 cm] de espessura, numa
situação em que não existiam renas, até que em 1944
foi introduzida uma manada de 29 animais. Antes de 1957 a
população tinha aumentado para 1.350 animais; e antes das 1963 o
seu número era de 6.000. Mas os líquenes desapareceram
entretanto, e ao longo do inverno seguinte a manada morreu. Com a chegada da
primavera, apenas restavam 41 fêmeas e um macho aparentemente
disfuncional (Figura 2).
Um exemplo que caracteriza os mamíferos é dado pela rena da Ilha
St. Matthew, no Mar de Bering (o Klein, 1968). Esta ilha teve um tapete de
líquenes de mais de quatro polegadas [10 cm] de espessura, numa
situação em que não existiam renas, até que em 1944
foi introduzida uma manada de 29 animais. Antes de 1957 a
população tinha aumentado para 1.350 animais; e antes das 1963 o
seu número era de 6.000. Mas os líquenes desapareceram
entretanto, e ao longo do inverno seguinte a manada morreu. Com a chegada da
primavera, apenas restavam 41 fêmeas e um macho aparentemente
disfuncional (Figura 2).
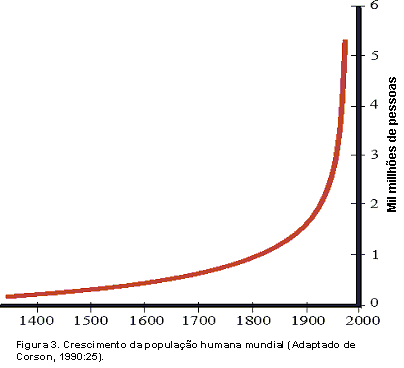 Por volta de 8.000 AC, a população mundial seria cerca de cinco
milhões. Pela altura do tempo de Cristo, era de 200 a 300
milhões. Antes de 1650, era de 500 milhões, e antes de 1800 era
mil milhões. A população mundial atingiu os dois mil
milhões em 1930. No início dos anos sessenta era de três
mil milhões; em 1975 era quatro mil milhões; e apenas onze anos
depois já era cinco mil milhões (McEvedy & Jones, 1978,; Ehrlich
& Ehrlich, 1990, pp. 52-55). Esta evolução não pode
continuar indefinidamente; o colapso é inevitável. A única
pergunta é quando.
Por volta de 8.000 AC, a população mundial seria cerca de cinco
milhões. Pela altura do tempo de Cristo, era de 200 a 300
milhões. Antes de 1650, era de 500 milhões, e antes de 1800 era
mil milhões. A população mundial atingiu os dois mil
milhões em 1930. No início dos anos sessenta era de três
mil milhões; em 1975 era quatro mil milhões; e apenas onze anos
depois já era cinco mil milhões (McEvedy & Jones, 1978,; Ehrlich
& Ehrlich, 1990, pp. 52-55). Esta evolução não pode
continuar indefinidamente; o colapso é inevitável. A única
pergunta é quando.
 Não é de supor que as reservas adicionais, a serem ainda
descobertas, venham a alterar significativamente esta situação.
Recentes avanços nas ciências geológicas permitiram
incrementar a fiabilidade dos diagnósticos de localização
de hidrocarbonetos fósseis, e a superfície da Terra tem sido
analisada com grande detalhe utilizando a informação recolhida
dos satélites em órbita. Estes números são no
entanto optimistas porque a procura de energia não permanecerá
às taxas actuais; espera-se que cresça a um ritmo acelerado.
Quanto mais concentrado estiver um recurso, tanto menos energia se consome na
sua utilização; e quanto menos concentrado estiver um recurso,
tanto mais energia se consome na sua utilização. Por conseguinte,
os depósitos mais ricos de qualquer recurso são os primeiros a
serem usados, sendo a seguir explorados os depósitos crescentemente
menos concentrados, mas a um custo cada vez mais elevado. Quando um
minério de alto teor vai desaparecendo, vai sendo necessária cada
vez mais energia para minerar e refinar os minérios de baixo teor.
Quando vai desaparecendo a madeira antiga, será necessário cada
vez mais energia para fazer madeira e papel de árvores mais pequenas.
Quando os recursos piscatórios mundiais vão desaparecendo,
será necessário cada vez mais energia para encontrar e pescar o
peixe restante. E quando a camada superior da terra mundial é perdida
— a uma taxa de 75 mil milhões de toneladas por ano (Myers, 1993,
pág., 37) — será necessário cada vez mais energia
para compensar a fertilidade diminuída, da terra agrícola
remanescente.
Não é de supor que as reservas adicionais, a serem ainda
descobertas, venham a alterar significativamente esta situação.
Recentes avanços nas ciências geológicas permitiram
incrementar a fiabilidade dos diagnósticos de localização
de hidrocarbonetos fósseis, e a superfície da Terra tem sido
analisada com grande detalhe utilizando a informação recolhida
dos satélites em órbita. Estes números são no
entanto optimistas porque a procura de energia não permanecerá
às taxas actuais; espera-se que cresça a um ritmo acelerado.
Quanto mais concentrado estiver um recurso, tanto menos energia se consome na
sua utilização; e quanto menos concentrado estiver um recurso,
tanto mais energia se consome na sua utilização. Por conseguinte,
os depósitos mais ricos de qualquer recurso são os primeiros a
serem usados, sendo a seguir explorados os depósitos crescentemente
menos concentrados, mas a um custo cada vez mais elevado. Quando um
minério de alto teor vai desaparecendo, vai sendo necessária cada
vez mais energia para minerar e refinar os minérios de baixo teor.
Quando vai desaparecendo a madeira antiga, será necessário cada
vez mais energia para fazer madeira e papel de árvores mais pequenas.
Quando os recursos piscatórios mundiais vão desaparecendo,
será necessário cada vez mais energia para encontrar e pescar o
peixe restante. E quando a camada superior da terra mundial é perdida
— a uma taxa de 75 mil milhões de toneladas por ano (Myers, 1993,
pág., 37) — será necessário cada vez mais energia
para compensar a fertilidade diminuída, da terra agrícola
remanescente.
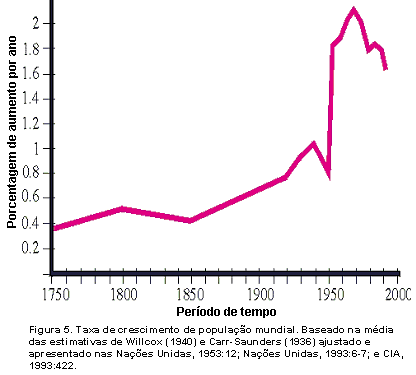 O sistema que sustenta a população mundial já está
sob stress. O crescimento per capita do consumo de energia, que tem estado a
aumentar continuamente desde o advento dos combustíveis fósseis,
começou a desacelerar há cerca de 20 anos atrás — e o
aumento crescente dessa desaceleração desde então, sugere
que não haverá nenhum crescimento por volta do ano 2000
(Figura 4). A agricultura está em dificuldade; utiliza-se cada vez mais
fertilizante para compensar a terra arável perdida (Ehrlich & Ehrlich,
1990, pág., 92), sendo que quase um quinto da população
mundial é subnutrida (Corson, 1990, pág., 68). Na realidade, a
taxa de crescimento da população humana da terra já
começou a decrescer (Figura 5).
O sistema que sustenta a população mundial já está
sob stress. O crescimento per capita do consumo de energia, que tem estado a
aumentar continuamente desde o advento dos combustíveis fósseis,
começou a desacelerar há cerca de 20 anos atrás — e o
aumento crescente dessa desaceleração desde então, sugere
que não haverá nenhum crescimento por volta do ano 2000
(Figura 4). A agricultura está em dificuldade; utiliza-se cada vez mais
fertilizante para compensar a terra arável perdida (Ehrlich & Ehrlich,
1990, pág., 92), sendo que quase um quinto da população
mundial é subnutrida (Corson, 1990, pág., 68). Na realidade, a
taxa de crescimento da população humana da terra já
começou a decrescer (Figura 5).